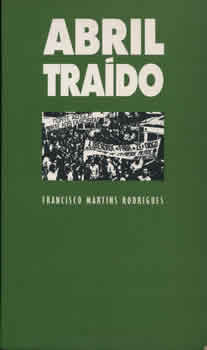
MIA > Biblioteca > Francisco Martins Rodrigues > Novidades
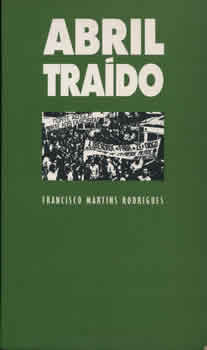 |
| Baixe o livro em pdf |
O 25 de Novembro foi, à sua maneira, tão original como o 25 de Abril. Se a «Revolução dos cravos» se distinguira por ter derrubado o fascismo sem combates e sem vítimas, o golpe militar que lhe pôs termo pareceu não querer ficar-lhe atrás em cavalheirismo. A repressão, restrita à área militar, foi relativamente branda, o Conselho da Revolução manteve-se em funções, a legalidade democrática foi prontamente restabelecida, o PCP, alvo de acusações de ter tentado uma insurreição, permaneceu no governo. Cinco meses após o golpe, o país era dotado com uma Constituição avançada, «a caminho da sociedade sem classes»... Tudo funcionou como se a uma meia revolução devesse corresponder uma meia contra-revolução, a uma comédia, outra comédia.
Esta singularidade não se explica, naturalmente, pela «índole pacífica» dos portugueses. Os povos africanos podem atestá-lo. Ela tem a ver com o equilíbrio original entre as classes criado durante a crise revolucionária, o qual deu lugar, na sugestiva expressão de Boaventura Sousa Santos, a uma dualidade de impotências em vez de uma dualidade de poderes(10). O 25 de Novembro foi brando porque a contra-revolução não tinha muita energia, mas também porque não havia muita revolução para destruir.
Durante longos meses, o movimento popular, impulsionado pela classe operária e pelo proletariado rural, e o movimento conservador da burguesia tinham-se esgotado em escaramuças incertas, incapazes de fazer pender a balança decisivamente para um dos lados. Se no auge do «Verão quente» a revolução parecia prestes a ganhar a partida, a vantagem era ilusória porque o aparelho de Estado, embora paralisado, se mantinha intacto e as massas não dispunham de forças para o assaltar.
Os três meses finais da crise, entre o pronunciamento de Tancos e o 25 de Novembro, tiveram como pano de fundo precisamente a disputa das tropas por parte da corrente popular. Mas, mesmo nessa fase clássica de desenlace de todas as crises revolucionárias, a impotência foi o traço marcante de parte a parte. Até que a burguesia, enquadrada pelo PS, PPD, CDS e ELP, e estimulada pelos americanos e alemães, reuniu forças pare pôr ponto final ao confronto.
Em que se radicava a impotência da «esquerda» no Outono de 75? Esta é talvez a questão mais importante que os marxistas portugueses têm para responder. Quanto a nós, ela nascia da divisão que dilacerava a corrente revolucionária popular. O proletariado, verdadeiro motor dos acontecimentos, estava tão estreitamente entrelaçado com a pequena burguesia democrática que não conseguia desenganchar-se da sua direcção política. Ora, os interesses de um e da outra eram nesse momento abertamente antagónicos. O proletariado precisava, para realizar os seus objectivos, de se lançar na disputa armada do poder; a pequena burguesia de «esquerda» oferecia-lhe, em nome da evolução, uma grande variedade de tácticas, que tinham todas um traço comum: manter o poder fora do seu alcance. Daqui, a impotência.
Que isto não é uma tese «dogmática» marxista mostra-o o jogo dos conflitos e alianças, nesses três meses de agonia do PREC, entre os protagonistas da esquerda: PCP, os «gonçalvistas», o grupo do Copcon, a extrema esquerda.
A queda do V Governo, primeiro dobre a finados pela revolução, pôs em relevo as diferenças tácticas entre o PCP e o «gonçalvismo», diferenças que o PS e a direita persistem em ignorar por conveniência e a esquerda «marxista-leninista» por miopia.
Era missão atribuída ao V Governo, segundo o testemunho insuspeito de um seu membro, tomar medidas económicas de emergência, as quais «implicando sacrifícios para os próprios trabalhadores, tornar-se-iam necessariamente impopulares. Só um Governo, portanto, que merecesse a confiança dos trabalhadores poderia conseguir que estes as aceitassem sem forte reacção.»(11) Tratava-se de amainar o descontentamento da burguesia à custa dos trabalhadores e, a este respeito, não havia divergências entre Vasco Gonçalves e o PCP.
O cálculo ficou porém prejudicado à partida pela brusca aparição do Documento dos Nove. A partir desse momento, começou a definir-se um desacordo, discreto, mas cada vez mais profundo, entre Vasco Gonçalves e Cunhal. O primeiro acreditava, com a sua impulsividade um pouco obtusa, poder fazer frente ao desafio de Melo Antunes e avançar com o «poder revolucionário». Mas o secretário-geral do PCP, para quem a unidade dos «militares democratas» era matéria de fé, entendeu desde logo que era preciso abandonar a trincheira.
Assim, enquanto Vasco Gonçalves obtinha do Conselho da Revolução a suspensão dos nove «rebeldes», o CC do PCP fazia votos por «recomposições, reajustamentos, ou reconsiderações que possam aumentar a eficiência governativa e alargar a base de apoio social e político do poder.»(12)
A calorosa e «inabalável» adesão do PCP ao governo durante o turbulento mês de Agosto era em parte forçada — a base proletária do partido não entenderia outra atitude — e em parte calculada — com esse apoio o partido colocava-se em melhores condições para regatear uma plataforma com os Nove.
As motivações do PCP nesta conjuntura foram expressas com franqueza só um ano mais tarde, no relatório do CC ao VIII Congresso: «O PCP repetidas vezes chamou a atenção para os perigos da formação de um tal Governo sem se resolver a situação no MFA.»
Formado este, o PCP insistiu na necessidade de uma «viragem na atitude da Esquerda militar [isto é, os «gonçalvistas»] no sentido da reaproximação e entendimento dos vários sectores do MFA, particularmente a Esquerda e os Nove».(13)
Por fim, a 28 de Agosto, perante a iminência de um desastre que V. Gonçalves se obstinava em não admitir, o PCP decide-se a desautorizá-lo, renegando a FUR e lançando uma proposta pública de negociação ao PS e aos Nove. A proposta — é ainda Cunhal que o diz — «não foi bem recebida. A Esquerda militar, preocupada então numa aproximação com os esquerdistas, achou incorrecto admitirem-se conversações com os Nove e com o PS, que os esquerdistas acusavam de fascistas».(14)
Com esta oferta de capitulação ficou traçada a sorte da Assembleia de Tancos, donde V. Gonçalves saiu dias depois, amargurado pela derrota mas sobretudo pela traição do aliado.
Como chegara Vasco Gonçalves a colocar-se à esquerda do PCP? O que há de curioso no seu pensamento político e que o separa de Cunhal é que ele levou muito a sério o mito da «transição para o socialismo» no Verão de 75. Com a cabeça esquentada por leituras revisionistas mal digeridas, o «companheiro Vasco» acreditava piamente que se a aliança Povo/MFA se mantivesse firme na sua rota conseguiria levar de vencida todas as oposições, ganhando pedagogicamente a burguesia para o seu lado.
Como expusera com patética ingenuidade no discurso de Almada, abria-se «à pequena e sectores da média burguesia» a perspectiva de «por uma via pacifica, ascenderem progressivamente à sociedade sem classes, na qual gozarão exactamente dos mesmos direitos que o resto da população.» (...) «Assim o queiram compreender.»(15) Ascender à sociedade sem classes! — não havia melhor forma de pôr os patrões, os proprietários e os quadros em pé de guerra. Cunhal não tinha esta ingenuidade. Os caminhos do PCP e da «Esquerda militar» podem ter parecido idênticos, nesse Outono febril de manifestações e proclamações. Mas correspondiam a duas tácticas em disputa: a de uma fracção pequeno-burguesa inexperiente, que pretendia impor o «socialismo militar» em confronto com todos os sectores da burguesia; e a de um corpo pequeno-burguês amadurecido em largas batalhas políticas, considerando-se a si próprio como o condutor natural da classe operária e que se dispunha a procurar uma via mais prudente.
Naturalmente, para uns e para outros o objectivo era desviar o curso dos acontecimentos dos dois desenlaces extremos que os espreitavam: fascismo ou revolução proletária. Por isso, o PCP e os «gonçalvistas» se encontraram unidos, apesar das suas divergências, na luta contra a direita e na luta contra a esquerda.
Não podia ser mais arrasador o juízo que Cunhal fez do «esquerdismo» no VIII Congresso do seu partido. «Força complementar e aliado efectivo da reacção», «procurou sempre agudizar os conflitos, provocar as forças armadas e militarizadas, a fim de que estas se voltassem contra o povo», procurou «desviar as massas dos seus objectivos e levá-las a adoptarem formas extremas de luta que conduzem a becos sem saída», «monumental provocação da UDP e outras forças esquerdistas» no assalto à embaixada de Espanha, «grande provocação diante do Patriarcado», «contribuição sinistra para o enfraquecimento político e militar do MFA», etc.(16)
Este rol de acusações desenha melhor os contornos da «Revolução Democrática e Nacional» do que todos os textos programáticos do PCP. Na perspectiva de Cunhal, não havia caminho para a frente — logo, tudo o que fosse no sentido de agudizar os conflitos era provocatório. É com este tipo de raciocínio que o progressista dos tempos de paz se transforma em capitulador e mesmo em reaccionário, nos momentos de crise revolucionária.
Em 40 anos de luta abnegada pela Democracia, Álvaro Cunhal sonhara com um grande PCP legal, representado no parlamento e no governo, respeitado pela sua força nos sindicatos, nas câmaras, na intelectualidade. Mas, no momento em que tudo isso fora alcançado, até para além das suas melhores expectativas, o mundo parecia ruir e uma agitação imprevista, poderosa e incontrolável, punha tudo em questão. Palavras de ordem inacreditáveis eram aclamadas em comícios e plenários — revolução socialista, controlo operário, soldados ao lado do povo, tribunais populares, milícias! Mário Soares era apupado como fascista, oficiais democratas eram desfeiteados, tudo era subvertido. Esta subversão parecia-lhe produto da acção malfazeja dos «esquerdistas». Recusava-se a reconhecer nela uma criação do movimento operário, subindo trabalhosamente, um a um, os degraus que o levariam ao confronto com a burguesia. Por isso, via como única política possível em Setembro-Outubro tentar a todo o preço regressar a uma fase ultrapassada do movimento, abrindo caminho entre as tendências extremas da revolução e da contra-revolução: desligar os Nove da direita, mesmo à custa de concessões, desligar os gonçalvistas dos esquerdistas e voltar a colar as duas metades em que se partira o MFA democrático.
Mas, precisamente porque era um recuo, esta posição não era fácil de defender no Outono de 75. As massas operárias deslocavam-se ao encontro das palavras de ordem «esquerdistas», que penetravam por mil canais nas fileiras do PCP. Toda a dinâmica da luta empurrava a base proletária do partido a aproximar-se da extrema-esquerda para poder dar batalha à direita. Esses «esquerdistas» que ninguém levara a sério tinham adivinhado que o MFA não era de confiança, que a burguesia democrática iria passar-se para o outro lado da barricada, que era preciso pensar em tomar o poder.
O PCP foi sacudido por uma onda «sectária», como Cunhal confessaria mais tarde: «Registou-se em certos momentos e em certos sectores um grande sectarismo e uma cedência à pressão esquerdista», «houve palavras de ordem e formas de luta que não correspondiam às condições existentes», «obreirismo», «triunfalismo», «a influência esquerdista fez-se sentir no cerco ao VI Governo pelos deficientes das Forças Armadas e pelos trabalhadores da construção civil», etc.(17)
A duplicidade de que o PCP foi acusado nesses meses, pelo facto de permanecer no VI Governo fazendo apelos à concórdia, ao mesmo tempo que «se decidira a fazer uma aliança com a extrema-esquerda» para a tomada do poder(18), tinha um sinal contrário ao que se lhe atribuía: Cunhal era forçado a lutar em duas frentes, negociando com o PS e os Nove para evitar um confronto, mas sendo suficientemente duro para não deixar os operários irem para os braços dos «esquerdistas».
Até ao último momento, a direcção do PCP continuou a jogar com o pau de dois bicos. Para não perder contacto com o movimento, teve que esbater as críticas ao «esquerdismo» e foi radicalizando as palavras de ordem: saída do PPD do governo, reforço da representação da esquerda no poder civil e militar(19) e, por último, «formação de um governo de defesa da Revolução» (manifesto do PCP a 22 de Novembro). Mas a sua estratégia permaneceu inalterada — impedir as massas de tomarem em mãos a solução do confronto (era isso que visava com o dramático «não à guerra civil») e usar as manifestações como pressão sobre o Conselho da Revolução e o Presidente da República para conseguir a «reunificação do MFA». A rua ao serviço das instituições.
Nesses dias, a corrente de esquerda dizia muitas coisas acertadas e tomava iniciativas não menos acertadas. Desagregar a hierarquia do Exército, constituir os SUV («Soldados unidos vencerão») e trazê-los à rua, manter a mobilização e vigilância das massas através de sucessivas manifestações, reunir armas, assaltar a embaixada de Espanha, manter a funcionar a Rádio Renascença, cercar o governo em S. Bento, denunciar o CR como «Conselho da contra-revolução» – tudo isto era indiscutivelmente correcto – e é preciso reafirmá-lo hoje – porque servia a acumulação de forças revolucionárias pelo proletariado. O problema com esta agitação não era ela ser «excessiva» ou «provocatória», como acusava o PCP na esteira do campo da ordem. Era precisamente o oposto — ela era insuficiente.
Para a iniciativa revolucionária das massas se tornar avassaladora, seria preciso descolar a base proletária do PCP do seu aparelho dirigente. A táctica da extrema esquerda era incapaz disso porque não se apercebia da iminência de uma ruptura interna no PCP.
Na FUR, entrelaçada com o grupo do Copcon, prevalecia uma imagem do PCP como «o partido potencialmente revolucionário», pelo facto de agrupar o grosso do movimento operário. Esperava-se que a pressão de esquerda acabasse por levar as bases a exigir da cúpula uma viragem política. Não se compreendia que um reagrupamento da classe operária em posições decididamente revolucionárias passava pela desagregação do PCP.
O outro ramo da esquerda (a corrente «marxista-leninista») fazia grande alarde do seu corte «definitivo» com o revisionismo mas era igualmente incapaz de lhe arrancar a direcção do movimento. A sua denúncia da «sede de poder dos cunhalistas, ao serviço do social-imperialismo russo» confundia-se com a crítica social-democrata. Os seus ataques indiscriminados aos militantes do PCP como «caciques» favoreciam a coesão em vez da desagregação.
Seria preciso, com propostas de acção operária comum, obrigar Cunhal a revelar o seu reformismo diante da classe; mostrar aos operários que a estabilização unitária por que Cunhal lutava era inviável e só dava trunfos à reacção; criticar o PCP, não como «social-fascista», mas como o partido reformista por excelência, que confiscava as aspirações revolucionárias dos operários e as fazia reverter, sob a bandeira do comunismo, em benefício da democracia pequeno-burguesa.
A extrema esquerda não sabia explorar o conflito latente entre proletariado e pequena burguesia nas fileiras do PCP porque receava encarar a grande batalha entre proletariado e pequena burguesia que estava em curso na «esquerda» e no país. Não via que o suporte social para as maquinações dos Nove, os atentados do ELP e as provocações intoleráveis do VI Governo era dado pela adesão massiva de uma pequena burguesia exasperada que acorria aos comícios e manifestações do PS, PPD e CDS, reclamando a restauração da ordem.
De etapa em etapa, a luta chegara ao ponto de clarificação — dum lado, o proletariado, as grandes massas assalariadas, os camponeses pobres, que precisavam de expropriar a burguesia e, para isso, desmantelar o Estado; do outro lado, a burguesia, atirando a pequena burguesia para a frente, em defesa da propriedade, da ordem e da integridade do Exército; no meio, a servir de tampão, travando lutas de retardamento, a «caldeirada» operária/pequeno-burguesa do PCP, dos «gonçalvistas», do MDP, etc.
A extrema esquerda recuava diante da agudeza desta luta de classes. A UDP navegava entre duas águas. A partir de Outubro, retomou do PCP a palavra de ordem «não à guerra civil», alegando que o essencial era ganhar tempo para recuperar o atraso da esquerda. Ora, no ponto a que chegara a luta de classes, a única forma de ganhar tempo não era com o papão desmobilizador da guerra civil mas impelindo mais audaciosamente a luta dos operários, soldados e assalariados para desorganizar e atrasar o golpe reaccionário em preparação. Com o seu capitulador «não à guerra civil», temperado com impropérios contra o PCP, a UDP só conseguiu desmobilizar os seus próprios aderentes.(20)
Os grupos da FUR, pela sua parte, viviam a vertigem insurreccionista, que era a outra face da mesma incapacidade revolucionária. O MES escondia sob a palavra de ordem de «unificar e armar o poder popular» a esperança de que os quartéis revolucionários conduzissem as comissões populares no derrubamento do VI Governo e na formação de um «governo de unidade revolucionária». O PRP ultrapassou-o com o apelo à insurreição armada, que não era mais do que o apelo ao golpe militar de esquerda.
O melhor revelador das indecisões da extrema esquerda era a sua atitude quanto à questão do partido. Sem o seu partido próprio, a vanguarda operária estava em desvantagem irremediável perante as diversas fracções da burguesia e da pequena burguesia, todas organizadas em partidos fortes. Havia que organizá-lo, em corrida contra o tempo.
Aparentemente, os grupos «m-1» estavam mais avançados do que os outros nesta questão e colocavam a «reconstrução do verdadeiro Partido Comunista» na ordem do dia. Mas que partido era esse que preparavam e que veio a surgir tarde de mais, semanas após o 25 de Novembro? Era um partido inspirado numa deturpação «popular» do marxismo, que iludia as tarefas revolucionárias do proletariado atrás de uma pretensa etapa prévia: a «revolução democrática e popular», conduzida por uma frente popular em embrião, a UDP, sob palavras de ordem de «unidade do povo». Onde era preciso um partido de tipo bolchevique, leninista, enxertava-se um partido centrista de colaboração «revolucionária» de classes. Mesmo que tivesse nascido a tempo, o PCP(R) não teria alterado o curso dos acontecimentos.
A ala semi-anarquista agrupada na FUR proclamava à boca cheia a necessidade da revolução socialista, mas opunha-se à criação do estado-maior político para essa revolução. Encarava o partido como uma ameaça às comissões de base, a que atribuía o valor miraculoso de «parcelas de poder» e de únicos representantes genuínos da vontade das massas. Não via que, na ausência do partido, a vanguarda proletária não conseguia imprimir uma linha política coerente às comissões e que estas, com toda a sua «autonomia», se tornavam joguetes de uma política precisa — a da pequena burguesia radical e do seu inevitável golpe desesperado.
A 20 de Novembro, o governo suspendeu funções, num claro convite ao Exército para assumir todo o poder. A multidão que acorreu a Belém nesse dia a exigir um governo revolucionário e gritando «ninguém arreda pé» recebeu o duche frio de mais um discurso contemporizador de Costa Gomes. O secretariado da cintura industrial de Lisboa foi o primeiro a dar ordem para voltar para casa.
Teria sido a última oportunidade para tomar decisões que bloqueassem o golpe de direita: proclamar a greve geral, constituir uma direcção de luta, colocar as empresas sob o controlo das CTs. Mas o PCP nem queria ouvir falar em desafios desses e a esquerda não tinha forças para o fazer.
E, naturalmente, a batalha que se escamoteou no terreno político de massas foi transferida em caricatura para a conspiração de quartel. Os oficiais do Copcon e da FUR, aliados de ocasião dos «gonçalvistas» e do sector militar do PCP(21), decidiram-se a travar o «combate decisivo» à sua maneira.
«Chegou o momento do avanço decisivo para o socialismo», proclamava a 21 o manifesto dos oficiais do Copcon. «O poder dos trabalhadores tem que ser armado». O objectivo era ganhar o apoio popular para um pronunciamento que impedisse a destituição de Otelo e demitisse os chefes de direita da Força Aérea. A insubordinação dos paraquedistas e o miniputsch esquerdista foram o triste desenlace a que se reduziu o grande movimento revolucionário de 74/75, o maior da história moderna portuguesa. Os operários que no dia 25 de Novembro se agruparam junto dos quartéis pedindo armas já se sabiam derrotados. Os chefes do PCP mandaram-nos para casa, com «confiança no futuro». O golpe militar da social-democracia, longamente amadurecido, ia inaugurar uma nova era de estabilidade. Cunhal acolheu-se como refém submisso à protecção de Melo Antunes. Tudo acabara em bem: nem fascismo nem revolução.
(Artigos publicados na revista Política Operária de Setembro/Outubro e Novembro/Dezembro 1985)
★ ★ ★
Porquê essa vossa ideia fixa de pôr defeitos no 25 de Abril, insistir em que não foi uma revolução, etc.? Vocês acabam por fazer causa comum com os reaccionários, que não suportam o ataque aos seus privilégios pelo 25 de Abril.
— A questão é essa: será que a ordem antiga foi realmente destruída ou apenas eclipsada temporariamente para «obras de beneficiação»? Pode falar-se em «destruição da ordem fascista» quando meio século de ditadura e cinco séculos de império colonial (dois recordes mundiais!) se desmoronam ao mesmo tempo e os seus chefes, ministros, agentes, capangas, não sofreram uma arranhadela? O 24 de Abril foi uma revolução ou um passe de ilusionismo?
Vocês lamentam então que não tenha havido uma revolução sangrenta? Preferiam que tivesse havido em Portugal os mesmos horrores que nos outros países?
— A violência e os horrores são sempre aqueles que os reaccionários impõem quando são desapossados. Não está na nossa mão impedi-los. Uma coisa é certa: se fizermos economia de sacrifícios num momento propício à revolução, iremos encontrá-los mais adiante de novo, e talvez agravados.
Significa isso que vocês acreditam que a luta violenta que nos foi poupada no 25 de Abril surgirá inevitavelmente no futuro?
— Sem dúvida.
De qualquer maneira, se ao povo tivesse faltado o apoio do MFA talvez ainda hoje perdurasse a ditadura.
— Talvez, ou talvez não. O que importa é que o MFA, adiantando-se a tomar conta da situação explosiva criada pela derrota iminente nas guerras coloniais, oferecendo-nos numa bandeja aquilo que só nós podíamos resolver, privou-nos ao mesmo tempo da revolução que era preciso fazer. Salvou-nos mas estendeu uma ponte por onde hoje avançam tranquilamente os tubarões do antigamente e os seus filhos e netos. E estamos ainda mais impotentes para os deter do que há 20 anos porque agora apresentam-se legitimados pela «democracia».
Mas pode-se ignorar a envergadura revolucionária do colossal movimento de massas que ocupou empresas, terras e casas, saneou fascistas, invadiu as ruas?
— Foi de facto um movimento colossal pela dimensão mas infantil no que toca ao discernimento da luta de classes. A sua envergadura revolucionária foi tão modesta que nunca provocou a ruptura do poder, ou sequer uma ruptura antagónica no interior do MFA. Por isso mesmo é glorificado nos meios reformistas: não pelas suas potencialidades revolucionárias mas pela sua moderação bem comportada.
Então vocês vão alhear-se das comemorações deste 15.º aniversário da libertação?
— De maneira nenhuma, até porque o fascismo, fomos nós também que o derrubámos com a luta na clandestinidade. Mas vamos às manifestações oficiais para alertar os trabalhadores contra a hipocrisia dos democratas que seguraram o poder em 75 para o entregar intacto à burguesia e agora tomam pose de vítimas e mártires da revolução; da revolução que não houve porque eles a sabotaram.
Seja como for, deveriam ter alguma gratidão pelos capitães de Abril que vos deram a possibilidade de defender livremente as vossas opiniões.
— Não se trata da nossa gratidão pessoal; trata-se da luta da classe operária para se emancipar da opressão da classe capitalista. E essa luta foi mistificada. Para nós, a lição do 25 de Abril só será dada como aprendida quando os operários sentirem vergonha por terem batido palmas à aliança Povo-MFA, cantado «A Portuguesa» e saudado a bandeira nacional. Em 74/75 os operários deviam estar a lutar contra a grande burguesia, arredando do caminho a pequena burguesia «democrática» que se metia de permeio para evitar o ajuste de contas.
Isso não será da vossa parte uma exibição gratuita de radicalismo que não conduz a nada?
— Pelo contrário. O nosso movimento operário sufoca no ambiente bafiento que lhe dão a respirar há mais de 50 anos o PCP, os democratas, os socialistas... — o reformismo pequeno-burguês em todas as suas variantes. Nós vamos dizer as vezes que for preciso que o celebrado «exemplo português» foi um espantoso exemplo de imaturidade e atraso político do movimento operário, que não consegue desenganchar-se da tutela «democrática» burguesa e por isso continua a ser carne de canhão para o capital. O 25 de Abril só será positivo se ficar como lição para nunca mais voltarmos a cair em fados de lágrimas e cravos.
(Política Operária, Março/Abril 1989)
★ ★ ★
Primeiro, foi a inflação do anti-salazarismo. Nesses breves dias abrilistas, todos faziam questão em execrar o ditador, os seus ministros, os seus capangas. Da noite para o dia, a lista dos resistentes antifascistas tomou proporções assombrosas. Descobria-se que o país em peso lutara sem desfalecimentos, ao longo de meio século, contra a ditadura. Só os ingénuos constatavam com vergonha ter sido os únicos a não enfileirar no combate épico de todo um povo.
Era da praxe chorar Catarina e José Dias Coelho. Espertalhões que tinham sabido governar a vidinha faziam-se passar por ex-perseguidos políticos e relatavam modestamente missões arriscadíssimas e nebulosas. Todos tinham tido um primo ou um amigo nas prisões. A concorrência era tal que o PS teve que recrutar à pressa todos os velhos anarquistas disponíveis, para compor a sua coroa de martírio.
O PCP estava em boa posição para desmascarar esta reles comédia. Durante 50 anos, ele fora «o partido», a única força capaz de se organizar na clandestinidade e conduzir, melhor ou pior, movimentos de massa contra a ditadura. Não lhe seria difícil fazer a verdadeira história do fascismo e do antifascismo e documentá-la de forma esmagadora. Poderia mostrar que o movimento antifascista não fora uma brilhante sucessão de acções espectaculares mas uma interminável, cinzenta, obstinada resistência de algumas centenas de militantes (por vezes apenas de dezenas!), entrecortadas por fugazes euforias de massas. Poderia pôr a ridículo o mito de uma oposição «socialista» que nunca fora além das conspirações de café, revelar a face balofa de «resistentes» como Mário Soares, Alegre ou Almeida Santos, pulverizar a colagem tardia à democracia dos Sá Carneiro e outros fascistóides, provar a colaboração dos bispos com a PIDE, falar das relações amistosas entre o patronato e o regime.
Só que o PCP não se atrevia a pôr a hipocrisia a nu. Nem lhe convinha. Havia longos anos que se constituíra prisioneiro da democracia burguesa, a quem hipotecara o seu futuro. Tinha portanto que fingir acreditar nos feitos da oposição democrática. Desacreditá-la seria desacreditar toda a sua estratégia.
Além disso, esperava poder colher dessa mentira o seu pequeno lucro: tudo o que se dissesse para engrandecer a resistência ao fascismo projectaria maior prestígio sobre o próprio partido que fora a alma indiscutível dessa resistência. E mais: fechando os olhos à falsificação dos atestados antifascistas dos seus parceiros, esperava conservá-los como reféns, atrelados à sua «Unidade», e levá-los de rastos a caminho do seu «socialismo».
Limitou-se assim a valorizar os seus milhares de anos de prisão, os seus mortos e as suas fugas das cadeias, o que, parecendo muito objectivo, foi uma forma de não fazer a história do fascismo.
O negócio durou enquanto durou. À medida que a balança de forças foi tombando para o lado da contra-revolução, que o povo se aquietou e que os fracos ventos abrilistas foram dando lugar à bafienta atmosfera da «normalização democrática», a burguesia começou a olhar para o antigo regime com outros olhos, a frio, já sem os complexos iniciais.
Podia-se condenar todo um sistema de manutenção da ordem, ainda que se lhe apontassem alguns «excessos»? Não podia. E os pides foram mandados para casa por falta de provas; aos juízes do Plenário, aos mafiosos do antigamente, aos filhos dos fascistas, por fim aos próprios fascistas, foram dados cargos dignos para que ninguém pensasse que havia qualquer indecorosa discriminação; a Constituição, as leis e a prática diária foram depuradas das excrescências populistas e retomaram a «normalidade», isto é, a força coerciva sem a qual a extracção da mais-valia não funciona.
Aí por 1980, começou a descobrir-se que afinal não tinha importância nenhuma ter ou não participado em actos de resistência à ditadura. Passados uns anos já se estava a fazer uma nova descoberta: é que precisamente os servidores do antigo regime eram pessoas de confiança, ao passo que os antigos opositores activos eram na maioria gente marginal.
Ou seja: quanto menos precisavam da caução antifascista do PCP, menos paciência tinham os homens do poder para conviver com ele. Hoje parece-lhes um mau sonho que tivessem em 74 acamaradado com Álvaro Cunhal e enxovalhado Franco Nogueira ou Antunes Varela.
★
É justo que aqueles que foram elevados ao poder graças ao sacrifício dos membros do Partido Comunista agora o desprezem? Dentro do universo mítico sonhado por Cunhal, desse universo moral composto por fascistas e antifascistas, não é justo, evidentemente. Mas no mundo real, no mundo da burguesia e do proletariado, as coisas têm outra lógica: a burguesia precisou temporariamente dos préstimos dos «comunistas» para segurar os operários numa curva difícil e ajudar a estabelecer uma nova relação com as ex-colónias; tolerou-os como iguais, ouviu-lhes os discursos, consentiu-lhes uma certa margem de manobra. Agora, porém, uma vez cumprida a tarefa, volta a pô-los no seu lugar-e para esta burguesia provinciana e tradicionalista o lugar dos capatazes continua a ser na cozinha.
Cunhal pode sentir-se amargurado por esta injustiça histórica. Mas o tratamento que o PCP recebe corresponde ao lugar que ocupa na sociedade — não aquele que diz ocupar mas o que efectivamente ocupa e que voluntariamente escolheu: o partido encarregado de manter a classe operária nos limites do sistema contando-lhe histórias sobre o socialismo.
★
A mais divertida destas cambalhotas foi talvez a dos investigadores que começaram a ter sérias dúvidas «científicas» sobre a propriedade de se falar em fascismo português, uma vez que o salazarismo se afastava em muitos pontos do modelo hitleriano. Impacientes com os exageros e com os mitos obrigatórios da propaganda abrilista oficial, começaram a dizer que o salazarismo não fora propriamente o inferno. Salazar tivera os seus lados positivos como economista, apoiara-se sempre mais na Inglaterra do que na Alemanha, mantivera Portugal fora da guerra com arte consumada, fora duma honestidade incorruptível. Por outro lado, a oposição à ditadura nunca fora o furacão popular que se sugerira, o número de vítimas fora afinal reduzido, a PIDE não podia ser comparada à Gestapo.
Hoje vê-se bem que estes escrúpulos «científicos» eram guiados por um seguro instinto de classe. A burguesia precisava de se libertar da chantagem moral que o PCP sobre ela exercia e elaborar a sua própria crítica do salazarismo, feita à sua medida. Em lugar das histórias sobre os clandestinos, as torturas da PIDE e a miséria dos operários e camponeses, apareceram estudos imparciais sobre a economia, a política e a diplomacia do Estado Novo, crónicas dos amores de Salazar, episódios cómicos sobre as absurdidades da censura.
Daí a pouco, a massa dos antifascistas tinha mordido o isco e fazia gala em falar da ditadura como uma saloiada risível e da resistência como uma descontraída prova desportiva. Não tardou a chegar-se à conclusão de que o salazarismo fora apenas um regime autoritário com tintas liberais. Os que teimavam em falar em fascismo eram movidos pela «paixão partidária».
O que se tem estado a fazer nesta matéria é apenas traduzir para português escolas americanas que desde o fim da guerra se exercitaram em criar uma base teórica para justificar a recuperação dos fascistas. À nossa escala, é uma cópia daqueles «revisionistas» alemães, que dão como não provada a existência dos campos de extermínio do nazismo.
Assim, viemos das maldições ao “tenebroso regime fascista» até à nostalgia dos «bons tempos» arcaicos e tranquilos; da moda dos resistentes antifascistas, à admiração pela inteireza moral dos fascistas que não se arrependeram. E, por fim, chegámos à reabilitação de Salazar. Era inevitável. A burguesia já não suportava mais barreiras morais. Precisava de fazer justiça ao seu velho líder.
★
A burguesia estava saturada de Salazar, da sua estagnante teia burocrática corporativa, da sua vigilância maníaca sobre todas as formas de expressão. Mas era uma aversão superficial. No pensamento burguês actual, essa aversão dá lugar a uma cada vez mais profunda admiração. E não há que estranhar.
Podem nem todos dizê-lo, mas foi com Salazar e só com ele que se tornou realidade o sonho secreto desta burguesia anémica — a estabilidade do poder, a segurança da propriedade, a capacidade de manter a gentinha em respeito. Isso diz tudo da nostalgia com que hoje é encarado por uma boa parte da velha geração burguesa.
E se é verdade que o burguês médio de hoje reconhece as vantagens práticas do regime democrático e as limitações que acarretava o salazarismo, ele também sente que a democracia só é hoje possível devido ao meio século de austeras proibições impostas por Salazar. Foi assim que se amealhou o capital donde tudo partiu.
Um reaccionário assumido como o prof. António José Saraiva reconhece a Salazar a «limpidez e concisão do estilo», a «força magnética» dos discursos. E é verdade. Havia em Salazar profundidade de pensamento político porque ele exprimia de forma concentrada um projecto para a burguesia nacional. Salazar gostava de dar nos seus discursos lições de política porque tinha a paixão de educar, unificar, dar confiança a uma burguesia atrasada e insegura.
É certo que esses discursos são uma amálgama de reaccionarismo fradesco-fascista, mas quem disse que não era essa precisamente a ideologia mais adequada à burguesia nacional da época?
E foi justamente por ser o guia e mestre da burguesia que Salazar sobreviveu quase 50 anos no poder, só pontualmente tendo de recorrer a uma repressão maciça. A repressão desatou-se com ferocidade sobre os povos das colónias — e aí também o ditador foi a expressão fiel dos sentimentos dominantes da burguesia portuguesa.
Esta verdade cruel, ninguém a podia admitir na oposição. Todos, os democratas e o PCP, precisavam de alimentar o mito de uma aspiração democrática universal, que na realidade correspondia a uma pequeníssima fracção da burguesia da época. Porque os burgueses precisavam em esmagadora maioria daquilo mesmo, da ditadura, dos grémios e sindicatos nacionais; e os operários e camponeses precisavam da revolução e dum outro regime, embora não fossem capazes de o exprimir e se vissem obrigados a engolir as mistelas republicanas que lhes davam a beber.
Numa palavra: a tendência moderna para fazer a psicanálise de Salazar deriva da necessidade da burguesia ocultar a relação social de forças em que assentava o seu regime. Durante muitos anos, Salazar foi pintado como um demónio dotado de poderes quase sobrenaturais porque assim a burguesia podia assacar-lhe apenas a ele a sua própria dinâmica fascista, como classe. Hoje, diz-se que Salazar instaurou uma ditabranda (em vez de uma ditadura) e que injectou uma espécie de letargia no pais para se explicar a aceitação que o seu regime teve por parte da maioria da burguesia.
★
Todo o sistema de poder tende a retardar sobre as relações de classe que dinamiza. O salazarismo, com a sua rigidez de couraça, tinha fatalmente que se retardar mais do que qualquer outro. Na crise de 58, quando foi contestado por milhões, na esteira de Delgado e do bispo do Porto, o salazarismo revelou-se como obsoleto e iniciou a agonia. Não era só uma questão ideológica: grandes capitalistas modernos começavam a ver mais inconvenientes do que vantagens no sistema da União Nacional/PIDE/Censura e a tomar as suas distâncias em relação a ele. Já se sentiam capazes de iniciar outros voos fora da asa paterna.
Se não fosse a eclosão das revoltas coloniais em 61 talvez a ditadura tivesse caído mais cedo, ao contrário do que se diz. Mas perante a guerra em África, a burguesia, que não é aventureira, entendeu que todo o regime burguês entrava num perigoso período de prova e que se exigia «unidade nacional» acima de tudo. Adiou portanto a questão da remodelação do regime e dedicou-se com tanto entusiasmo aos negócios da guerra que deixou chegar tudo à beira do abismo.
Recaiu sobre a pequena burguesia «progressista» o encargo de organizar uma alternativa de regime para lá da fatal derrota militar nas colónias. Era um encargo muito para além das suas capacidades e de que se saiu com o atarantamento que se conhece, mas no fim de contas com sucesso. É o que alguns românticos ainda hoje chamam a «revolução de Abril», a «hipótese democrático-revolucionária de passagem ao socialismo» e outros nomes épicos. Como se o espectáculo a que se assiste presentemente não fosse a melhor prova de que não existiu revolução nenhuma! Quando uma revolução de verdade varre uma sociedade, poderá a seguir triunfar a contra-revolução, mas o que não pode nunca mais é voltar-se ao tipo de relações sociais de antigamente.
O sistema burguês em Portugal teve que levar uma sacudidela para se actualizar e aguentar a amputação do império colonial. Mas a relação básica entre uma burguesia débil, insegura, propensa à tirania, e um proletariado ainda não desperto para a luta pelo poder persiste.
★
Porque a questão é esta: uma vez que a ditadura assentava numa decisão férrea de manter a força de trabalho barata sem olhar a meios, a sua duração anormal e a amplitude controlada da repressão significam que a resistência do movimento operário foi limitada, dispersa, frouxa. Se os operários e o seu partido tivessem sabido criar meios de acção eficazes para substituir a liberdade de organização que lhes tinha sido roubada, o fascismo teria sido obrigado a pagar um preço mais alto por tudo aquilo que roubou ao movimento operário, ter-se-ia desgastado mais depressa, a burguesia teria sido forçada muito mais cedo a descartar-se da ditadura.
Esta discussão tem sido sempre bloqueada pelo PCP, em nome do Tarrafal, dos mortos, dos anos de prisão. Quem tem autoridade moral para criticar que não se tenha feito mais? Mas não se trata de apoucar os sacrifícios e o heroísmo de milhares de militantes comunistas; trata-se de dar o balanço a uma linha política. E esse balanço mostra que o PCP, orientado pelo 7.º Congresso da IC, não podia ser o foco revolucionário capaz de concentrar as lutas de resistência num feixe insurreccional.
O diagnóstico está feito. A ideia abstrusa de que o fascismo fora «um passo atrás» e de que o objectivo da luta era repor a legalidade democrático-burguesa conduzia à preocupação obsessiva de não espantar a burguesia liberal e a pequena burguesia; e esta preocupação eliminava à partida qualquer hipótese de radicalização revolucionária da luta operária e camponesa. Tão simples como isto.
E aqui chegamos de novo à identidade do salazarismo como forma portuguesa do fascismo europeu. Quando as escolas burguesas multiplicam sapientemente as características definidoras do fascismo, elas procuram evacuar a sua base social: a burguesia que se via ameaçada pela revolução proletária vitoriosa na Rússia e estrangulada pela crise económica, tinha que pôr de lado toda a margem de consenso, concentrar-se, entrincheirar-se, negar todas as concessões anteriores ao movimento operário, preparar-se para a guerra com as burguesias rivais. Foi o fascismo.
Salazar disse-o sempre com a mesma clareza do que Hitler ou Mussolini. É certo que usava uma linguagem diferente da deles, mas como não havia de o fazer se exprimia os interesses duma outra burguesia, com outra história, outras particularidades? Será assim tão estranho que haja tantos fascismos quantos os países?
Usando o chicote do fascismo, a burguesia europeia ensinou os comunistas a porem de lado os sonhos revolucionários dos primeiros anos e a darem-se por muito felizes com as liberdades democrático-burguesas. A «política nova» de Dimitrov significou que a lição tinha sido aprendida e que os comunistas estavam dispostos a converter-se em ponta de lança da restauração democrático-burguesa. Álvaro Cunhal foi, entre nós, o que de forma mais espontânea e calorosa deu corpo a esta domesticação dos comunistas. A derrocada a que hoje assistimos começou há 50 anos.
★
Mas subsiste uma outra questão: poderia Cunhal arregimentar a classe operária como força de choque da burguesia liberal no duelo contra o salazarismo se a própria classe operária não estivesse vocacionada para essa tarefa? Ou dito de outro modo: se existisse uma autêntica necessidade revolucionária nos operários, assalariados rurais e camponeses pobres dos nossos anos 30, não se teria ela exprimido em tendências radicais entrando em choque com a via da unidade democrática do PCP?
Aqui, os álibis a que ainda hoje se agarram os libertários, deitando as culpas para os «métodos totalitários» dos comunistas, não explicam nada. A verdade é que a combatividade operária dos anos da República, por muito positiva que tenha sido, não tinha ainda verdadeiro arcaboiço anticapitalista (que se mede não apenas pela capacidade de lutar contra a exploração, mas na capacidade de lutar pelo poder), não tinha maturidade política, ideológica, organizativa, para abordar a tarefa do derrubamento da burguesia. Era uma luta de resistência, corporativa em muitos aspectos, contra o avanço da ordem capitalista.
O proletariado não trazia qualquer preparação política para responder à escalada fascista. Exceptuando o breve interlúdio de 1930-34, em que o partido comunista pareceu por um momento querer orientar-se para uma etapa superior de preparação da luta pelo derrube da burguesia, os operários conformaram-se a lutar pela restauração da democracia dos capitalistas. Dois ou três passos à retaguarda, que marcam toda a existência da classe operária no último meio século e que se reflectiram na timidez das audácias proletárias de 74-75, com os resultados que se conhecem.
Talvez uma melhor compreensão do caso de Salazar ajude o movimento a sarar esta ferida e a ganhar confiança em si próprio para pensar no futuro — na luta operária internacional pelo comunismo.
(Política Operária, Maio/Junho 1989)
★ ★ ★
A visita esteve quase para não se fazer, mas Mário Soares levou a sua avante. Lá esteve no cemitério de Bissau a prestar homenagem aos soldados portugueses mortos em combate; e, sempre desembaraçado, ainda se pôs a esclarecer os guineenses que timidamente se manifestavam contra.
A coisa, de facto, mete-se pelos olhos dentro; só mesmo pretos é que não percebem: porque não há-de o chefe da nação agressora homenagear os seus soldados mortos quando visita a nação agredida?
Além do mais, explicou Soares, os soldados portugueses foram tanto vítimas da guerra colonial como os guineenses. O que quer dizer, obviamente: não temos nada que esmiuçar quem é que estava na sua terra e quem estava em terra alheia, quem é que torturava e quem era queimado com napalm, a que campo pertenciam as mulheres, crianças e velhos massacrados. Não nos moam mais os ouvidos com os crimes do colonialismo.
O arroto alarve do Presidente da República, na hora em que a Guiné, de chapéu na mão, pede empréstimos e investimentos, é uma forma de lembrar brutalmente aos devedores que Portugal, como comissionista do capital europeu, não está ali para fazer caridade, mas para ganhar o seu. «Não pensem pôr-nos na defensiva com a história do colonialismo. Vão ter que pagar empréstimos e juros até ao último tostão». É o que por aí se chama pomposamente a cooperação — esse «projecto nacional que tem o apoio de todos os partidos e a que ninguém se opõe», como sublinhou Mário Soares.
Se alguém não tivesse percebido o que quis dizer Soares com a afirmação de que «Portugal assume a sua história na integralidade», decerto ficou esclarecido pela reacção entusiástica do marechal Spínola. «Temos que acabar com os baixos complexos políticos do período revolucionário», grasnou o avejão sinistro, porque «não temos nada de que nos envergonhar». De facto, tem razão: porque se deveria ele envergonhar de ter mandado matar Amílcar Cabral?
(Política Operária, Novembro/Dezembro 1989)
★ ★ ★
A passagem do 15.° aniversário do 11 de Março deu lugar a um espectáculo que só não chocou ninguém porque já faz parte dos hábitos políticos nacionais: a gente de direita, que durante todo este tempo tinha protestado indignada que não houvera nessa data nenhuma tentativa de golpe e que fora tudo uma montagem ou um exagero dos comunistas para assaltarem o poder, veio agora confirmar, com tranquila insolência e até vangloriando-se, todos os pormenores da conspiração, o papel de Spínola, os planos de guerra civil, a intervenção dos serviços secretos estrangeiros — tudo! Tudo aquilo que a esquerda tinha proclamado em vão durante anos e anos é agora posto a nu, com a maior desfaçatez, pelos visados.
É possível que esta tardia reposição da verdade encha de orgulho melancólico Cunhal, Otelo ou Vasco Gonçalves: finalmente, a História terá que reconhecer que foram democratas fiéis ao povo e vítimas das calúnias da reacção. Só que essa desforra moral não adianta nada ao nosso destino colectivo, traçado para longos anos naquele episódio; por isso mesmo a burguesia já não se dá ao trabalho de esconder a verdade.
A História incomodar-se-á pouco a saber no futuro se em 75 Cunhal foi mais honesto do que Spínola. O que a História perguntará (está já perguntando) é: o que fez no 11 de Março a esquerda?
Aproveitou o passo em falso da direita, a vacilação, incompetência e cobardia de que os conspiradores deram provas, para lhes aplicar um golpe demolidor? Ou, pelo contrário, a esquerda teve medo de derrotar a direita?
A pergunta pode parecer mal intencionada. Existe até hoje a opinião generalizada de que a esquerda militar, o PCP e as franjas «esquerdistas» tiraram amplo partido do fiasco direitista do 11 de Março, avançando de maneira fulminante com as nacionalizações, as Assembleias do MFA, a Reforma Agrária, o «poder popular» – o extremismo gonçalvista. Mas esta ideia só se mantém devido à tacanhez reformista com que a luta de classes ainda hoje é vista entre nós.
Se as forças que conduziam o processo quisessem ripostar ao golpe taco-a-taco teriam metido os golpistas na prisão, desarticulado as suas organizações, desmascarado as cumplicidades de Mário Soares e Sá Carneiro, mandado retirar o embaixador Carlucci, armado as comissões de trabalhadores — numa palavra, teriam aprofundado a revolução em actos e não apenas em decretos ou discursos.
Seria um desafio arriscado, pois que dúvida? Mas todo o jogo que se estava jogando desde a queda do fascismo era arriscado e só tinha hipóteses de vitória se avançasse audaciosamente de etapa em etapa. E, a seguir ao 11 de Março, havia condições para um salto em frente com o apoio dos trabalhadores.
Ora, não foi nada disso que se fez. Tomaram-se contra os conspiradores apenas as medidas estritamente obrigatórias para aquietar o povo. E manteve-se, com lisura cavalheiresca, o calendário eleitoral que fora acordado, quando todos os indícios mostravam que a esquerda correria um risco mortal em submeter-se a eleições quando o controlo do poder não estava definido e a direita, longamente enraizada em meio século de fascismo, se entrincheirava nos novos partidos «democráticos» para voltar ao contra-ataque.
Só por debilidade mental (ou não seria por manhoso cálculo capitulacionista?) podiam os chefes oficiais da esquerda considerar-se obrigados a «cumprir a palavra» e submeter-se ao escrutínio popular, apenas mês e meio após a tentativa golpista. Uma esquerda digna desse nome, disposta a conduzir os trabalhadores a uma vitória real, teria assumido o adiamento das eleições como o seu direito indiscutível até ter levado a cabo as transformações económicas e sociais urgentes para decidir a batalha.
Mas os nossos mentecaptos líderes «revolucionários» acharam mais nobre jogar os destinos do movimento popular nessa eleição. Se esperavam que o povo reconhecido votasse massivamente no PCP, no MDP ou no MES, tiveram um desgosto. A grande maioria inclinou-se para os partidos «moderados» e mesmo para os «defensores da ordem», ou seja, os pontas de lança legais da contra-revolução. Mas que outra coisa seria de esperar quando a pequena burguesia vivia no receio pela segurança da propriedade e quando a frouxidão da esquerda não permitia a formação dum pólo revolucionário decidido?
Com a previsível vitória eleitoral do PS e do PSD em 25 de Abril de 75 agravou-se em vez de se clarificar o quadro da luta de classes. A situação entrou em derrapagem à direita, oculta durante alguns meses pelas leis radicais, pelas manifestações para meter medo e pelos discursos inflamados, mas só para cobrir uma impotência irremediável. De facto, a direita jogava com a força moral que resultava da vitória eleitoral e exigia o direito a formar governo. A posição dos «esquerdistas» tornou-se insustentável: com que autoridade se mantinham como detentores do poder, se tinham feito as eleições e reconhecido os seus resultados? E é claro que um número crescente de oficiais do MFA achava esta lógica irrespondível.
Assim, depois de Vasco Gonçalves ter esgrimido com as suas leis «revolucionárias», destinadas, na sua débil cabeça, a funcionar como uma «muralha de aço» contra a reacção, teve que se retirar, apeado vergonhosamente pela intimação dos seus camaradas oficiais no pronunciamento de Tancos, e abandonado por Cunhal, esse estratego das batalhas adiadas. O que veio depois até ao 25 de Novembro não foi mais do que o epílogo desta triste comédia «revolucionária».
(Política Operária, Março/Abril 1990)
★ ★ ★
De ano para ano, à medida que o grande medo do «anarco-populismo» vai ficando mais longínquo e que a burguesia se reconforta com a ideia de que a sua lei é eterna, as celebrações do 25 de Abril vão ficando mais cinzentas, a participação popular mais amorfa, os discursos dos políticos mais bafientos.
Agora, que tudo voltou à «normalidade», vende-se em doses industriais a versão oficial do 25 de Abril. A saber: o restabelecimento das liberdades, objectivo do movimento militar, chegou a estar ameaçado pela «tentação totalitária marxista», mas a democracia acabou por triunfar sobre as «miragens da falsa propaganda», graças à corajosa acção das forças democráticas e do sector são das Forças Armadas.
É uma história inventada de ponta a ponta pelos vencedores do 25 de Novembro, que vão desfigurando ou censurando ano após ano os factos que não convêm à sua legitimação. E que factos são esses?
O golpe dos cravos foi detonado, não pelo amor à Democracia, mas pela iminência duma derrota na Guiné e no norte de Moçambique e pela constatação de que a ditadura de Caetano/Tomás era incapaz de achar uma saída airosa para a guerra colonial. Enquanto não se chegou à beira da derrota não houve sobressaltos de consciência dos oficiais. Não há razão para entrarmos em transe com a «dádiva dos capitães». A verdade é que a conspiração militar, tendo como padrinho o nazi-fascista general Spínola, foi um fraco coroamento para meio século de luta operária e popular antifascista.
A ala progressista do MFA procurou o apoio da única oposição que funcionava (PCP, MDP), na esperança de que a moderação dessas forças e a confiança que nelas tinham os trabalhadores e a juventude permitissem fazer a saída da ditadura sem cair no abismo da revolução. Os trabalhadores verificam hoje que não têm que se felicitar pelo «humanismo» dos cravos: atrás dessa fachada simpática fez-se uma transição negociada do poder que frustrou a exigência central do povo — o desmantelamento total do Estado fascista.
Os partidos hoje chamados «democráticos», que tinham brilhado pela ausência durante meio século de ditadura, só se constituíram às vésperas ou já depois do 25 de Abril, com um único objectivo: assegurar a transmissão da herança do poder burguês, não o deixando «cair na rua». A esmagadora maioria dos democratas que hoje falam contra a PIDE e a censura limitaram-se durante o fascismo a esperar a sua vez com uma prudência calculista porque os seus interesses profundos de classe não eram ameaçados; foi preciso os trabalhadores agitarem-se para eles despertarem para a obrigação cívica de «defender a liberdade contra o totalitarismo».
As acusações frequentemente dirigidas ao PCP e a Álvaro Cunhal de «tentativa de tomada do poder» são uma injustiça histórica. Não é a burguesia que tem que se queixar do PCP, são os operários. A direcção do PCP trabalhou arduamente pela passagem do fascismo à democracia burguesa (a que chamou a «revolução democrática e nacional») porque sempre receou a revolução como uma «aventura». Desde o primeiro dia, o PCP preocupou-se em pôr o movimento popular sob a asa do MFA, ou seja, amarrar os trabalhadores e os soldados aos oficiais para não caírem em tentações revolucionárias. As concessões do PCP ao radicalismo operário e popular entre a Primavera e o Outono de 75 não foram além do estritamente necessário para conservar o movimento sob a sua influência e trazê-lo de recuo em recuo até à situação actual.
As nacionalizações e intervenções estatais nas empresas não se integraram em nenhuma estratégia revolucionária ou socialista; elas foram a única solução de recurso do Estado para atalhar as ocupações e o controlo operário que começavam a alastrar e faziam debandar os capitalistas em pânico. Dando uma aparência de satisfação às aspirações socialistas dos operários, as nacionalizações mantiveram-nos amarrados ao trabalho assalariado, até ser possível conter a vaga popular, passar à contra-ofensiva, «demonstrar» que não resultavam e devolver as empresas aos capitalistas. O Estado «socialista» não passou do fiel depositário da propriedade burguesa durante a crise.
Não houve nenhum «terror populista»; a esquerda não tem que se desculpar de «excessos» que não existiram, as queixas da burguesia a esse respeito são pura chantagem para pôr os trabalhadores na defensiva. Aquilo que a burguesia hoje condena como «excessos» foi o facto de as decisões poderem ser tomadas em plenários e não nos gabinetes. O mal foi a timidez das tentativas de expropriação e de controlo sobre a burguesia, que paralisaram por momentos mas nunca tiveram força para fazer saltar pelos ares o aparelho de Estado e os aparelhos ideológicos da burguesia.
A acusação de que as conquistas populares teriam provocado o «caos económico» serve para esconder a sabotagem do patronato, o boicote das potências imperialistas e a cumplicidade de muitos dos governantes da época. Com a teoria de que o «socialismo levou o país à beira do colapso», a burguesia legitimou a ofensiva contra as regalias conquistadas pelos operários e o restabelecimento da ditadura absoluta do Capital. A história de que no período revolucionário os operários ganhavam demais, não trabalhavam, etc., reflecte o rancor dos chefes e engenheiros, que não perdoam o facto de nesse tempo só ganharem o dobro dos operários.
A expropriação dos latifúndios e a reforma agrária, o controlo operário nas empresas e o saneamento dos fascistas e vampiros, as comissões de soldados, as ocupações de casas, as comissões de moradores, os comités de vigilância popular, deram a marca revolucionária ao 25 de Abril, levando-o para além da mera liberalização das instituições pretendida pela burguesia oposicionista. Faltou-lhes porém serem articulados num projecto revolucionário de conquista do poder. A crença ingénua nas capacidades do espontaneismo local descentralizado, perante uma burguesia que espreitava a oportunidade do contra-ataque, perdeu o movimento operário.
O «restabelecimento da legalidade» em 25 de Novembro foi fruto de uma conspiração golpista combinada entre o PS, Eanes e a ala spinolista do Exército, financiada por grupos burgueses e apadrinhada pelos embaixadores dos Estados Unidos e da Alemanha Federal. Essa conspiração, que a burguesia hoje finge ignorar, está exaustivamente documentada: distribuição de armas a grupos de assalto, campanhas de intoxicação, provocações ao movimento popular, preparação activa da guerra civil — nada faltou nos planos dos «libertadores», que só não resultaram num banho de sangue devido à incapacidade de resistência do movimento popular, desagregado por falta de direcção revolucionária. O golpe de direita — tal foi o parto do actual regime, dito de «legalidade» e de «concórdia nacional».
A «descoberta» feita por Mário Soares de que o 25 de Abril ensinou o amor pela democracia aos povos do Leste europeu, além duma bravata ridícula, destina-se a rebaixar o 25 de Abril a uma mera liberalização burguesa. Ele escamoteia que, enquanto em 75 os burgueses fugiam de Portugal e a esquadra americana rondava a nossa costa, hoje na Europa de Leste os burgueses regressam e George Bush é aclamado. Assim, depois de ter derrotado o movimento popular de 74/75, Mário Soares pretende agora apagá-lo da memória dos trabalhadores. Ele sabe porquê: foi a questão do poder que esteve em jogo.
Em conclusão: a burguesia está a tirar a lição das suas fraquezas no 25 de Abril, para que não se repitam. E o movimento operário, quando fará o mesmo?
(Política Operária, Maio/Junho 1990)
★ ★ ★
O fascista Soares Carneiro, reconduzido em chefe do Estado Maior das Forças Armadas por especial favor do democrata Mário Soares, nem sequer se deu ao trabalho de ler a mensagem da praxe às tropas; tratou o 25 de Abril abaixo de cão. Quanto ao dito Soares, achou a data bem escolhida para ir exaltar na Assembleia da República o «regresso a África». E o ambiente de fecunda concórdia nacional aqueceu tanto nas bancadas que se pôde evocar Sá Carneiro como um dos deputados falecidos que «dedicaram as suas vidas à conquista da liberdade» sem que ninguém tivesse coragem para protestar.
A social-democracia está eufórica porque, com a apagada tristeza dos trabalhadores e a entrada em eclipse do PCP, pode agora verdadeiramente tomar posse do 25 de Abril como data sua. E explica-nos que as coisas, afinal, não se passaram como pensávamos. Em colóquios, artigos e palestras, recordam-se esses meses épicos em que os «democratas» caminhavam à beira do abismo, com os «radicais ululantes» à solta nas ruas. O inimigo da liberdade, ficamos agora a sabê-lo, era o povo. «Andávamos descalços sobre o fogo», resumiu eloquentemente um desses intrépidos lutadores da Democracia. E Soares, triunfante (até nem faltou um jornalista soviético a pedir-lhe desculpa por há 15 anos o ter descrito como reaccionário...), não resistiu a vangloriar-se: «Em Portugal foram os mencheviques que venceram os leninistas».
Não é bem verdade porque no nosso Verão quente não houve leninistas (se os houvesse, outro galo cantaria...), mas quer ele dizer na sua que a social-democracia conseguiu laçar o povo que fugira ao controlo e trazê-lo de novo conformado para debaixo da canga. E aí tem razão.
Mas, com a euforia, veio ao de cima a cómica mania lusitana das grandezas. E o Presidente cobriu-se de ridículo ao exaltar as repercussões universais desse 25 de Abril menchevique, feito contra os trabalhadores e contra a revolução, e que teria inspirado movimentos liberais pelo mundo fora, da Espanha, às Filipinas, da Namíbia ao Chile e à Europa de Leste. Segundo parece, Portugal libertou o planeta.
Assim, cinco séculos depois dos Gamas terem dado «novos mundos ao mundo», a epopeia da burguesia portuguesa que desafiou o mar encapelado da fúria popular e ensinou ao mundo a «transição democrática sem risco» volta a ecoar nos cinco continentes!
Com macacadas destas, ainda há quem se admire de os jovens não quererem saber do 25 de Abril?
(Política Operária, Maio/Junho 1990)
★ ★ ★
Entrevistado pela revista Sábado (10 de Agosto), o retirado general Vasco Gonçalves, ainda hoje acusado de «ter tentado instalar o comunismo em Portugal», não pediu desculpa pelo passado, valha-nos isso. Voltou a defender a sua política no «Verão quente» de 1975, disse que tinha sido o tempo mais feliz da sua vida e fustigou o reaccionarismo reles do actual regime democrático-tachista.
Até aqui, tudo bem. Só que o «extremismo» de Vasco Gonçalves continua igual a si próprio – é um reformismo piegas que só nesta terra de lorpas poderia fazer figura de papão da burguesia. Mostrando não ter aproveitado os anos para meditar nas lições da vida, o general ainda hoje acha que as suas reformas nos poderiam ter conduzido pacificamente ao socialismo; está convencido de que o sector empresarial do Estado só falhou por nunca ter sido devidamente estruturado; e não consegue formular melhores votos para a política nacional do que repisar o apelo já rançoso à «convergência das forças democráticas». Em matéria de política internacional, defende intrepidamente que a perestroika é um passo em frente do socialismo...
Mas o mais típico do pensamento gonçalvista são os seus engulhos anti-esquerdistas. Ele recusa-se a falar sobre o golpe de direita que o derrubou porque não quer «lavar roupa suja», mas não tem dúvida em falar contra o «esquerdismo». Os esquerdistas, explica, eram no melhor dos casos ingénuos exaltados que, «por falta de preparação política», julgavam possível «obter tudo dum dia para o outro» e com a «desordem» criada pelas ocupações selvagens deram argumentos à reacção.
Isto é dum analfabetismo político confrangedor. O general Gonçalves ainda não percebeu que, se não fossem as greves e manifestações anticoloniais «esquerdistas» de Junho de 74, nunca Spínola o teria convidado para formar governo; se não tivessem começado as ocupações e saneamentos «selvagens» nas empresas nunca teria sido possível a lei das nacionalizações; e que a brilhante ideia de assinar a lei da Reforma Agrária só lhe surgiu na cabeça no Verão de 75 porque desde uns meses atrás estavam a dar-se ocupações descontroladas de terras...
Com a miopia típica do reformista, deita as culpas da derrota para cima do movimento que ele próprio ajudou a sufocar. Não percebe que o papel do chamado «esquerdismo» foi exprimir a insatisfação muito real dos trabalhadores. E que o papel dos seus governos revolucionarissimos foi desgastar, ganhar tempo, absorvera. energia popular para impedir o assalto ao poder pelas massas. E, como sempre acontece nestes casos, uma vez cumprida a missão, foi posto na rua pela direita a pontapé. De que se queixa?
(Política Operária, Setembro/Outubro 1990)
★ ★ ★
Causou celeuma a pensão concedida a dois inspectores da PIDE, por «altos e assinalados serviços prestados à Pátria», em revoltante contraste com o ostracismo em que morreu Salgueiro Maia.
A seguir à provocação, porém, veio a água na fervura, como é típico desta terra: o Supremo Tribunal Militar argumentou que apenas deferiu os pedidos dos interessados, de acordo com a lei; seria descabido negar-lhes o louvor, só porque a guerra foi, mais tarde, considerada injusta; o governo limitou-se a instruir rotineiramente os processos; o inspector Bernardo assegurou que nunca dirigiu propriamente o Tarrafal e que nunca tocou nem com um dedo nos prisioneiros; o inspector Óscar Cardoso, mais desinibido, reconheceu que efectivamente matou «muitos terroristas» e que às vezes mandava dar um «calor» aos prisioneiros, mas só quando eles mereciam. E, em atenção dos distraídos, esclareceu que a PIDE «não era uma instituição de beneficência»...
A coisa é tão reles que faz vómitos. Claro. Mas haverá assim tanto motivo para surpresas? Não é este apenas mais um episódio no longo retorno rastejante da direita? Como bem observou Varela Gomes no Público de 16 de Maio, desde que em 1987 o general Soares Carneiro entrou para o Supremo Tribunal Militar, não mais parou a corrida às pensões vitalícias e às medalhas; a gente do antigamente, generais torcionários, juízes do Plenário fascista, polícias assassinos, passaram a agraciar-se mutuamente como heróis da Pátria. Algum dia tinha que chegar a vez dos pides...
Mas se a gangrena alastrou com o PSD em maioria absoluta a verdade é que ela vinha bem de trás; vinha da censura que, desde o dia 25 de Abril até hoje, silenciou o papel criminoso do exército nas guerras coloniais.
Pois refere-se a cada passo no currículo patriótico dos militares o «cumprimento do dever no Ultramar» e quer-se manter excepção só para os pides? A guerra não era a mesma? Spínola é marechal e está cheio de medalhas por ter feito o que fez e não querem que os executantes da sua política se afoitem a pedir pensões e louvores? Se ainda há quinze dias todos pudemos ver na televisão o marechal de «esquerda» Costa Gomes falar com desenvoltura da sua acção como comandante-chefe do exército fascista em Angola e gabar-se com um sorriso matreiro de ter ajudado a UNITA a combater a guerrilha do MPLA, com que lógica nos opomos à distinção concedida ao pide Cardoso que, sob as ordens de Costa Gomes, levou a cabo essa missão e constituiu os sinistros «flechas»?
★
É por isso que soa a postiço a indignação dos Sousa Tavares e os seus inflamados abaixo-assinados de desagravo. Não sabiam estes campeões da democracia, desde o 25 de Novembro, que estavam a promover a direita, por medo da esquerda? Insultam diariamente o movimento popular de 75 e ainda têm o descaramento de bradar em defesa do espírito democrático? Repescaram todo o lixo fascista, generais e coronéis, professores, directores-gerais e secretários de Estado, e agora agoniam-se quando chega a hora da verdade — a hora das condecorações aos torturadores?
(Política Operária, Maio/Junho 1992)
★ ★ ★
Se há, na vida política deste país, um fenómeno tão repugnante como o cavaquismo, ele é sem dúvida a recuperação de imagem a que o PS vem procedendo, a pretexto do 20.º aniversário da sua fundação. O romance que foi vendido para a imprensa sobre a convenção de Abril de 73, nos arredores de Bona, é simplesmente indigno. Como se costuma dizer nos filmes, «qualquer semelhança com factos reais é pura coincidência». Não houve nenhuns «delegados da organização no interior» pela simples razão de que não havia organização nenhuma. Só a impudente desfaçatez de Mário Soares pode pretender que a ASP teria por essa altura «dois a três mil militantes» (!). A crua verdade é que se os «resistentes» não tivessem sido empurrados pelo SPD alemão ainda não haveria partido socialista no 25 de Abril.
Há sempre quem ache feio entrar nestas disputas porque «afinal fomos todos perseguidos pela ditadura». Mas o que fica feio é falsificar-se impunemente a história. E a história é esta: quando o fascismo subiu ao poder, comunistas e anarquistas foram parar às cadeias e ao Tarrafal; os socialistas arranjaram lugares na organização corporativa. Daí até ao 25 de Abril, ninguém mais ouviu falar em socialismo em Portugal. Por detrás das sucessivas tabuletas, «Directório», «Resistência Republicana e Socialista», ASP, não esteve nunca uma organização clandestina de luta, mas conclaves de notáveis que aproveitavam os períodos «eleitorais» para fazer pose de chefes da oposição e aconselhar ao povo que desse exemplo de «espírito ordeiro». De resto, o mesmo Soares, na longuíssima entrevista que deu ao Diário de Notícias, não o esconde: o essencial era «um corte estratégico com os comunistas, de forma a termos uma estratégia autónoma que, no plano internacional, pudesse ser aceite pelo mundo ocidental». Tratava-se, acrescenta com tranquilo cinismo, de «trazê-los à trela». Ou seja, aproveitar-se da luta dos comunistas sem lhes permitir influenciar a política oposicionista.
Os outros lutavam e davam o coiro; os socialistas esperavam. Tão pacatamente que até mereceram um convite de Marcelo Caetano a integrarem as listas da União Nacional. A sua única e verdadeira palavra de ordem era manter-se na reserva, para estar prontos a governar e evitar que o poder «caísse na rua» em caso de queda da ditadura.
Como se viu no 25 de Abril. Esses «resistentes» que durante meio século não foram capazes de se constituir em partido para a luta contra o fascismo, mal a ditadura caiu, não precisaram nem de dois meses para se organizar para a luta contra o perigo revolucionário. Não tinham jeito para a vida nas prisões, mas não se saíram mal na «dura clandestinidade», ao lado de Spínola, de Carlucci e do ELP.
Que admira que tenham saído chamuscados disto tudo? Numa crónica recente, Manuel Vilaverde Cabral lamentava que «o PS continua a pagar um duplo preço: primeiro, pela sua participação involuntária na revolução estatista; depois, pelo seu papel no desmantelamento da mesma revolução». Bem dito! O drama do PS foi ter que passar da oposição em lume brando de 73, para os comícios «revolucionários» de 74, para a «resistência antitotalitária» de 75, e para os governos antipopulares em 76. Três cambalhotas em três anos, não há partido que não se ressinta duma ginástica destas!
Agora que o povo está a ver como dói a «competência» do PSD, os socialistas acham que é chegada a sua hora. Falam grosso em nome dos desprotegidos e da defesa das liberdades, como se nada tivesse acontecido. Estão prontos a sacrificar-se de novo no governo. Não será altura de pensarmos numa outra oposição ao PSD e ao PS?
(Política Operária, Maio/Junho 1993)
★ ★ ★
«O esquerdismo facilitou a contra-revoluçâo», repetiu há dias, pela centésima vez, Carlos Brito, numa assembleia do PCP consagrada ao 25 de Abril. É bom que continuem com a cantilena, que equivale a uma confissão. Na verdade, a campanha contra os malefícios do «esquerdismo» contém muito mais do que a busca dum bode expiatório, ou a tacanha arrogância de quem se julga dono do movimento e não tolera o desrespeito pelas suas «directivas»; ela resume a linha política real do PCP melhor do que todos os quilómetros de resoluções do comité central.
O caso é que o PCP ainda não conseguiu, e provavelmente nunca conseguirá, digerir este facto, assombroso e desnorteante à luz do seu «marxismo»: a vaga popular espontânea que galgou os limites da democratização fixados pela Junta de Salvação Nacional e modificou anarquicamente todas as regras do jogo.
Apenas uma semana após o 25 de Abril, Cunhal e os seus amigos descobriam com apreensão e alguma amargura que os trabalhadores, manifestando-lhes reconhecimento pelo seu passado de resistência ao fascismo, não se contentavam com a liberdade outorgada e davam ouvidos às mais estranhas ideias. Os factos políticos começaram a ser criados na rua e nos plenários, ao sabor de agitadores de ocasião – desde o saneamento de administradores à ocupação de casas, à proposta de igualização dos salários ou à exigência de independência imediata para as colónias. Comissões ad hoc, eleitas em assembleia e com uma composição imprevisível, assumiram a direcção dos acontecimentos.
E, facto alarmante para o PC, as iniciativas vanguardistas, provenientes de pequenas minorias, popularizavam-se prontamente e em breve se tornavam corrente dominante, sem ter em conta os ritmos previstos e deitando por terra os equilíbrios laboriosamente negociados ao nível do governo ou da Junta. O PC encontrou-se assim na situação desconfortável de ter que pedir às massas que se comportassem ordeiramente para não comprometer a sua credibilidade perante os parceiros do governo. Como não foi obedecido, criou a psicose das «provocações esquerdistas», que transviavam o bom-senso dos trabalhadores.
Ora, os «esquerdistas», pulverizados em grupos e grupinhos (maoistas, anarquistas, anarco-sindicalistas, anarco-comunistas, guevaristas, leninistas...), numericamente insignificantes, sem experiência política, só deviam a sua inesperada influência ao facto de irem ao encontro do estado de espírito da vanguarda. E foi assim ao longo de todo o primeiro ano, até às eleições para a Constituinte, como mostram numerosos episódios entretanto apagados e hoje esquecidos de quase todos.
Quem se lembra de que, pouco mais de um mês após o 25 de Abril, José Magro, dirigente do PC, foi expulso dos CTT por acusar a greve (que nós apoiávamos) de pretender «fomentar um clima de descontentamento e de revolta que só à reacção e ao fascismo aproveitam»? Ou de que a primeira resposta da Intersindical às greves que proliferavam como cogumelos foi considerá-las «inoportunas» e «encorajadas pela reacção», enquanto Cunhal admoestava que «a greve generalizada pode levar ao caos»? Ou de que o slogan «nem mais um só soldado para as colónias», lançado pelos maoístas, foi adoptado pelo povo nas manifestações, apesar da desaprovação do PC?
Nesse Verão, enquanto os «esquerdistas» ajudavam febrilmente os moradores das barracas a ocupar casas, faziam piquetes à porta da Penitenciária para não deixar soltar os pides, exigiam a libertação dos primeiros presos políticos da democracia, activavam as primeiras ocupações, o PC afadigava-se a cuidar dos sindicatos e do MDP, a prevista «frente popular» que acabou como refúgio de democratas moderados, ou enredava-se nas tricas do Conselho de Estado e do Governo Provisório, sem perceber que a corrente popular derivara para outros canais.
Com os operários das multinacionais (Timex, ITT, Applied, etc.) a lutar contra a sabotagem económica, o Avante deitava água na fervura, assegurando que «o investimento estrangeiro tem ainda vastas possibilidades de uma vantajosa e larga retribuição». A greve da TAP, que formulou reivindicações avançadas, foi difamada em comunicados do PCP. Em Setembro, quando os operários da Lisnave puseram Lisboa em estado de choque, desfilando a exigir o saneamento dos administradores comprometidos com o fascismo, andava o PC a ver se apaziguava Spínola com uma manifestação de homenagem... O «partido de vanguarda» dava conselhos de prudência que não eram escutados, anunciava «conquistas» que o movimento já tinha deixado para trás, e, a cada passo, via com desgosto os seus militantes deixarem-se envolver pelos «esquerdistas».
O perigo de contágio tornou-se evidente na euforia do 28 de Setembro, que pôs lado a lado militantes «comunistas» e «esquerdistas», nas barragens contra a «maioria silenciosa» e no assalto às sedes dos grupos fascistas. Alarmados com esta confraternização, os chefes do PC passaram a ter que manobrar em todas as frentes: dentro do governo e do MFA, com a rua, junto da sua própria base... num esforço esgotante de «desdobramentos tácticos». Para criar uma atmosfera de confiança no Governo, Cunhal assinou a lei anti-greve (que acabou por não ser aplicada devido ao repúdio dos trabalhadores); apelou à oferta dum dia de trabalho «para a Nação»; aconselhou os monopólios a «tirar uns tostões dos seus próprios bolsos para satisfazer as justas reivindicações dos trabalhadores»; condenou as primeiras ocupações de herdades no Alentejo, apoiadas pelos «esquerdistas».
Ao entrar o ano de 75, quando a pressão do PS e PPD já provocava sinais de clivagem no seio do MFA, o PC endureceu a batalha anti-esquerdista. O cerco ao congresso do CDS no Porto, levado a cabo pelos «esquerdistas» com largo apoio popular, uma das acções que mais fizeram progredir a consciência política dos trabalhadores do Norte, foi condenado como «acto desordeiro». No 7 de Fevereiro, com milhares de operários a protestar na rua contra a entrada no Tejo da esquadra da NATO, Octávio Pato veio para a televisão comparar a manifestação à da «maioria silenciosa» e pedir um acolhimento amistoso aos marinheiros americanos! Às vésperas do 11 de Março estava Joaquim Gomes no Pavilhão dos Desportos a dizer aos oficiais da PSP e da GNR «confiamos em vocês e esperamos que confiem em nós». No decurso do golpe, enquanto os «esquerdistas» acorriam ao Ralis e saqueavam a casa de Spínola, o PC ordenava aos seus militantes a máxima contenção, para não agravar as desinteligências entre os militares. Em 19 de Maio, para mostrar à GNR que não havia que temer radicalismos, Miguel Urbano Rodrigues sentou-se ao lado deles numa homenagem a Catarina Eufémia, em Baleizão!
Se o 25 de Abril foi algo mais do que uma vulgar liberalização, isso deveu-se à irrupção popular incontrolável desses primeiros meses. O PCP opôs-se-lhe, por ver nessas iniciativas uma ameaça à «consolidação da democracia»: ou porque poderiam dividir o MFA, ou hostilizar as classes médias, ou cair numa provocação imperialista... Para os líderes do PC, o «desenvolvimento do processo revolucionário» consistia num trabalho exaustivo de atracção dos sectores moderados, de neutralização de adversários, de hábeis manobras de cúpula. Cultivavam uma imagem de «vanguarda responsável» que sabe para onde vai e obtém avanços sem necessidade de desordens, o que agradava à massa moderadamente «progressista» mas à custa dum corte crescente com a vanguarda do movimento. Assim, num período de agitação revolucionária, em que tudo dependia do protagonismo da vanguarda com o resto a vir por arrasto, o PC distanciou-se dela e hostilizou-a. É isto que permite apontá-lo como o responsável pela derrota do campo popular face à direita.
Os seis meses seguintes, geralmente apresentados como o «auge da revolução», foram na realidade a sua agonia tumultuosa. Tudo fora jogado e perdido no primeiro ano. Se até aí o movimento fizera uma avançada fulgurante, isso devera-se à cobertura das unidades militares afectas à esquerda. Nunca tivera que defrontar uma oposição séria; as duas tentativas da direita foram tão ineptas que ainda favoreceram mais a radicalização do processo. Por isso, quando, com as eleições, a burguesia e a vasta massa popular sob sua influência afirmaram, com a votação maioritária no PS e no PPD, o anseio de pôr termo à «bagunça», a esquerda ficou desamparada. Se o povo não queria a revolução, podiam os revolucionários impô-la?
Na realidade, a convocação precipitada de eleições, antes de estarem cumpridas as tarefas primárias de liquidação da ditadura — prisão e julgamento dos fascistas, criminosos de guerra e reaccionários; reconhecimento da independência das colónias: expropriação do grande capital; reforma agrária – foi uma cedência do MFA à pressão imperialista e uma oportunidade graciosamente oferecida à burguesia para restaurar a ordem. Fortalecida com a autoridade do voto popular, a burguesia retomou a iniciativa e lançou-se na acumulação de forças para a contra-revolução.
Nesta nova etapa, revelou-se toda a fragilidade da extrema esquerda, que alimentara não poucas ilusões no guarda-chuva militar e não se preparara de forma alguma para o momento inevitável da luta pelo poder. As suas ruidosas acções de força que se multiplicaram durante o «Verão quente» (República, Renascença, manifestação pelo Copcon...) chocavam-se contra o muro da conspiração contra-revolucionária que avançava passo a passo. Com uma parte dos grupos maoístas negociando a fusão num partido único no pior momento; com outra parte (AOC e MRPP) a fazer causa comum com o PS e com os Nove, ou seja, efectivamente ao serviço da reacção; com outros ainda (PRP, MES) embrenhados em conspirações de quartel e na disputa de caudilhos militares, com os anarquistas exibindo a sua soberana indiferença pelas necessidades reais do movimento – a extrema esquerda não foi capaz de reganhar a iniciativa, apesar da justeza de acções pontuais como o assalto à embaixada de Espanha, a defesa das sedes no Porto, ou o lançamento, tarde demais, de uma organização independente de soldados.
Do lado do PC, todavia, o problema não era de fragilidade ou de imaturidade mas de busca calculista de uma saída airosa da balbúrdia que lhe garantisse uma posição estável na futura democracia. Vendo a sua cotação como pára-raios popular baixar vertiginosamente à medida que a burguesia readquiria confiança em si própria, escorraçado do governo pela assembleia de Tancos, com as sedes queimadas pelos fascistas, empurrado para diante pela onda de ocupações de terras no Alentejo e Ribatejo, nem por isso o PC se aproximou dos «esquerdistas», embora uma parte dos militantes o desejasse. A táctica seguida visou essencialmente conduzir os trabalhadores às boasà resignação face ao «restabelecimento da ordem» e negociar um entendimento qualquer com os militares golpistas. As «grandes jornadas de massas» de Agosto, o cerco à Assembleia, etc., serviram à direcção do PC apenas para regatear as condições desse acordo.
A nossa resposta à acusação de que «o esquerdismo facilitou a contra-revolução» pode resumir-se assim:
Apontando o dedo acusador ao «esquerdismo», os chefes do PC revelam pois involuntariamente a sua postura intermédia, reformista – isto é, burguesa –, hostil às potencialidades revolucionárias do movimento.
O ingénuo general Vasco Gonçalves deixou-o escapar uma vez mais na assembleia referida no início deste artigo: «Os soldados, generosos e inexperientes, queriam dum dia para o outro o céu e a terra e nós não tínhamos quadros preparados dentro do Exército para combater o esquerdismo». Podem felicitar-se por ter ganho a batalha.
(Política Operária, Março/Abril 1994, sob o título «Anti-história»)
★ ★ ★
Por doloroso que seja para os cultores do «novo Portugal de Abril», o estado de espírito geral vai hoje no sentido de reatar laços com o passado e esquecer a irrupção «populista» de há duas décadas. Após vinte anos dum unanimismo obrigatório na condenação do antigo regime, é hoje palpável o desejo duma reavaliação do Estado Novo.
O festival do pide Cardoso na SIC, por ocasião do 25 de Abril, não foi caso isolado. Antigos ministros, bombistas do PREC, milionários-mártires, tiveram direito a lugar de honra na televisão e na imprensa, por vezes escutados como oráculos, para darem parecer sobre os males da «revolução»; e o marechal Costa Gomes, cuja maior ambição é não morrer com fama de «filocomunista» (!), veio mais uma vez sustentar impávido a «utilidade» da PIDE em África pelo seu «trabalho» de investigação ao serviço das nossas tropas.
Mais cedo ou mais tarde, um pide seria autorizado a explicar as suas razões porque já muita gente estava predisposta a escutá-las. Coube à SIC e ao dr. Rangel o duvidoso mérito de ser os primeiros a «romper com os tabus».
«Romper com os tabus abrilistas» é hoje um impulso que lateja na cabeça de muito boa gente, não necessariamente de direita mas sensível aos argumentos desta. «Não haverá alguma verdade nas acusações de que a descolonização abandonou os portugueses que lá estavam e sacrificou os nossos interesses nacionais?» «Para quê traçar um antagonismo absoluto entre o antes e o pós 25 de Abril, quando se sabe que já Marcelo Caetano buscava uma via liberalizadora?» «Quando Salazar previa que a retirada dos portugueses daria lugar a terríveis massacres entre africanos, não era mais lúcido do que os democratas?» «Em vez de lançar impropérios contra a PIDE, porque não reconhecer que esta era afinal uma vulgar polícia política, criada e regulamentada por decreto?» «Chamar “fascista” ao regime de Salazar não será um conceito ideológico, sem rigor histórico?»
O democrata médio dos anos 90 está de pé atrás contra o «simplismo» de condenar os salazaristas como inimigos do povo. Nem gosta desse termo pejorativo de «salazarista». Mais ainda: não embarca em condenações obrigatórias do próprio ditador. Por causa desse «maniqueísmo», deixou-se arrastar no passado para atitudes de que hoje se arrepende. «Não me venham com a chantagem da resistência, das prisões e dos sofrimentos do povo! Não queiram obrigar-me a escolher campo, em nome dos vossos imperativos morais! A realidade tem muitas tonalidades e nem tudo se pode reduzir a branco e negro».
Sob um ar desapaixonado e objectivo, é a reabilitação do antigo regime que vai abrindo caminho. Não há que estranhar. Afinal, não era este o passo que faltava depois de partidos, governos, tribunais, imprensa, intelectualidade, terem chegado a acordo quanto ao carácter insuportavelmente caótico e irresponsável do movimento popular de 74-75? Levantada a represa, o rio da revisão histórica já pode correr livremente.
Ainda mais nesta época de eufórica corrida capitalista para novos «desafios», quando o terreno aparece, pela primeira vez, desde há um século, limpo da oposição da corrente operária e socialista, que se agrupara em torno do marxismo. Entrado na maioridade, finalmente livre de coacções, o burguês pode agora olhar o mundo pelos seus olhos e sorrir envergonhado da sua ingenuidade juvenil de há trinta anos, quando apelava ao «nosso bom povo» para se rebelar contra a «ditadura colonial-fascista». Hoje, com um novo pragmatismo, conclui que nem o povo era tão digno de confiança como julgava, nem o regime era afinal tão odioso.
Perdem o seu tempo os que se escandalizam com este reencontro com o passado. É bem sabido que, em matéria de liberdades e conquistas sociais, a burguesia só aprende as lições da rua. E esquece-as depressa, se não lhe refrescarmos a memória. É a luta operária que está a faltar, não a pedagogia democrática.
(Política Operária, Setembro/Outubro 1994)
★ ★ ★
A «revolução dos cravos», olhada a vinte anos de distância, surge como um acto nítido de saneamento no interesse da burguesia. De facto, com o fascismo gasto e manifestamente incapaz de sair da ratoeira das guerras coloniais, a passagem à democracia era a condição para o crescimento e modernização do capitalismo.
Seguindo o esquema clássico deste tipo de movimentos, a transição de um regime para o outro desdobrou-se em duas fases complementares: primeiro, a tropa apoiou-se no povo contra o fascismo, na esquerda contra a direita; a seguir, aliou-se à direita contra a esquerda. Desta sábia combinação resultou a Democracia. Por isso Mário Soares ou Eanes nunca se esquecem de associar nas suas homenagens à «jornada libertadora» do 25 de Abril a «consolidação democrática» do 25 de Novembro.
Só que a anemia crónica da burguesia nacional fez com que o intervalo entre os dois golpes militares fosse demasiado longo, agitado e confuso. Daí o chamado «caso português», ainda hoje estudado em universidades como um exemplo raro de paralisia e cobardia burguesas. A vaga popular pacífica vitoriava o MFA mas galgava todas as barreiras, tornava pouco a pouco o país irreconhecível, cercava a burguesia que fugia em pânico, impotente para atalhar a desordem. Os saneamentos, as ocupações de terras e casas, a autogestão de empresas, a liberdade de greve, a conquista das ruas, a desautorização das polícias, o poder dos plenários, o regresso forçado das tropas das colónias, o começo da dissolução da disciplina militar, foram as experiências mais avançadas de democracia proletária vistas neste país. Sob o aparente esquecimento actual, estão inscritas na memória colectiva da burguesia como na do proletariado. Ressurgirão forçosamente amanhã, numa nova situação de crise de poder.
Porquê então as «conquistas de Abril» se revelaram tão frágeis ao embate do novembrismo? Esta questão, que ainda hoje amargura muitas consciências, esquece que o movimento popular não tinha a envergadura, nem a estratégia, nem a táctica de uma autêntica revolução anticapitalista; internou-se espontaneamente pelo vazio de poder mas sem fazer ideia de até onde podia chegar, o que só por si indica que a revolução socialista não estava na ordem do dia.
Pior: era um movimento enfraquecido por tendências contraditórias. Trazia no bojo o germe da derrota. De facto, o êxito fácil demais do 25 de Novembro não engana. Durante o ano e meio de «bagunça», o PCP, a ala esquerda do MFA e alguns dos grupos ditos de «esquerda revolucionária» mantiveram contacto com o movimento popular, saudaram-no, aclamaram-no, mas para tentar doseá-lo a conta-gotas. O seu objectivo instintivo era manter a direita na defensiva mas sem a golpear seriamente. Talvez pressentissem que ela ainda lhes seria necessária para ajudar a conter o «caos»...
Por outras palavras: houve durante o PREC uma oposição de interesses permanente no campo «revolucionário», entre o proletariado, motor cego dos acontecimentos, e a pequena burguesia de «esquerda», sua condutora política. Foi esse conflito que abriu espaço para o 25 de Novembro. Quando a democracia peque- no-burguesa, de que o PCP é entre nós o principal representante, lamenta a perda da «revolução», ela omite que fez tudo para malograr as conquistas populares, pois assim o exigia o seu projecto dum poder «democrático, nacional e popular», equidistante da reacção e da «rua», nas balizas imaginárias sonhadas pelo 25 de Abril.
(Política Operária, Setembro/Outubro 1995)
★ ★ ★
A novidade não surpreende mas não deixa de ser digna de registo. Nas vésperas do golpe militar de 25 de Novembro de 1975, Álvaro Cunhal encontrou-se secretamente com Melo Antunes, um dos cérebros da operação, e com ele acertou uma «plataforma de entendimento» sobre o futuro do regime. Vem na Vida Mundial de Dezembro, com todos os detalhes.
Assim é confirmado publicamente, passados 23 anos, aquilo que a esquerda revolucionária sempre afirmou: a contenção dos militares golpistas, e nomeadamente de Melo Antunes, em relação ao PCP indicava alguma espécie de acordo prévio entre as duas forças, conluiadas contra o movimento popular. Aquilo que aos ingénuos pareceu uma prova de «moderação» dos eanistas foi na realidade fruto de um compromisso inconfessável.
Os chefes do «partido operário» ansiavam por ver-se livres da erupção de esquerdismo, geradora de tensões e incertezas e que os forçava a constantes contorções. Só podiam receber com alívio um golpe controlado, que expulsasse da cena as exigências populares e lhes garantisse um lugar ao sol numa nova normalidade institucional burguesa. Comprometeram-se pois a não fazer oposição ao golpe e a cingir-se aos limites estritos da nova ordem. Comprometeram-se e cumpriram.
«Estávamos em divergência em quase tudo mas com um enorme respeito», comenta Melo Antunes. Sem dúvida. O respeito entre diferentes facções burguesas, unidas no mesmo horror à ameaça da revolução.
(Política Operária, Novembro/Dezembro 1998)
Notas de rodapé:
(10) Boaventura Sousa Santos, ibid., p. 21. (retornar ao texto)
(11) J. Teixeira Ribeiro, introdução aos Discursos, conferências, entrevistas de Vasco Gonçalves. Ed. Seara Nova, 1976. p. 10. (retornar ao texto)
(12) Documentos políticos do CC do PCP, 3 o vol, Ed. Avante, 1976. p. 71. (retornar ao texto)
(13) Álvaro Cunhal, A Revolução portuguesa — o passado e o futuro, Ed. Avante, 1976, p. 165. (retornar ao texto)
(14) id., p. 161. (retornar ao texto)
(15) Vasco Gonçalves, ob. cit., p. 367. (retornar ao texto)
(16) Álvaro Cunhal, ob. cit., pp. 171-176. (retornar ao texto)
(17) Álvaro Cunhal, ob. cit., pp. 168 e 383-384. Ver também Documentos políticos do CC do PCP, 3° vol, pp. 302-303. (retornar ao texto)
(18) Melo Antunes, em entrevista ao Nouvel Observateur, 24 de Novembro de 1975. (retornar ao texto)
(19) Entrevista de A. Cunhal ao Diário Popular, 6/11/75. (retornar ao texto)
(20) «A aventura de Cunhal e de todos os reaccionários e fascistas – dizia a UDP em comunicado, uma semana antes do golpe – pode ser impedida pela união de todo o povo, do Norte e do Sul, contra a guerra civil». (retornar ao texto)
(21) O responsável militar do PCP em 1975, Jaime Serra, viria a sofrer severa crítica por ter dado «luz verde» ao apoio aos paraquedistas. (retornar ao texto)