
MIA > Biblioteca > Georg Lukács > Novidades
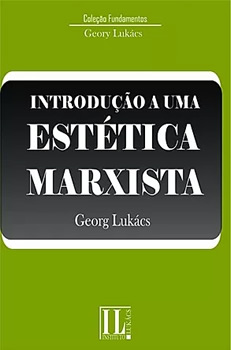
A análise do particular que constitui o ponto central organizador do processo da criação estética, ainda que em suas consequências ultrapasse os quadros do exame gnosiológico, revela-nos porém, ao mesmo tempo, os traços específicos essenciais do reflexo estético da realidade. A estrutura da obra de arte e a peculiaridade do comportamento estético que resultam deste reflexo formam, naturalmente, o objeto de posteriores e mais concretas investigações estéticas, que também, em grande parte, não podem se limitar ao exame dialético-materialista, exigindo o recurso aos instrumentos do materialismo histórico. Todavia, mesmo no nível até agora alcançado pela nossa investigação sobre a essência específica do reflexo estético, revelam-se algumas conexões fundamentais que devemos caracterizar, pelo menos sumariamente, em seus traços mais gerais, observando preliminarmente que não apenas nos limitaremos ao mais geral, como também que só poderemos tratar destas questões em relação ao nosso específico problema da particularidade, da diferença entre reflexo científico e reflexo artístico da realidade.
O primeiro problema que aqui se coloca é o da peculiaridade da forma artística. Se bem que, desde Hegel, seja claro que forma e conteúdo se convertem incessantemente um no outro;(1) se bem que o materialismo dialético e histórico — indo além de Hegel — estabeleça firmemente a prioridade do conteúdo, mesmo reconhecendo esta recíproca relação de conversão do conteúdo na forma e vice-versa; apesar disso, a investigação que se dirija especificamente para a forma não é absolutamente algo ocioso e, em particular, não é um problema cujo estudo, como pensam os vulgarizadores, entre em choque com o método do materialismo dialético e histórico. Lenin disse: “A forma é essencial. A essência tem esta ou aquela forma, de acordo também com a essência...”.(2)
Se examinarmos mais de perto a diferença da forma no reflexo estético e no reflexo científico, na base dos resultados até aqui obtidos, deveremos estabelecer o seguinte. A forma científica é tanto mais elevada quanto mais adequado for o reflexo da realidade objetiva que oferecer, quanto mais for universal e compreensiva, quanto mais superar ou deixar para trás a imediata forma fenomênica sensivelmente humana da realidade, tal como esta se apresenta cotidianamente. Ainda que a matematização de toda a ciência seja uma utopia (em parte por razões de princípio, em parte por causa do estado atual do nosso conhecimento da realidade objetiva), neste ideal se expressa, porém, uma tendência relativamente legítima do pensamento científico: a aspiração a uma generalização que compreenda o máximo número possível de casos singulares, aparentemente heterogêneos, à mais compreensiva generalização possível. Isto significa que esta forma universal destrói, ou pelo menos supera, o inteiro conjunto das formas singulares e particulares, nas quais costuma aparecer a lei que nela se manifesta, a fim de poder expressar com adequação suficiente a própria lei, revelando os momentos essenciais e comuns ocultos na superfície da imediaticidade. Que esta universalidade não seja abstrata, mas concreta, se a lei for essencial e real, é algo já várias vezes assinalado: é suficiente remeter o leitor ao que Engels afirma a propósito da concreticidade destas generalizações. Mas esta concreticidade é a concreticidade da máxima universalidade, do máximo afastamento — formal — das formas do mundo da evidência imediata. O critério da sua justeza e da sua profundidade é precisamente esta universal aplicabilidade a fenômenos de conteúdo aparentemente heterogêneo, cuja heterogeneidade é superada justamente nesta concreta universalidade. Mesmo que a finalidade do conhecimento científico seja a investigação do caso singular, esta fundamental estrutura do reflexo não se altera. Em seu devido lugar, chamamos a atenção para o fato de que este retorno do universal ao singular — que não se confunde com um isolamento positivista de singularidades frequentemente exteriores ou mesmo insignificantes – só pode produzir frutos científicos se cada singular for conhecido conjuntamente com as leis — que o põem em relação com a universalidade que o compreende e com as particularidades intermediárias. Que se pense no exemplo, acima citado, do diagnóstico em medicina, onde se torna claro que todo progresso real somente pode ocorrer pelo caminho indireto da generalização e da justa aplicação do universal ao caso particular.
Nitidamente diversa é a forma estética genuína e original: ela é sempre a forma de um determinado conteúdo. Ao afirmarmos isto, não devemos perder de vista o fato de que cabe à estética como ciência descobrir leis o mais possível universais, e cabe à crítica aplicá-las a obras singulares (ou grupo de obras singulares). A estética, a história da arte, a crítica, etc., são precisamente ciências, para as quais vale, essencialmente, o que acima dissemos do reflexo científico da realidade. Em outro local, veremos nos detalhes até que ponto o fato estético como conteúdo destas ciências influi sobre a sua metodologia, modificando-a. Aqui é suficiente sublinhar que a concepção segundo a qual a crítica seria um gênero artístico, que floresceu no romantismo alemão e que se tornou vez por outra uma intensa moda no período imperialista, carece de qualquer fundamento gnosiológico e metodológico.
Devemos aqui estudar a forma estética em seu modo genuíno e original de manifestação, tal como podemos encontrá-la sobretudo na obra de arte, enquanto objetivação do reflexo estético da realidade, no processo criador e no comportamento estético-receptivo em face da arte. É evidente que a forma artística — precisamente quando tem importância estética — é a forma específica e peculiar daquela determinada matéria que constitui o conteúdo de uma dada obra. Já nos referimos a este problema quando tratamos do particular como meio organizador; referimo-nos ao fato de que no mesmo artista, em suas obras similares entre si do ponto de vista estilístico, este meio organizador é situado diversamente. E deve estar claro que o modo artisticamente essencial pelo qual se dá forma, a peculiaridade da forma, deriva e é determinado precisamente a partir deste ângulo visual. Ela determina aquilo que, no mundo formado na obra, foi ressaltado, o que foi negligenciado, inclusive o que foi eliminado: isto é, os traços e momentos da realidade artisticamente refletida que se tornam elementos construtivos da obra e o papel concreto que desempenham nesta construção. (Apenas em outro contexto poderão ser tratadas detalhadamente as consequências que decorrem disto, como, por exemplo, a essência estética da composição, a relação dialética entre concepção do mundo e concepção artística, etc.) Toda a história da arte e uma sadia sensibilidade estética nos ensinam que se trata aqui de um problema central, ou seja, da ascensão do fato estético. Se bem que não seja este o local para extrair todas estas consequências concretas, deveremos nos referir a alguns momentos essenciais.
Comecemos por uma questão relativamente simples, a da maneira e do estilo. O que é maneira em sentido estético? De um modo simples, podemos talvez defini-la do seguinte modo: um artista se torna amaneirado quando, em cada um de seus contatos com a realidade, não se adapta à peculiaridade do objeto ao qual deve dar forma, quando não renova em face de tal peculiaridade um determinado modo de considerar a realidade, que ele elaborara, bem como os meios artísticos expressivos que decorriam deste modo de consideração, e quando, ao contrário, fixa-os em si, transformando-os em um a priori estético da compreensão da realidade e da sua representação, de tal modo que os elementos formais dele decorrentes assumem, na obra, certa autonomia em relação à matéria que vai ser plasmada.
Não é preciso dizer que temos aqui um fenômeno muito frequente na história da arte. E não no que diz respeito a subliteratos ou diletantes (neste caso não se fala de maneira, pois tais tipos estão fora do julgamento estético); ao contrário, tal fato é verdadeiro, com muita frequência, em artistas bastante dotados, em mestres da arte. Na presente investigação, não interessa delimitar exatamente a diferença estética entre maneira e estilo: analisaremos sua oposição exclusivamente do ponto de vista da teoria geral do reflexo estético. Mas, até mesmo de uma perspectiva tão geral, resulta que os máximos expoentes da história da arte são precisamente os gênios, aqueles que em sua produção realizam o mais incessantemente possível o goethiano “morra e nasça”, ou seja, que renascem como artistas criadores em face de cada novo conteúdo. Para esclarecer perfeitamente esta situação, bastará recordar aqui o próprio Goethe ou Pushkin. Ao contrário deles, existe um grande número de artistas notáveis e importantes que — mesmo quando eles próprios sofriam com isto, como é o caso de Heine — deixaram-se conduzir vez por outra, ou continuadamente, a certo enrijecimento maneirista; a grandeza da poesia de Heine no princípio da década de 40 e depois de 1848 deriva, precisamente, do fato de que grandiosas e profundas experiências pessoais destruíram este a priori da maneira, que se havia formado nele neste período, e libertaram da maneira a sua concepção poética e, portanto, os seus meios de expressão.
Trata-se, naturalmente, de dois extremos, levados ao limite máximo por abstração: na realidade, não existe nenhum artista que em toda a sua produção tenha estado livre da maneira, nem jamais existiu produção de real valor estético que se tenha mantido em tudo presa ao nível da maneira. Mas, para nossa finalidade, que é explicitar a forma estética como sendo a forma de um conteúdo determinado, é inteiramente suficiente a fixação destes extremos e de sua oposição do ponto de vista do valor estético. De fato, estas rápidas observações mostram qual o problema em relação à teoria do reflexo na estética: toda maneira consiste na elaboração de um modo de expressão abstratamente subjetivo (sobre a base de um modo abstratamente subjetivo de considerar a realidade) e, portanto, de um modo artístico de trabalhar no qual o sujeito criador aparece como indivíduo singular. Nasce assim a singular situação objetiva, mas de nenhum modo paradoxal, de que aquela subjetividade abstrata se contraponha ao eventual conteúdo concreto e determinado (particular) como universalidade abstrata da forma e, ao mesmo tempo, ultrapasse para cima e para baixo a sua essência realmente artística, a sua particularidade.
Uma outra questão similar, que pode esclarecer introdutoriamente este conjunto de problemas, é a da técnica artística. Também aqui — como em todas as questões que abordaremos subsequentemente, relacionadas com problemas concretos da estética — não poderemos tratar, naturalmente, das importantes relações, complicadas e em larga medida ainda não esclarecidas, entre forma artística e técnica. Também aqui deveremos nos limitar aos momentos mais gerais, que estiverem estreitamente ligados à peculiar função da categoria da particularidade na estética e que puderem iluminar, por um lado novo, as diferenças entre reflexo científico e reflexo artístico.
Não é necessário nos alongarmos na explicação de que, também na questão da técnica, a origem é comum. Neste local, naturalmente, não se trata de expor, ainda que sumariamente, o processo de diferenciação da técnica; limitar-nos-emos a remeter o leitor ao que Marx disse — nas afirmações que citamos, em um contexto inteiramente diverso, quando tratamos dos problemas lógicos da particularidade — com a finalidade de demonstrar que o advento e a hegemonia da máquina libertaram cada vez mais a técnica da indústria de todas as suas barreiras antropológicas. Esta decisiva reviravolta na história do trabalho tem, ao mesmo tempo, uma importância igualmente decisiva pela nítida separação que cria entre a técnica em sentido científico e prático-industrial (estreitamente ligados entre si) e a técnica em sentido artístico. Até este momento, os limites são flutuantes; enquanto a produção é puramente artesanal, é quase impossível determinar onde começa e onde acaba o modo artístico de elaboração. Apenas o desmembramento do processo do trabalho que se inicia na manufatura revela claramente o princípio da diferenciação, mas ainda sem destacar-se inteiramente das capacidades e da habilidade do homem.
Aqui reside, de fato, o princípio da separação real. Na técnica moderna em sentido científico, o essencial é o fato de ser ela destacada da subjetividade humana. Não, decerto, do ponto de vista da finalidade. Esta, em última análise, é sempre econômica, e serve, portanto, à sociedade humana; mas o seu processo baseia-se sempre em um conhecimento das leis naturais independentes do homem, em sua melhor combinação possível, em sua melhor conexão possível em vista daquelas finalidades. Sem penetrar nos detalhes, podemos já afirmar que — deste ponto de vista — um processo técnico é tão mais perfeito quanto mais universais forem seus fundamentos teóricos, quanto mais simples — e, por isso, mais universal — puder ser a sua aplicabilidade. A necessidade, quando da sua aplicação, de se apelar a um dom particular, e não a uma capacidade que possa ser aprendida mais ou menos rapidamente por qualquer homem, indica sempre um certo limite — momentâneo — da perfeita tecnicização.
A esta universalidade da técnica mecânica científica, contrapõe- se nitidamente o modo de trabalho do antigo artesão. Não por acaso, em épocas longínquas, o virtuosismo artesanal era definido como o “segredo” de certos mestres ou de certas corporações. Para nossas finalidades, esta expressão não deve ser tomada em sentido literal, como se indicasse algo escondido; trata-se de algo qualitativamente diverso dos casos sobre os quais dizemos hoje, por exemplo, que a patente de um processamento técnico é monopólio de um determinado grupo de capitalistas. A diferença torna-se evidente se pensarmos que monopólios desta espécie não podem jamais durar por muito tempo, nem mesmo quando o seu “segredo” é protegido por um poderoso aparato estatal. (Recorde- se o destino do monopólio das bombas atômica e de hidrogênio.) No atual estágio das ciências naturais teóricas ou aplicadas, da técnica cientificamente racionalizada, nenhum problema, uma vez resolvido, pode ser considerado como sendo em princípio insolúvel para os não iniciados. Pelo contrário, inúmeros “segredos” da técnica artesanal permaneceram, até hoje, como autênticos segredos.
Neste ponto, revelam-se claramente as linhas principais do contraste, ainda que tenhamos falado do ponto de vista do artesão, o qual está frequentemente próximo da arte, e não do da arte em sentido estrito. Se em vista de nossas finalidades colocamos em primeiro plano o contraste fundamental entre reflexo científico e reflexo artístico da realidade, também aqui não devemos transformar a oposição em uma insuperável muralha chinesa. Inumeráveis fatos da história da arte demonstram que o desenvolvimento das ciências exerceu uma forte influência sobre a técnica artística. (Basta recordar a descoberta da perspectiva na pintura do Renascimento, o papel que nisto desempenhou Leonardo da Vinci.) E, por outro lado, também a ciência não se mantém indiferente às inovações e progressos da técnica artística. Mas neste local, mesmo reconhecendo estas transições, o que importa é a oposição dos princípios fundamentais; a aceitação de resultados parciais, que de uma e de outra parte são sempre subordinados e adaptados aos respectivos princípios contrapostos, não modifica substancialmente a situação.
O que interessa neste contraste é a impossibilidade de aplicar universalmente uma determinada técnica artística, ou mesmo, simplesmente de recebê-la pronta e acabada sem fazer nenhuma modificação. Isto acontece, é óbvio, porque a forma artística é a forma de um conteúdo determinado; por isso, não permite uma generalização fora daquela particularidade que ela estabelece em cada oportunidade. A particularidade como categoria central da estética, por um lado, determina uma universalização da pura singularidade imediata dos fenômenos da vida, mas, por outro, supera em si toda universalidade; uma universalidade não superada, que transcendesse a particularidade, destruiria a unidade artística da obra. Já vimos, quando falamos da maneira, que toda atitude universalizante deste tipo em relação aos problemas formais concretos produziria efeitos danosos para o fato estético.
Mas é possível indagar se, na técnica artística, apesar de tudo isso, não possam estar ocultas determinadas tendências para uma generalização que vá além desta particularidade. A pergunta é justificada. De fato, a técnica de cada arte possui elementos (métrica, tratamento material do mármore, do bronze, etc.) que não apenas podem ser aprendidos, mas que se adquirem tão somente através de um duro trabalho de aprendizagem, cujas experiências podem também ser transmitidas de um homem para outro. Deste ponto de vista, mas somente dele, a técnica artística não difere substancialmente da técnica científico-industrial e, menos ainda, da artesanal. Quando se procurou traçar uma clara distinção teórica entre ciência e arte, colocou-se muitas vezes em primeiro plano o fato de que a arte, ao contrário da ciência, não pode ser aprendida. Tal fato é particularmente sublinhado por Kant, que pretendia admitir na ciência apenas uma gradação quantitativa entre Newton e “o mais laborioso imitador”(3), ao passo que a produção artística seria a atividade inteiramente inconsciente (e, portanto, não sujeita a aprendizagem) do gênio. A oposição é aqui levada até o extremo absurdo do paradoxo, tanto para a atividade científica quanto para a artística: esta não é de nenhum modo tão inconsciente quanto Kant pretende, e aquela admite igualmente saltos qualitativos com relação à aptidão e à genialidade.
Contudo, mesmo se falarmos da técnica considerada em si mesma, pouco poderemos obter de semelhantes oposições que derivam apenas do sujeito. Reconhecer a hierarquia qualitativamente graduada das aptidões não significa excluir absolutamente a possibilidade de aprendizagem. Já nos referimos ao fato de que também a técnica artística possui um elemento extremamente importante de aprendizagem. A historicidade da arte, que está longe de ser simples e retilínea, o progresso nela realizado no sentido de uma aproximação cada vez maior da reprodução adequada da realidade, manifesta-se com particular clareza no desenvolvimento da técnica artística. Mas, precisamente nesta desigualdade do desenvolvimento, revela-se claramente a real diferença, ou antes, o real contraste. Cada progresso científico na técnica deve se afirmar — antes ou depois — como um passo no movimento para frente, dado que o seu sentido objetivo se aproxima das leis da realidade objetiva, de sua aplicação mais econômica.
A técnica artística, contudo, é apenas um instrumento para expressar com a máxima perfeição possível a reprodução criadora da realidade que resumimos no princípio da forma como forma de um conteúdo determinado, na função organizadora de um nível específico de particularidade por cada obra de arte. Vimos que este meio organizador é diverso de acordo com o período, com o gênero, com o estilo, com a personalidade, etc. Portanto, uma técnica só é fecunda e progressista, em sentido artístico, quando favorece o florescimento próprio desta particularidade. Suas outras qualidades devem estar incondicionalmente subordinadas a esta finalidade: se elas a contradizem, qualquer técnica — sem prejuízo de suas outras qualidades positivas — é um obstáculo à arte. Mas não se trata apenas de um caso de conflito artístico individual ou histórico, mas também de questões muito mais gerais. Os problemas da evolução da técnica artística são determinados pelo desenvolvimento social. Mas os princípios e as tendências que surgem socialmente não são favoráveis incondicionalmente e em todas as circunstâncias à arte: podem também obstaculizar e confundir o fato estético, podem inclusive ser hostis à arte.(4) Enquanto no Renascimento a influência recíproca da tendência geral da época, sobretudo entre técnica científica e técnica artística, elevou a arte a alturas inesperadas, hoje vivemos conflitos incessantes, que — se vencidos pelas tendências “modernas” — podem lançar em situações trágicas até mesmo artistas respeitáveis; que se pense na influência do pontilhismo, etc., sobre a pintura, ou na da “psicologia profunda” sobre a literatura, etc..(5)
Naturalmente, nenhum dos problemas a que nos referimos são exclusivamente (e nem mesmo principalmente) problemas técnicos. Existe um complexo muito complicado de influências recíprocas entre situação social, concepção do mundo, penetração artística e intenção da personalidade criadora em uma determinada e determinante situação histórica, o qual decide o modo de escolha e de aplicação de uma técnica concreta. Como agem tais influências recíprocas, em que consistem os seus problemas essenciais — isto só poderá ser concretamente examinado quando falarmos da arte como fenômeno social, como parte da superestrutura. Aqui, tivemos de nos referir brevemente a esta problemática a fim de compreender claramente o seguinte: que a impossibilidade de aplicar genericamente uma técnica (uma inovação técnica, etc.) e, mais ainda, de encontrar nesta aplicabilidade geral um critério para julgar a técnica, não reside na psicologia do processo criador (em sua “inconsciência”) ou em uma “irracionalidade” da arte, mas precisamente, pelo contrário, no seu modo específico de refletir a realidade objetiva. Daqui decorre a necessidade de que em cada obra autêntica a técnica seja novamente criada, tendo em vista aquela particular perspectiva a partir da qual a realidade reproduzida é esteticamente organizada. Isto não exclui, de nenhum modo, a existência de desenvolvimento na técnica, mas faz da influência recíproca entre técnica e criação um complicado processo que deve ser sempre resolvido novamente em cada obra singular. Porém, ainda que em geral as maiores obras de arte atinjam também tecnicamente o máximo nível técnico de sua época, a perfeição artística de nenhum modo identifica-se teoricamente com a perfeição técnica; e um desenvolvimento técnico superior em nada altera a perfeição estética das obras pertencentes a uma fase tecnicamente inferior.
Quanto mais adquire concreticidade, na análise das questões singulares, o papel que tem na estética a categoria da particularidade, tanto mais claramente se revela o fato de que não pode existir um só momento da obra de arte — conquanto possa em si ser objetivado — que possa ser concebido independentemente do homem, da subjetividade humana. Ao afirmar isto, todavia, ainda estamos longe de ter realmente esclarecido esta subjetividade. Pelo contrário. Tão somente agora surge toda uma série de problemas que devem ser resolvidos a fim de que se possa compreender corretamente a importância da particularidade na estética. Apenas agora, portanto, estamos próximos de colocar corretamente o problema, enquanto permanecemos ainda distantes da solução.
Antes de tudo, devemos esclarecer esta subjetividade estética. Parece óbvio, sobretudo de acordo com a teoria e a práxis de nosso tempo, identificá-la com a subjetividade imediata, inclusive, aliás, com a subjetividade e a singularidade do homem — artificialmente concebida — puramente imediata. Escolas e correntes de nosso tempo, como o surrealismo, colocam-na no centro da investigação estética. O surrealismo pretende, precisamente, anular qualquer limite, qualquer norma, qualquer valoração no interior da subjetividade imediata. Breton busca um ângulo a partir do qual desapareça inteiramente qualquer distinção entre a vida e a morte, entre o real e o imaginário, entre o passado e o futuro. E, coerentemente, o surrealismo chega ao ponto de não reconhecer nenhuma diferença entre homem normal e homem louco. Enquanto o expressionismo limitou-se a reclamar para si certos desenhos de loucos “geniais”, os surrealistas não pretendem limitar-se a estes casos e exigem que seja reconhecido um igual direito para todos os loucos, de qualquer ponto de vista. Não seria aceitável a distinção de certos atos como antissociais, porque todos os atos do indivíduo seriam antissociais.(6) Naturalmente, teorias de tal gênero representam casos extremos, mas indicam apenas o limite mais intenso de uma tendência amplamente difundida na ideologia burguesa decadente: a tendência a identificar inteiramente a subjetividade — e sobretudo a artística — com a particularidade mais imediata de cada sujeito.
Indubitavelmente, a impressão irresistível e imediata de uma personalidade artística criadora é um dos traços essenciais que caracterizam a eficácia da obra de arte. São exceções, em certo sentido, os inícios da arte e mesmo inúmeros fenômenos da arte oriental de um período mais evoluído; mas bem cedo se afirma, também aqui, com sempre maior intensidade, a personalidade do artista (que se recorde a arte de Amarna no Egito), e, do desenvolvimento grego para cá, esta nota da personalidade artística é uma característica essencial determinante de toda obra de arte.
Certamente — e com isto passamos já à nossa presente questão – nem sempre no sentido do sujeito singular identificável. Em muitos casos, como em certos templos gregos, em catedrais góticas, sabemos muito bem que estas obras não são produtos de personalidades singulares de artistas e que, para a sua realização, colaboraram inteiras gerações de individualidades extremamente diversas. Mas esta é uma noção que diz respeito tão somente à história da arte, ainda que seja de extremo valor. Do ponto de vista estético, cada uma destas obras tem uma acentuada fisionomia individual. À impressão imediata, bem como à análise estética mais profunda, revelam-se como algo qualitativa e individualmente diverso de todas as obras “similares”, revelam-se como individualidade da obra. Aliás, precisamente se quisermos compreender a sua peculiaridade essencial, somos obrigados a trabalhar ininterruptamente com categorias da personalidade, desde a unidade da atmosfera até os detalhes, em cuja organização conjunta revela-se com clareza a unidade de uma intenção artística. O mesmo ocorre com relação a Homero, à epopeia dos Nibelungos, etc. Nestes casos, a investigação histórica poderá negar, inclusive com as mais válidas razões, a existência de um autor como personalidade; mas para o conhecimento estético da épica como gênero, “Homero” permanece como o autor de uma destas obras.
Não se deve mistificar o fato que aqui surge. No curso da historiografia exatamente controlável, mesmo sob o aspecto biográfico, encontramos — ainda que em um plano artístico inferior, mas de qualquer modo no campo dos fatos de importância estética — não poucas daquelas “personalidades coletivas” que, consideradas esteticamente, devem valer cada uma como um autor; por exemplo, Beaumont-Fletcher, Erckmann- Chatrian, os irmãos Goncourt, Ilf-Petrov, etc. No caso destes autores duplos, é particularmente interessante, para a presente questão, que alguns deles (Beaumont, Fletcher, Edmond de Goncourt, Petrov) tenham trabalhado também como autores singulares, revelando-se então com uma fisionomia artística bastante diversa da personalidade resultante da cooperação literária. Quais as consequências deste fato para a nossa questão? A simples possibilidade de uma colaboração artística bem-sucedida entre personalidades diversas indica que a subjetividade criadora não pode ser simplesmente idêntica à subjetividade imediata dos indivíduos em questão, se bem que suas principais tendências receptivas e produtivas devam necessariamente passar a fazer parte, de um modo orgânico, da nova personalidade (do autor da obra comum). No caso da cooperação científica, a questão é substancialmente mais simples. Naturalmente, também aqui cada um contribui não apenas com seu intelecto, com sua razão, com seu saber, mas também com sua fantasia, seu temperamento, suas experiências pessoais, etc.; mas o momento unificador é formado pela realidade objetiva que existe independentemente da consciência humana (e, portanto, da consciência de todos os participantes); a aproximação a esta realidade, a mais estreita possível, determina assim o modo de união das personalidades.
Diverso é o caso da arte. Se da colaboração de mais de um autor deve nascer uma autêntica obra de arte, esta deve obviamente atingir uma individualidade própria especial, unitária, rica, desde a concepção fundamental até os detalhes estilísticos. A subjetividade dos que participam criativamente da obra unitária tem assim valor positivo, significativo do ponto de vista estético, tão somente enquanto for capaz de se tornar um elemento estrutural orgânico da individualidade da obra. As subjetividades imediatas, particulares, são porém incomensuráveis em sua singularidade de mônadas. Vimos que, na cooperação científica, este terreno comum é dado pela universalização objetivizadora, “desantropologizante”. Na arte, é igualmente necessária uma generalização — correspondente à sua essência concreta — que vá além da subjetividade particular imediata.
Uma tal generalização resulta, por um lado, do que chamamos de específica forma fenomênica da particularidade, como meio organizador de uma dada obra de arte. Ela, como vimos também, é uma elevação acima da subjetividade imediata como abstrata singularidade ou particularidade, mas ao mesmo tempo é também algo ainda subjetivo, pessoal. A sua objetividade é aferida pelo modo como uma subjetividade assim universalizada na particularidade — subjetividade que com isso, ao mesmo tempo, como vimos, introduz também a universalidade como momento no seu meio organizador — é capaz de dar uma reprodução da realidade, verdadeira e original, que possua eficácia imediata. A objetividade, portanto, não pode ser separada da subjetividade, nem mesmo na mais intensa abstração da análise estética mais geral. A proposição “sem sujeito não há objeto”, que na teoria do conhecimento implicaria num equívoco idealismo, é um dos princípios fundamentais da estética, na medida em que não pode existir nenhum objeto estético sem sujeito estético; o objeto (a obra de arte) é carregado de subjetividade em toda a sua estrutura; não existe nele “átomo” ou “célula” sem subjetividade, o seu conjunto implica a subjetividade como elemento do princípio construtivo.
Por outro lado, continua pressuposta a independência da realidade objetiva com relação ao sujeito humano. Se o ponto de partida e a finalidade não fossem a representação e a reprodução artística desta realidade, nossos problemas não poderiam nem sequer ser colocados. Em tal caso, como supõem muitas teorias decadentes da arte, a pura expressão da subjetividade imediata e a criação artística seriam a mesma coisa; surgiria na obra de arte um mundo solipsístico, imediato em seu conteúdo essencial, obscurecido por pressentimentos, associações e introspecções, como no surrealismo, e novamente teríamos o caso, já visto quando falamos da maneira, da subjetividade abstratamente imediata e esteticamente falsa que se converte num objetivismo abstratamente desumano. É característico da arte em geral, e decorre do seu modo peculiar de refletir a realidade, o fato de que o falso subjetivismo (falsamente extremado) e o objetivismo falsamente extremo apareçam frequentemente unidos e se convertam incessantemente um no outro. Surge claramente, também aqui, como lado negativo da tendência à síntese dialética, a importância do particular como meio organizador do reflexo estético. Um exemplo típico disto é o do conhecido escritor inglês D. H. Lawrence, no qual esta conversão da subjetividade abstratamente imediata na desumanidade, no objetivismo desumano, realiza-se de modo tão completo que chega a se tornar a essência de suas intenções artísticas. Já que neste caso aparece com rara clareza o beco sem saída ao qual conduzem estas tendências, pedimos permissão para citar por extenso uma parte de sua carta programática a Edward Garnett:
Mas o aspecto puramente físico da humanidade é para mim mais interessante do que o elemento humano estilo antigo, o qual induz a reduzir um caráter a um esquema moral determinado e a representá-lo de acordo com ele. Em Turgueniev, em Tolstói, em Dostoiévski, o esquema moral — ainda que, em si, os personagens possam ser extraordinários — é insípido, velho, morto. Quando Marinetti escreve: “É a solidez de uma barra de aço que nos interessa, por si mesma, isto é, a aliança incompreensível e inumana de suas moléculas ou de seus elétrons, que se opõem, por exemplo, à penetração de um obus. O calor de um pedaço de ferro ou de madeira é agora mais apaixonante, para nós, do que o sorriso ou as lágrimas de uma mulher”, quando ele diz isso, eu sei o que pretende dizer. Para um artista, é tolice contrapor o calor do ferro ao riso da mulher. De fato, o que é interessante no riso da mulher é o mesmo que a ligação das moléculas do aço ou o movimento delas no calor: é a vontade inumana — quer chamemo-la de fisiologia, ou, como Marinetti, de fisiologia da matéria — o que me fascina. Não me preocupa muito o que a mulher sente, no sentido comum da palavra. Isto pressupõe um ego com o qual se possa sentir. Eu me interesso apenas pelo que a mulher é inumanamente, fisiologicamente, materialmente no sentido preciso: mas, para mim, ela é enquanto fenômeno (ou enquanto representante de uma maior vontade inumana), diferentemente do que ela se sente de acordo com a representação humana... (Da mesma forma como o diamante e o carvão são o mesmo elemento puro: carbono. O romance comum procuraria traçar a história do diamante, mas eu digo: “O diamante? É carbono”. Não importa que o meu diamante possa ser carvão ou fuligem: o meu tema é o carbono.).(7)
Tanto os becos sem saída da subjetividade imediata agora indicados, quanto os casos (anteriormente tratados) da bem-sucedida cooperação entre personalidades diversas, que criaram obras individuais, indicam a mesma coisa: no processo criador da obra ocorre uma transformação da subjetividade imediata; as infinitas variáveis das manifestações individuais de tais transposições são objeto da psicologia. Para a estética, importam unicamente os traços que aparecem inevitavelmente no momento em que surge a individualidade da obra. A elevação da personalidade artística no processo criador da obra é um fato antiquíssimo e notório. Já a estética grega se ocupava a fundo dele, mas — dadas as estreitas ligações entre a arte primitiva e a magia e a religião — a descrição e a explicação deste fato são seguramente muito mais antigas. Nestas teorias da “inspiração”, para englobar mesmo as mais variadas em um só termo, interessa-nos apenas esta elevação — aparentemente enigmática — da subjetividade criadora acima do nível que ocupa na normalidade cotidiana. Já Platão considera ironicamente (no íon, por exemplo) a pretensão dos que querem descobrir, nestas inspirações, a revelação de verdades superiores. Contudo, mesmo em estéticas posteriores, raramente se conseguiu excluir completamente tais pretensões. E isto é compreensível: já que não eram revelados os motivos reais desta elevação da personalidade, os resquícios das tradições mágicas deveriam sobreviver, ainda que sob uma forma “secularizada” (Caudwell).
Estes resquícios estão radicados, em primeiro lugar, na corrente irracionalista, muito forte notadamente hoje, cristalizando-se sobretudo no mito da intuição. Não julgo necessário alongar-me nesta questão: dela me ocupei a fundo em outros escritos e demonstrei que o valor de verdade da intuição reside exclusivamente na justeza do conteúdo por ela encontrado e que a forma psicológica através da qual se manifesta não tem nenhum valor. Em segundo lugar, transforma-se em fetiche a generalização artística aqui realizada. Com exceção de alguns representantes de extremas tendências decadentes, todos veem que em tais inspirações está sempre contida a orientação para uma universalidade suprassubjetiva. Mas, dado que as teorias estéticas (como mostramos várias vezes) confundem frequentemente a generalização artística com a universalidade científica ou filosófica, toda tentativa de conceituar este problema, mesmo se concebida inteligentemente, destina-se a cair no vazio. As teorias idealistas do “humano universal”, do “ideal”, da aproximação à teoria platônica das ideias entendida como forma invertida do reflexo, contribuíram fortemente para esta transformação em fetiche. Em terceiro lugar, na série das fontes desta transformação em fetiche, deve-se observar que, no interior de toda universalidade desta espécie, oculta-se a essência social da arte, raramente reconhecida ou suposta, ainda que de modo limitado. As pseudoantinomias que surgem neste terreno, entre a autonomia da arte, entre a individualidade apoiada sobre si mesma da obra e a função social da estética, contribuem por sua conta para obscurecer este problema.
Nossas análises lançam sobre este fato uma luz muitíssimo mais límpida. Em suma, trata-se da viva contradição dialética entre personalidade artística esteticamente importante e personalidade artística imediatamente particular-individual. Nesta contradição, ambos os momentos são forças vitais reais (não um abstrato dever-ser), ambas são indispensáveis, precisamente em sua contraditoriedade dialética, para o surgimento da individualidade da obra. Dado que até aqui colocamos sempre em relevo, voluntária e unilateralmente, a personalidade esteticamente importante, com a finalidade de revelar todo o absurdo das teorias da decadência fundadas exclusivamente sobre a particularidade pessoal, devemos agora acrescentar o seguinte, como complemento das explicações dadas anteriormente: as qualidades humanas existentes na particularidade pessoal, como a rapidez da percepção, a fina sensibilidade em face das impressões, a fantasia, etc., são a base de toda aptidão artística; e se, no curso do trabalho, também ela pode e deve ser aperfeiçoada até atingir altitudes originalmente insuspeitadas, isto em nada altera o fato de que estamos aqui em face daquelas qualidades que são inseparavelmente ligadas à particularidade individual, à imediata incomensurabilidade de cada personalidade. Elas não formam por si sós a aptidão, mas constituem sua base fisiopsicológica indispensável. Aqui é possível e necessário tão somente um aperfeiçoamento, um desenvolvimento superior do que é inato, não uma reviravolta, não uma transformação em algo substancialmente diverso.
A compreensão deste fato habitual na práxis artística foi sempre dificultada pelas concepções idealistas da personalidade humana. Nestas, de fato, a particularidade individual imediata revela-se como única realidade empírica, ao passo que todas as forças que tendem a elevá-la são convertidas em algo transcendente com relação ao sujeito, são convertidas em fetiches enquanto dever-ser, enquanto ser ideal ou ôntico, para não falar das renovadas transcendências religiosas ou mágicas. Tão somente uma concepção materialista da vida humana permite descobrir aqui uma dialética interna. Já na ética de Aristóteles encontramos tendências que apontam para esta direção, mas somente Spinoza formulou com clareza, em primeiro lugar, o problema decisivo para a concepção aqui adotada da subjetividade humana: “Um sentimento não pode ser contrariado ou supresso senão por um sentimento contrário e mais forte do que o sentimento a contrariar”.(8) Quando falarmos, aqui e posteriormente, de uma elevação da personalidade, deve ser sempre entendida no sentido de Spinoza.
Muito mais complexa é a situação no que diz respeito ao que chamamos de personalidade esteticamente importante do criador, se bem que a base supraindicada permaneça a mesma. Antes de tudo, deve-se observar que a particularidade individual ora tratada não se limita de modo algum à sensibilidade que descrevemos: abarca, ao contrário, todas as reações do homem diante dos fenômenos da vida em sua espontaneidade imediata, o que naturalmente não exclui nem o seu caráter adquirido nem o fato de ser objeto da consciência. Precisamente aqui desempenham um importante papel as convicções de um determinado homem, a começar pelos seus preconceitos vulgares e chegando até à sua mais sagrada concepção do mundo. Deste ponto de vista, a viva contradição que assumimos como problema já se torna muito mais compreensível e concreta. No processo do reflexo da realidade, no processo de sua reprodução artística, os dois estratos da personalidade do criador entram incessantemente em oposição. Até aqui ainda não existe nada que seja específico do reflexo estético, pois a vida cotidiana de todo homem está repleta de tais conflitos. Para o processo criador artístico, porém, é característico que o resultado possa se fixar e ganhar forma na obra de modo a contradizer os preconceitos, ou mesmo a concepção do mundo própria do artista, que este nível superior receba uma forma estética sem que para isto deva ter lugar um progresso correspondente na personalidade privada particular-individual do artista. Balzac, por exemplo, era e continuou sendo um monarquista legitimista; mas na sua representação do período da Restauração e da Monarquia de Julho ganha expressão artística precisamente o inverso. Engels descreve do seguinte modo tal processo:
Que Balzac tenha sido obrigado a contrariar suas próprias simpatias de classe, que ele veja a necessidade da derrota de seus queridos aristocratas e descreva-os como pessoas que não merecem melhor destino, que ele veja os verdadeiros homens do futuro somente onde, naquela época, poderiam ser vistos — eis o que considero um dos maiores triunfos do realismo e uma das maiores características do velho Balzac.(9)
As causas concretas, sociais e pessoais, as condições da efetivação ou do fracasso deste “triunfo do realismo”, só poderão ser tratadas quando examinarmos concretamente a influência recíproca entre concepção do mundo e realização formal. Neste local, sublinharemos apenas que se trata aqui da elevação da personalidade criadora da singularidade individual particular à particularidade, à sua própria particularidade. Tudo o que na singularidade imediata do artista é importante para o seu trabalho criador pode se afirmar sem modificações, inclusive acentuando-se com o aumento das tarefas. A transformação da particularidade individual em generalização estética, em particularidade, ocorre como consequência do contato com a realidade objetiva, como consequência do esforço de reproduzir fielmente esta realidade, de um modo profundo e verdadeiro. Precisamente a sensibilidade do espírito de observação, a fantasia espontânea, etc. permitem criar formas e fazem surgir situações cuja própria lógica interna supera os preconceitos da personalidade particular e entra em conflito com eles. O nível artístico depende precisamente, em larga medida, do resultado destas colisões. Na conservação da vida própria das figuras artísticas, da lógica interna das situações, viu-se frequentemente o sinal distintivo da autêntica artisticidade; e igualmente se tem observado que, quando o criador intervém com sucesso nesta vida própria da obra, tal fato conduz — na maioria dos casos — ao fracasso artístico.
Vemos assim que, para compreender este fato, não é necessário recorrer à mística da inspiração; nesta vida própria da obra de arte, manifesta-se precisamente a conexão social observada. Inicialmente, esta conexão é percebida pelo artista apenas espontaneamente; mas, de sua elaboração artística, nasce a viva contraditoriedade dialética que descrevemos, tão logo o criador reconheça, ou pelo menos pressinta — e a capacidade de chegar a isto determina também seus méritos artísticos — ter descoberto aqui algo qualitativamente diverso, algo mais universal do que as observações, as impressões, etc., médias ou excêntricas, da sua particularidade individual cotidiana. Com tais objetos, o criador aprende a conhecer a si mesmo, às suas mais autênticas simpatias e antipatias sociais, melhor do que o fizera em sua vida cotidiana repleta de preconceitos e limitada por ideias fixas; olhando para eles, plasmando-os, deixando que sigam seu caminho, o criador eleva-se como artista acima de sua costumeira individualidade. As correções efetuadas no eu criador e na obra — correções produzidas pelo “triunfo do realismo” — indicam, portanto, o caminho que conduz do falso particular, das universalidades decorrentes de preconceitos superficiais, à justa particularidade artística. Neste processo, renuncia-se à imediaticidade originária da vida cotidiana; mas a universalização na particularidade não a destrói: pelo contrário, gera uma nova imediaticidade num nível mais elevado. Assim, a obra torna-se um “mundo” próprio, não apenas para quem dela se aproxima, mas também para o seu criador: ele a cria, mas ela o ajuda a elevar-se a uma altitude de subjetividade estético-social, à altitude desta particularidade, única a permitir sua realização artística.
Precisamente por isto, é decisiva para a estética a necessidade de representar com verdade objetiva, e ao mesmo tempo como um mundo humano, adequado ao homem, uma realidade que existe independentemente da consciência humana. Esta necessidade impõe a referida universalização da subjetividade no particular, bem como a superação de qualquer puro universal na subjetividade humanizada do particular.
Nossas considerações ultrapassaram, e não casualmente, suas finalidades imediatas: buscando determinar a subjetividade estética na questão específica da cooperação artística entre mais de uma pessoa, tivemos não somente de determinar esta subjetividade em sua universalidade, mas também de nos aprofundarmos até o seu fundamento real, até a individualidade da obra de arte. Naquele local introduzimos uma determinação que não foi fundamentada, mas que requer agora uma maior concretização: a da originalidade. Também nesta questão, podemos observar como a teoria da arte acompanha lentamente a práxis artística. Enquanto esta produzia sempre objetivamente obras originais, o problema da originalidade como caráter essencial das obras de arte surge relativamente tarde. Young, o primeiro a expressar eficazmente este conceito, deu-lhe também uma formulação que permaneceu, por muito tempo, como a mais válida; ele afirmava que a originalidade se manifesta quando o artista imita a natureza, ao passo que a imitação de outros artistas é mera cópia. Naturalmente, o termo “imitação” indica todos os limites do pensamento metafísico; também a expressão “natureza” possui a obscuridade e a indeterminação próprias do Iluminismo, possuindo um tom rousseauniano; ademais, a relação entre o artista e o desenvolvimento da arte não se resolve exclusivamente na recusa de imitar obras precedentes. Mas, apesar de tudo, mantém-se a importância fundamental do fato de que se tenha estabelecido uma relação necessária entre a originalidade da obra de arte e o reflexo da realidade objetiva, libertando assim a determinação da originalidade de qualquer irracionalismo. A posição de Young demonstra sua relativa clareza e seu espírito progressista não apenas em contraposição à teoria mundano-agnóstica do “je ne sais quoi” dos seus predecessores e contemporâneos franceses, como também em contraste com o posterior desvio irracionalista da filosofia clássica alemã.
Também Kant considera a originalidade como a “primeira qualidade” do gênio. Teoricamente, Kant é bastante superior aos modernos, por nós tratados mais acima, na medida em que reconhece o perigo da “originalidade absurda” e coloca para o gênio a exigência da “exemplaridade”. (Em outro local, veremos mais concretamente como ele chegou aqui a intuir a dialética entre lei estética e gênio, sem contudo encontrar uma solução satisfatória.) É evidente que Kant só consegue imaginar uma conexão objetiva racional, filosoficamente positiva e claramente formulável, nas categorias da cientificidade. Quanto mais autêntica e profundamente intui a estrutura diversa e específica do mundo estético, tanto mais consegue expressar sua intuição de um modo apenas negativo, apenas como negação do papel da consciência e da conceitualidade na esfera estética. Por isto, suas determinações, formuladas de um modo puramente negativo, devem desembocar no irracionalismo, contradizendo a tendência fundamental de seu pensamento. Assim, o gênio torna-se para ele,
O autor de uma produção que deve a seu gênio, não sabendo ele mesmo de onde lhe vêm as ideias e não dependendo dele concebê-las à vontade ou segundo um plano, nem podendo comunicá-las a outros em preceitos que os colocassem em condições de produzir obras semelhantes.(10)
Vê-se claramente que a negação abstrata — decorrente em si de intuições justas — da aprendizagem da arte recebe uma expressão tão radicalmente negativa por causa deste predomínio exclusivo dos critérios científicos.
De qualquer modo, decorre disto um passo atrás com relação a Young; as categorias estéticas, aqui a originalidade, são determinadas como um ser-outro, puramente negativo, do pensamento racional, como algo conceitualmente indeterminável. Se este tema provoca em Kant — involuntariamente, repetimos — uma aproximação ao irracionalismo, ocupa nas teorias românticas da arte, que acentuam consciente e positivamente este tema, uma posição central e torna o gênio, a originalidade, algo inteiramente irracional. É inevitável, então, que a originalidade adquira um caráter puramente subjetivo, que a mera singularidade ocupe uma posição dominante nas manifestações teóricas e práticas do romantismo, mesmo que venha frequentemente mesclada com uma universalidade mística. O fato de que esta singularidade, na ironia romântica, dissolva a si mesma não faz senão acentuar a tendência à destruição do estético: na ironia romântica, esta mera particularidade do eu converte-se imediata e constantemente no universal abstrato e vice-versa; portanto, não é um acaso, mas uma necessidade, do ponto de vista da filosofia da arte, que numa práxis desta espécie termine por predominar a maneira, com todas as consequências que descrevemos acima.
Tão somente na estética de Hegel verifica-se um passo à frente com relação a Young; e isto na medida em que, nela, a originalidade aparece novamente em estreita relação com o conteúdo representado, na medida em que a originalidade é concebida como meio de produzir um conteúdo objetivamente importante e, consequentemente, o ponto de partida metodológico da interpretação é buscado não no sujeito, mas na própria obra. Por isso, em Hegel, a recusa da pura particularidade do subjetivo (da subjetividade como singularidade) é muito mais enérgica — e, ao mesmo tempo, mais fundamentada — do que em Kant. Diz Hegel: “O mau quadro é aquele no qual o artista mostra a si mesmo; a originalidade consiste em produzir algo inteiramente universal”.(11) Deste modo, Hegel separa nitidamente a originalidade “do arbítrio e da subjetividade das inspirações puras”; vê a essência dela no fato de que, por um lado, “compreenda uma matéria em si e para si racional” e que, por outro lado, seu modo de elaborar esta matéria corresponda “à essência do conceito de um determinado gênero artístico”. Por conseguinte, Hegel pode resumir assim sua definição da originalidade:
Portanto, a originalidade é idêntica à verdadeira objetividade; ela une estreitamente o lado subjetivo e o lado objetivo da representação, de tal modo que cada um dos lados não conserva nada de estranho com relação ao outro. De um lado, a originalidade é constituída pela mais pessoal interioridade do artista, mas, do outro lado, não fornece nada mais do que a natureza do objeto, de tal forma que aquela peculiaridade aparece apenas como peculiaridade da própria coisa, decorrendo desta do mesmo modo como a coisa decorre da subjetividade produtora.(12)
Não é necessário que nos alonguemos na explicação de como tudo isso representa um importante passo à frente com relação ao Iluminismo: Young continua a ver no ato — abstrato — do reflexo (para ele: imitação) da realidade (para ele: natureza) o principal caráter distintivo da originalidade, ao passo que Hegel não mais indica como determinação dela apenas o objeto do reflexo (o conteúdo em si e para si racional), mas também o modo (correspondente ao gênero, etc.). À primeira vista, poder-se-ia pensar que a inexistência do reflexo do sistema idealista de Hegel produzisse aqui apenas um defeito formal, gnosiológico, que também aqui se tratasse de um caso de “materialismo posto de cabeça para baixo”. Mas não ocorre isto. Enfrentando um problema para o qual a teoria do reflexo, como corretamente percebeu Young, fornece a chave para a verdadeira solução, o fato de não aplicá-la priva Hegel da possibilidade de esclarecer concretamente as questões, valendo-se precisamente do lado melhor e mais progressista da sua estética: a historicidade.
Precisamente na análise da originalidade não se deve subvalorizar a importância da historicidade da arte. De fato, se a realidade reproduzida pela arte fosse essencialmente imutável, a originalidade manifestar-se-ia apenas como profundidade na penetração de suas mais importantes determinações. Mas, dado que a ininterrupta transformação histórico-social pertence à essência da realidade, ela não pode ser esquecida no reflexo artístico. Aliás, ela chega mesmo a se tornar o problema central da justa reprodução. De fato, se se considera — como já Hegel o fazia – a modificação histórica do conteúdo como base para a transformação da arte no que toca à forma, ao estilo, à composição, etc., é claro que no centro da criação artística deve estar precisamente este momento da transformação, do nascimento do novo, da morte do velho, das causas e das consequências das modificações estruturais da sociedade nas relações recíprocas entre os homens. A originalidade artística — entendida como um voltar-se para a própria natureza e não para o que a arte produziu no passado no que diz respeito ao conteúdo e à forma — manifesta-se precisamente nesta importância que tem a descoberta e a determinação imediata do que de novo é produzido pelo desenvolvimento histórico-social.
Embora este problema não tenha sido tratado teoricamente nem mesmo por Hegel, que é o fundador do método histórico na estética, ele esteve sempre no centro da autêntica criação artística.(13) Mas tão somente na estética do marxismo esta antiquíssima questão recebeu um preciso sentido teórico: é original o artista que consegue captar em seu justo conteúdo, em sua justa direção e em suas justas proporções, o que surge de substancialmente novo em sua época; o artista que é capaz de elaborar uma forma organicamente adequada ao novo conteúdo e por ele gerada como forma nova. A necessária relação existente entre este conceito da originalidade e nossa questão central, a da particularidade, só poderá se revelar mais concretamente depois que esclarecermos, pelo menos em seus traços mais gerais, algumas questões que lhe são estreitamente ligadas: a da inevitável tomada de posição do artista em face da realidade reproduzida, ou seja, a questão do partidarismo, bem como a da relação dialética entre fenômeno e essência na obra de arte individual.
Para compreender os problemas levantados pelo partidarismo, é necessário superar alguns preconceitos. Por um lado, existem numerosos teóricos burgueses que, supervalorizando unilateralmente a atitude teórico-contemplativa, consideram que toda verdadeira obra de arte é apartidária, superior à desordem das lutas cotidianas, e referem-se com desprezo — ou em tom de desculpa, na melhor hipótese — às posições decisivas assumidas por grandes artistas. A teoria kantiana do “desinteresse” — que tem um núcleo legítimo, como veremos em outro local — reforçou este modo de pensar, do mesmo modo como o fizeram as afirmações expressas por influentes escritores, como Flaubert, que com sua “impossibilité” acreditava realizar uma práxis desta natureza. Por outro lado, existem marxistas que consideram o partidarismo como um privilégio do realismo socialista; ou, na melhor hipótese, como o privilégio de alguns dos seus mais afortunados precursores. Refutar estas concepções não significa, naturalmente, negar que o partidarismo consciente do realismo socialista, partidarismo inspirado por uma justa consciência e alcançável tão somente mediante a concepção marxista do mundo, seja algo qualitativamente novo com relação às posições espontaneamente assumidas em qualquer práxis artística anterior. (As consequências concretas desta novidade qualitativa só poderão ser determinadas na análise estética do estilo.).
Neste local, onde tratamos apenas do que decorre imediatamente da peculiaridade do reflexo estético, deveremos nos limitar a considerar este partidarismo universal e espontâneo da arte, deixando de lado as modificações históricas, por mais importantes que possam ser. Que significa este partidarismo? Antes de tudo, deve-se esclarecer que levamos aqui em conta exclusivamente a tomada de posição em face do mundo representado tal como toma forma na obra através de meios artísticos. O modo pelo qual o próprio artista imagina esta sua atitude em face da realidade é uma questão biográfica, não estética: basta recordar a teoria de Flaubert e pensar em como ela é abertamente contraditada pelo partidarismo duramente irônico com o qual, em suas obras, é representado o mundo burguês. Se afirmamos aqui que tal tomada de posição é espontânea e inevitável, deveremos nos reportar ainda uma vez à diferença entre reflexo científico e reflexo artístico da realidade.
Para esclarecer rapidamente o problema, simplificando-o um pouco, falaremos por enquanto apenas das ciências matemáticas. Uma lei enunciada por tais ciências expressa, quando correta, uma relação objetiva e universal da realidade que existe independentemente da consciência. Uma lei desta espécie não contém em si nenhuma tomada de posição; no máximo, pode substituir com uma formulação mais válida uma formulação precedente, inexata ou incompleta, das mesmas relações. Se na elaboração desta lei atuou uma tomada de posição, na pessoa do descobridor, trata-se também aqui de uma questão biográfica que não tem nada a ver com o problema gnosiológico, ou seja, o da máxima aproximação possível ao reflexo exato da realidade objetiva.
Ocorre com muita frequência, e não casualmente, que certas descobertas científicas provoquem as mais violentas disputas ideológicas, como foi o caso de Copérnico ou de Darwin. Mas, do ponto de vista gnosiológico, estas disputas devem ser distinguidas das discussões científicas sobre a exatidão ou inexatidão das novas leis, ainda que na práxis social umas e outras se misturem inseparavelmente. Os apaixonados conflitos em torno da teoria de Copérnico, que provocaram entre outras coisas a condenação à fogueira de Giordano Bruno, o processo da Inquisição contra Galileu, etc., têm por objeto substancialmente o antagonismo entre ordenamento social feudal e ordenamento burguês. Se a concepção geral do mundo deve ter fundamentos geocêntricos ou heliocêntricos, se a ciência deve ou não ter o direito de investigar sem preconceitos todas as coisas, mesmo que os seus resultados não concordem com os dogmas da religião: estas são, naturalmente, discussões ideológicas entre o feudalismo caduco e a burguesia ascendente, manifestações da luta pela conservação ou pela destruição da superestrutura feudal. Por isto, Fogarasi podia dizer com razão que tais disputas pertencem à superestrutura, ao passo que a teoria de Copérnico não pertence a ela.
É característico que, falando do partidarismo, no Materialismo e Empiriocriticismo, Lenin sublinhe expressamente o partidarismo da filosofia (em relação aqui com as ciências naturais) e o discuta contrapondo-o à práxis das ciências naturais. “Quando se trata de filosofia, não podemos acreditar em nem uma só palavra de nenhum destes professores, capazes de realizar os mais valiosos trabalhos nos campos particulares da química, da história, da física”.(14) Mas, mesmo no que diz respeito à ciência da sociedade, onde as lutas de classe influem com muito maior força e imediaticidade sobre o próprio método da investigação, deve-se dizer que a lei da queda tendencial da taxa de lucro, por exemplo, é verdadeira independentemente da natureza dos interesses de classe que sejam mobilizados para combatê-la; deve-se dizer que os dados fatuais estabelecidos pela economia ou pela historiografia são verdadeiros ou falsos segundo reflitam a realidade objetiva ou representem puras fantasias. As citadas considerações de Lenin sobre as ciências prosseguem do seguinte modo:
Por quê? Pela mesma razão pela qual, tão logo se trate da teoria geral da Economia Política, não se pode acreditar em nem uma só palavra de nenhum dos professores de Economia Política, capazes de realizar os mais valiosos trabalhos no terreno das investigações práticas particulares. Porque esta última, tal como a gnosiologia, é uma ciência de partido, em nossa sociedade contemporânea.(15)
Se quisermos agora compreender conceitualmente o caráter do partidarismo no reflexo estético da realidade, deveremos observar que se trata, por um lado, da reprodução o mais possível fiel da própria realidade objetiva, mas que, por outro lado, a finalidade a que aqui se visa não é compreender conceitualmente as leis universais, e sim representar mediante imagens sensíveis um particular que compreende em si e supera em si tanto sua universalidade quanto sua singularidade, cujas características formais não pretendem uma aplicação universal no sentido da ciência, mas tendem a fixar universalmente uma experiência que assumiu a forma deste determinado conteúdo.
Afirmaremos algo quase banal aduzindo que esta particularidade pode nascer tão somente sobre a base da escolha, da exclusão, da universalização das singularidades imediatas. Importa aqui, sobretudo, determinar com exatidão o caráter específico desta generalização estética. Em primeiro lugar, deveremos ter presente o que resultou de nossa investigação sobre a originalidade artística, resumindo as tentativas até aqui realizadas para explicar este fenômeno: dissemos então que a originalidade consiste em captar os traços decisivos na luta entre o velho e o novo, em sublinhar artisticamente os momentos específicos do novo através de uma forma orientada para reproduzir e expressar precisamente este particular novo. Isto significa que o conteúdo ideal essencial de toda obra de arte é uma luta desta natureza. Tal fato não sofre nenhuma alteração mesmo que seu conteúdo imediato (e, portanto, também sua forma imediata) seja algo repousante, uma calma idílica; falando precisamente da atitude artística que leva a compor idílios, Schiller demonstrou corretamente que o simples fato de escolher esta matéria implica já em uma tomada de posição crítica em face do presente, que também o idílio como forma contém em si um partidarismo.
Assim, a realidade refletida e plasmada pela arte, tomada em seu conjunto, implica já, desde o primeiro momento, numa tomada de posição em face das lutas históricas do presente no qual vive o artista. Sem esta tomada de posição, não lhe seria possível escolher como objeto do trabalho artístico, como particular característico, precisamente este e nenhum outro momento da vida. De outro modo, o setor da realidade reproduzido pela arte (“un coin de la nature”, para Zola) não seria realmente mais do que um fragmento tomado casualmente, que poderia ser substituído por qualquer outro fragmento e, portanto, careceria de qualquer necessidade, de qualquer força de convicção. As tendências naturalistas e impressionistas na teoria da arte dos séculos XIX e XX colocaram realmente em primeiro plano este momento, provocando confusão na teoria e na práxis artísticas. De fato, conceber a realidade que a arte reproduz como sendo um mero fragmento mais ou menos casual rebaixa o caráter dialético do reflexo ao nível de uma simples imitação, de uma cópia fotográfica. Segundo estas teorias, a realidade deve ser captada simplesmente em sua singularidade momentânea e casual, toda generalização artística sendo excluída da representação. Quando esta aparece, trata-se de uma mera universalidade abstrata, frequentemente sociológica, por vezes psicológica. Sabemos, certamente, que os impressionistas e naturalistas de algum valor nem sempre tomaram ao pé da letra, para sua felicidade, esta teoria; bastará recordar Zola. Mas, ao mesmo tempo, é característico que eles só pudessem se elevar acima da problemática antiartística de sua teoria quando tomavam seriamente posição, na práxis artística, em face do mundo representado; o exemplo mais significativo é, novamente, o de Zola, não porque à citada definição do objeto da arte ele acrescente a conhecida fórmula “vu travers d’un tempérament” — o que simplesmente acrescenta à mera singularidade do objeto a mera singularidade do sujeito —, mas antes porque nele a escolha e a elaboração da matéria são sustentadas, a despeito da sua teoria, por um combativo partidarismo em face da realidade social.
Mas o que devemos pensar de artistas que estão honesta e profundamente convencidos de se limitarem a reproduzir a realidade, de deixarem a fantasia correr livremente, de expressarem puramente a sua personalidade, etc., sem pretender tomar posição, positiva ou negativamente, com relação à sua matéria? A esta pergunta já respondemos quando nos referimos a Flaubert: se a obra deles é verdadeiramente artística, são vítimas de uma ilusão. Prova isto o simples fato de que toda reprodução estética da realidade é embebida de emoções, mas de tal modo que a emocionalidade na elaboração artística do objeto em seu ser-assim-e-não-de-outro-modo forma um momento constitutivo indispensável. Toda poesia de amor é escrita a favor ou contra uma mulher (ou um homem), toda reprodução de uma paisagem possui uma entonação fundamental que lhe dá unidade, na qual se exprime — mesmo que de um modo frequentemente muito complicado — uma atitude de aprovação ou de negação para com a realidade, para com determinadas tendências que nela operam.
Contudo, por mais que o momento da emoção possa ser fundamental, na arte não se trata apenas de emoção. Uma das principais debilidades das tentativas realizadas, a começar do início do século XIX, para determinar a peculiaridade da arte reside no caráter abstratamente antinômico da polêmica contra as concepções anteriores, as quais, como vimos, por terem identificado metodologicamente a generalização artística com a universalidade conceitual da ciência ou da filosofia, haviam tornado a arte muito conceitual, haviam-na transformado em uma forma preliminar da ciência ou da filosofia. Na Crítica do Juízo, reforça-se a tendência a excluir totalmente a conceitualidade da arte; Hegel reconhece apenas que a unidade na arte se realiza “como no elemento da representação”,(16) e o conceito permanece nele reservado à filosofia.
O campo da arte, deste modo, é excessivamente restringido. Dado que deve refletir a mesma realidade que a ciência e a filosofia, dado que neste reflexo é igualmente universal e busca também a totalidade, como a ciência e a filosofia, a arte não pode desprezar aquela esfera, aquele nível da realidade objetiva e de seu reflexo subjetivo cujo conteúdo, cuja forma, cuja extensão, etc., são definidos pelo termo “conceito”. Precisamente os máximos valores artísticos que possuímos — a tragédia grega e Dante, Michelangelo e Shakespeare, Goethe e Beethoven — não teriam podido existir se fosse correto excluir do trabalho artístico a mais elevada conceitualidade. É verdade, por outro lado, como vimos no local adequado, que na arte tais conceitos, ideias, concepções do mundo, etc., concretamente universais, aparecem sempre superados na particularidade; isto é, o objeto do trabalho artístico não é o conceito em si, não é o conceito em sua pura e imediata verdade objetiva, mas o modo pelo qual ele se torna fator concreto da vida em situações concretas de homens concretos, pelo qual ele se torna parte dos esforços e das lutas, das vitórias e das derrotas, das alegrias e das tristezas, como meio importante para tornar sensível o específico caráter humano, a particularidade típica de homens e situações humanas.
É suficiente esboçar estes traços muito gerais para encontrar a confirmação de nossa afirmação, segundo a qual a tomada de posição é inevitável na obra de arte. De fato, além da emocionalidade partidária sempre necessária (e da qual já falamos), a vida mental do homem, para não nos referirmos à atividade volitiva que é extremamente conexa a ela, é sempre ligada a uma posição afirmativa ou negativa, tanto em relação com as individualidades que movimentam diretamente a vida quanto em relação com os grandes problemas da vida que nelas se manifestam. Este fato, tomado apenas em si, porém, conduziria somente à conclusão de que sem a sua essencial tomada de posição em face das questões importantes de sua vida, as figuras singulares das obras de arte — bem como os homens em geral — não seriam artisticamente concebíveis e, portanto, tampouco representáveis.
A arte, contudo, jamais representa singularidades, mas sim — e sempre — totalidades; ou seja, ela não pode contentar-se em reproduzir homens com suas aspirações, suas propensões e aversões, etc.: deve ir além, deve orientar-se para a representação do destino destas tomadas de posição em seu ambiente histórico-social. Este ambiente existe artisticamente mesmo quando aparece na obra ligado imediatamente ao homem que existe por si só, como é o caso no retrato ou no autorretrato lírico, pictórico ou musical. De fato, todos os lineamentos do homem, ainda que este seja representado isoladamente, trazem em si os traços do seu destino, de suas relações com os homens que o circundam, do êxito das tendências que movem sua vida interior. Assim, todo artista, tomando como assunto (direta ou indiretamente) os destinos dos homens, deve também tomar posição em face deles. Ele o faz, frequentemente, sob dois aspectos. Em primeiro lugar, no triunfo ou no fracasso de determinados propósitos e esforços dos homens já está contida a crítica do artista ou da obra de arte. Mais concretamente, o fato de que uma vitória ou um insucesso apareçam como trágicos ou cômicos, dignificantes ou humilhantes, já revela este inevitável partidarismo da obra de arte. Em segundo lugar, todo triunfo, toda derrota, todo compromisso, etc., se receberem verdadeira forma artística, são envolvidos por uma determinada atmosfera carregada, através da qual — se não, também, de outro modo — se expressa claramente a tomada de posição da obra. Esta, naturalmente, pode ser também bastante complicada, ou mesmo contraditória. A frase de Lucano — “victrix causa diis placuit, sed victa Catoni” — expressa a atmosfera, a posição de muitas importantes obras no interior das contradições antagônicas das sociedades de classe. Mas isto não exclui, antes confirma, a nossa teoria de que o partidarismo das obras de arte é inevitável.
Mas, demonstrando a necessidade de um partidarismo em geral, ainda permanecemos num nível muito abstrato. O real partidarismo de uma obra de arte autêntica não é o expresso pela frase de Herwegh: “Escolha uma bandeira e ficarei satisfeito. Mesmo se for outra, será a minha”; ao contrário, trata-se de uma tomada de posição a mais concreta possível em face de problemas e tendências concretas da vida. Para o nosso problema, portanto, não tem importância o partidarismo universal e formal de cada obra de arte, tanto em seu conjunto como em seus detalhes (se bem que até mesmo este já seja suficiente para esclarecer o caráter específico do reflexo artístico em contraste com o reflexo científico); importa, antes, seu próprio conteúdo concreto e o princípio geral que rege estes conteúdos concretos. Somente neste ponto, de fato, começam a se concretizar nossas explicações sobre a originalidade da autêntica obra de arte. Disséramos, quando tratamos do assunto, que a essência da originalidade é o conhecimento justo, e representado de um modo artisticamente justo, do que é novo na história da sociedade. Nossas considerações sobre o necessário partidarismo da obra, o princípio daí resultante segundo o qual a essência do partidarismo é uma tomada de posição concreta em face do conteúdo, com relação a concretas questões da vida que sejam importantes do ponto de vista do conteúdo, servem agora para definir a verdadeira originalidade das obras; as obras originais são aquelas nas quais aparecem tomadas de posição justas, conteudisticamente, em face dos grandes problemas da época, em face do novo que neles se manifesta, e que são representadas mediante uma forma correspondente a este conteúdo ideal, capaz de expressá-lo adequadamente.
A identidade do mundo que é refletido pela ciência e pela arte determina a identidade geral do critério: justeza do conteúdo na descoberta e na explicitação do novo. Este momento da justeza do conteúdo deve ser particularmente sublinhado, pois quando se discute sobre o partidarismo surge, com muita frequência — determinada por uma atitude positiva ou negativa em face dele —, uma contraposição metafísica entre partidarismo e objetividade, como se o partidarismo excluísse uma representação objetiva, objetivamente justa, de homens, situações e destinos, ou como se esta objetividade fosse somente um momento subordinado. Lenin, que defende com a máxima firmeza e com a máxima profundidade teórica o necessário partidarismo do marxismo, afirma — ao contrário das posições acima descritas — que uma de suas características decisivas é precisamente o grau superior de objetividade alcançável pelo marxismo: “Deste modo”, diz ele, referindo-se à análise classística de todo fenômeno, “o materialista é por um lado mais coerente do que o objetivista e aplica o seu objetivismo de um modo mais profundo e completo”.(17) Esta afirmação de Lenin é válida para qualquer reflexo da realidade, tanto para a ciência quanto para a arte. (As várias formas assumidas pelo partidarismo no curso da história são objeto da parte histórico-materialista da estética.) Mas este lado comum do reflexo científico e estético revela ainda mais nitidamente o contraste: no mesmo fenômeno, daquilo que é novo, a ciência capta as leis das novas relações (ou das relações novamente descobertas) ou oferece pelo menos uma definição e uma interpretação justas de novos fatos singulares, ao passo que a arte representa mediante uma reprodução sensível, de evocação imediata, a forma vital pela qual os novos fenômenos se manifestam na vida humana, na sociedade. Por isto, a arte deve também mostrar de um modo universal toda singularidade através da qual o novo desemboca diretamente na existência. Mas, desta contraposição, resulta evidente que esta universalização não pode ser mais do que uma elevação da singularidade no particular determinado, no típico em sentido estético, ocorrendo ao mesmo tempo uma determinada concretização do universal, na qual sua universalidade em si é superada em sua concreta eficácia na vida humana, em sua particularidade.
Esta generalização segue uma direção oposta à da ciência. A superação tanto do singular quanto do universal na particularidade faz com que surja na obra de arte uma objetividade unitária, na qual as leis da vida se unem inseparavelmente às formas fenomênicas imediatas da vida, penetram nelas até o ponto de ser impossível uma distinção. Não pode ocorrer aqui aquela dualidade, sublinhada por Lenin, entre a observação cientificamente justa de novos fatos e relações singulares importantes e um partidarismo na teoria do conhecimento, na economia, etc., que falsifique e altere as relações gerais. (Quando um contraste deste tipo se verifica na arte, ou é superado pelo “triunfo do realismo”, tal como Engels o descreve, ou então destrói a criação artística.)
A arte não pode representar nenhum fato ou relação fora de seu partidarismo: o partidarismo artístico deve se manifestar na representação de cada detalhe; de outro modo não existe como fato artístico. Do ponto de vista artístico, a “enunciação” de um fato forma uma unidade com sua representação: o fato já é visto e formado partidariamente quando aparece como mero dado; do ponto de vista estético, a atitude favorável ou contrária da obra para com os fenômenos singulares que contém é a qualidade específica de sua objetividade. Se na obra é pronunciado um julgamento ou feito um comentário (julgamentos e comentários são perfeitamente admissíveis como meios de expressão estética em certos gêneros artísticos), eles só têm valor artístico quando pretendem tornar consciente e claramente explícito o que já existia implicitamente na objetividade representada; tratar-se-á, portanto, mais de uma intensificação qualitativa da objetividade representada do que de um mero julgamento ou comentário sobre objetos dela independentes. Isto vale, em medida ainda maior, para o conjunto da obra. Sua composição, o mútuo esclarecimento das partes mediante a dinâmica e as proporções de suas relações recíprocas, é o autêntico meio artístico para aprovar ou rechaçar esteticamente determinadas tendências da vida.
Isto não significa diminuir a força do partidarismo. Pelo contrário; esta concepção expressa o fato estético essencial de que a obra de arte autêntica é partidária de cabo a rabo, em todos os seus poros, que os princípios de sua construção implicam tomadas de posição em face dos grandes problemas da vida, que o partidarismo não pode ser separado de sua objetividade estética. Uma unidade orgânica deste tipo poderá ser encontrada não apenas em temperamentos fortemente combativos, como Swift, Daumier ou Saltikov-Tchédrin, mas também nos artistas ditos objetivos, como Shakespeare ou Tolstói. Trata-se aqui, tão somente, de uma diversidade de meios expressivos, de temperamento artístico, cujo caráter, cujo modo de manifestação, etc., são determinados pelas condições de classe; não se trata de princípios fundamentais, radicalmente diversos, da representação artística. Precisamente a ligação estabelecida por Lenin entre a justa objetividade e o partidarismo permite à estética definir corretamente a real essência do partidarismo.
Chegamos assim à nossa segunda questão. A vida reproduz sempre o velho, produz incessantemente o novo; a luta entre o velho e o novo penetra em todas as manifestações da vida. Mas o critério ao qual chegamos expressa apenas de um modo geral a exigência de que o conteúdo seja justo e, por causa desta generalidade, ainda não pode fornecer uma real unidade de medida. Se quisermos chegar à necessária concreticidade da medida, devemos introduzir e examinar, ainda que brevemente, a dialética de fenômeno e essência. Escreve Marx: “Toda ciência seria supérflua se a essência das coisas e a sua forma fenomênica coincidissem diretamente”.(18) Dado que Marx se refere aqui ao ser que está na base do reflexo científico da realidade, e já que o ser que está na base da ciência e da arte é objetivamente idêntico, esta relação entre fenômeno e essência deve valer igualmente para o reflexo estético.
Mas, aqui também, volta a surgir a diversidade, ou melhor, a oposição que existe entre os dois tipos de reflexo no interior da identidade da realidade objetiva refletida. A tendência fundamental do reflexo científico é separar claramente fenômeno e essência; basta recordar, sobretudo, a expressão matemática de certos fenômenos físicos; mas, também nas ciências sociais, a forma fenomênica imediata é superada — por exemplo, no caso do preço e do valor em economia — a fim de se atingir uma compreensão conceitual adequada da essência. E é evidente que, mesmo quando a finalidade científica é investigar com exatidão o caso singular (como no exemplo que citamos do diagnóstico em medicina), o caso singular definido com precisão científica pode e deve também ter superado as formas fenomênicas imediatas que contém, pois só assim o conhecimento da essência encontra sua aplicação mais exata possível. De tudo isto, deriva que o reflexo científico da realidade deve dissolver a ligação imediata entre fenômeno e essência a fim de poder expressar teoricamente a essência, bem como as leis que regulam a conexão entre essência e fenômeno. A expressão geral assim obtida deve, por certo, ser sempre aplicável aos fenômenos, conter em si as suas leis; mas exteriormente, vista precisamente pelo lado do fenômeno, esta unidade pressupõe uma anterior separação, que é também mantida no que diz respeito à imediaticidade do fenômeno. É óbvio que este fato produz uma aproximação tanto maior à realidade objetiva quanto mais precisa for a separação da qual falamos. Não casualmente, portanto, Lenin define como “precioso” o desprezo de Hegel pela “ternura para com a natureza e a história”.(19)
É igualmente óbvio, por outro lado, que no processo do trabalho artístico a singularidade imediata do fenômeno é igualmente superada. As diversas espécies de naturalismo são antiartísticas e dissolutoras da forma precisamente porque, ao refletirem a realidade, não querem nem podem superar esta singularidade das formas fenomênicas imediatas. (Para evitar qualquer mal-entendido, observaremos brevemente que, falando de destruição da forma ou de ausência de forma, não pensamos em uma destruição da estrutura formal em geral, o que seria impossível, mas na destruição do caráter estético da forma.) Já Hegel observou corretamente que, por ausência de formas, “deve-se entender a falta da forma justa”.(20)
Mas, no processo do trabalho artístico, a superação da singularidade da forma fenomênica indica tão somente o ponto de partida, a separação consciente de fenômeno e essência, a enérgica conquista e elaboração do essencial; sob este aspecto, o trabalho artístico segue um caminho similar ao do reflexo científico. Mas, ao passo que este último permanece — como vimos — na nítida separação entre forma fenomênica e essência, o processo de superação que se realiza na obra de arte é uma superação no sentido literal hegeliano da palavra, ou seja, é ao mesmo tempo uma destruição, uma conservação e uma elevação a nível superior. Foi Goethe, mais uma vez, quem primeiro formulou com clareza esta peculiaridade do reflexo estético. Na passagem que citaremos, ele não fala expressamente na arte, é verdade, mas nossas anteriores análises demonstraram que a debilidade de Goethe na metodologia das ciências naturais consiste precisamente no fato de que tenta aproximá-las muito da estética; por isto, o que lá era uma debilidade, torna-se aqui o mérito de um precursor. Diz Goethe: “Existe um empirismo sensível que se identifica intimamente com o objeto e torna-se, portanto, autêntica e verdadeira teoria”. Inclusive estilisticamente, salta à vista o contraste com Hegel: em Hegel temos a polêmica irônica contra a “sensibilidade” em face da realidade imediata; em Goethe, “o empirismo sensível”. Este contraste ilumina vivamente a relação entre forma fenomênica imediata e essência, respectivamente no reflexo científico e no artístico.
A generalização artística e a científica, como observamos várias vezes, seguem caminhos diversos. Na questão decisiva da relação entre fenômeno e essência, a especificidade da arte manifesta-se no fato de que a essência se dissolve completamente no fenômeno; e, na obra de arte, jamais pode ela assumir uma forma autônoma, separada do fenômeno, ao passo que na ciência pode estar separada dele — conceitualmente —, e as íntimas ligações lógicas, metodológicas e objetivas entre uma e outro não devem suprimir esta separação conceitual. A arte se revela, assim, mais próxima da vida do que a ciência. Isto corresponde à verdade enquanto a destruição consciente da figura autônoma da essência sublinha, na estrutura da realidade, o momento pelo qual a essência tem existência real apenas no fenômeno. Mas é só aparência, já que esta imanência da essência no fenômeno tem qualidades muito diversas na vida e na arte; na realidade, fenômeno e essência formam uma unidade real realmente inseparável, a grande tarefa do pensamento sendo a de extrair conceitualmente a essência desta unidade, tornando-a assim cognoscível. A arte, ao contrário, cria uma nova unidade de fenômeno e essência, na qual a essência está contida e imersa no fenômeno, tal como na realidade, e ao mesmo tempo penetra todas as formas fenomênicas de tal modo que, em sua manifestação, o que não ocorre na realidade mesma, elas revelam imediata e claramente a sua essência.
A ciência e a arte, portanto, transformam em algo existente para- nós a relação recíproca, que existe em-si na realidade, entre fenômeno e essência. A especificidade da arte, porém, consiste no fato de que na impressão imediata aparece conservada a estrutura da realidade, que ela consegue emprestar evidência imediata à essência sem lhe dar, na consciência, uma figura própria separada da forma fenomênica. Também esta característica da forma artística reflete um lado importante da realidade objetiva. Apenas o idealismo e o ceticismo negam a realidade do fenômeno, da aparência. A ciência, retornando ao fenômeno após ter extraído a essência, confirma-lhe conceitualmente a realidade. O mesmo é feito pelo materialismo dialético, que eleva à consciência a práxis científica. Diz Lenin:
Em suma, o inessencial, o aparente, o superficial, desaparece mais frequentemente, não é tão “sólido”, tão “firme” quanto a “Essência”. Por exemplo, o movimento de um rio — a espuma em cima e as correntes profundas em baixo. Mas também a espuma é expressão da Essência.(21)
E ainda:
A aparência é a Essência em uma de suas determinações, em um de seus aspectos, em um de seus momentos. A Essência parece ser precisamente isto. A aparência é o “aparecer” da própria Essência em si mesma.(22)
A especificidade do reflexo artístico da realidade é a representação desta relação recíproca entre fenômeno e essência, representação que faz surgir diante de nós, porém, um mundo que parece composto apenas de fenômenos, mas de fenômenos tais que, sem perder sua forma fenomênica, seu caráter de “superfície fugidia”, aliás precisamente mediante sua intensificação sensível em todos seus momentos de movimento e de imobilidade, permitem sempre que se perceba a essencialidade imanente ao fenômeno. A particularidade, que como centro do reflexo artístico, como momento da síntese de universalidade e singularidade, supera estas em si, determina a forma específica de generalização do mundo fenomênico imediato, a qual conserva suas formas fenomênicas, mas as torna transparentes, propícias à ininterrupta revelação da essência.
As manifestações evidentes deste caráter das obras de arte naturalmente eram há muito tempo conhecidas pela teoria. Mas, durante longo tempo, induziram a que se rechaçasse a “falsidade” da arte, a que ela fosse considerada como sendo uma “forma preliminar” e primitiva do conhecimento. Tão somente o desenvolvimento da dialética na filosofia clássica alemã levou ao reconhecimento e à valorização positiva desta real peculiaridade da arte, como seu caráter essencial e determinante. Diz Hegel:
A forma da intuição sensível pertence à arte, que confere à verdade a forma de representações sensíveis. Estas representações, como tais, têm um sentido e uma significação que ultrapassam a esfera puramente sensível; não se propõem, todavia, através destes meios sensíveis, tornar inteligível o conceito em toda a sua universalidade; pois é precisamente a unidade do conceito com o fenômeno individual que constitui a essência do belo e de sua produção por obras de arte.(23)
E, de acordo com isso, assim resume a definição do belo: “O belo se define, por isto, como o aparecer sensível da ideia”.(24)
Este foi um grande passo à frente no sentido da justa compreensão do fato estético. Mas também aqui, como sempre, os juízos e as intuições geniais de Hegel são deformados pelo seu idealismo. Já nos referimos ao fato de que, em sua concepção do fato estético como intuição, admite apenas — na intuição — uma superação da representação, mas não do conceito; portanto, nega que o conteúdo da arte contenha em si, como momento superado, a universalidade concreta, realmente explicitada. Deste modo, ele está de pleno acordo com sua filosofia da história da arte, que transforma a arte num estágio superado no curso do desenvolvimento da história humana. Mas a contraditoriedade deste seu princípio revela-se bruscamente quando trata dos grandes artistas pertencentes aos períodos que, segundo a estrutura do seu sistema, já haveriam ultrapassado a arte e, em particular, quando trata de Goethe. Mas esta contradição penetra também em suas considerações teórico-estéticas. Hegel define o verdadeiro como sendo a ideia, e esta “só é ideia universal pelo pensamento”. Mas “a ideia também deve se realizar exteriormente e adquirir uma existência determinada enquanto objetividade natural e espiritual”. Isto ocorre apenas no belo: “Desde que, assim exteriorizada, a verdade se oferece imediatamente à consciência e o conceito permanece inseparável da manifestação exterior, a ideia não só é verdade como também é beleza”.(25) Qualquer conhecedor de Hegel vê que ele realiza aqui o mesmo salto mortal da ideia à realidade que se verifica, no conjunto do sistema, no momento da passagem da lógica para a filosofia da natureza, e que, deste modo, mistifica todas as passagens e todas as relações.
Embora reconheça mais claramente do que todos os seus predecessores a dialética de fenômeno e essência na estética, Hegel encontra-se diante de um falso dilema: ou rebaixar a arte a uma mera “forma preliminar” do pensamento, ou elevá-la à essência da própria realidade. A causa última desta antinomia, deste retrocesso de suas grandiosas sugestões dialéticas, deve ser indubitavelmente buscada na concepção sistemática idealista de Hegel, no fato de que necessariamente lhe falta a teoria do reflexo. Mas um papel não indiferente é desempenhado também pelo fato de que Hegel — repetimos: não obstante as esplêndidas sugestões — não leva em conta a especificidade da generalização artística, que também considera o universal na arte em um sentido puramente lógico- filosófico. Deste modo, escapa-lhe a peculiaridade estética da dialética de fenômeno e essência; deste modo, desconhece a importância da particularidade na construção daquele mundo que a arte cria como reflexo da realidade, daquela particularidade que permite — e é a única a permitir — a fundamentação teórica da autonomia da arte e sua colocação no mesmo nível da ciência e da filosofia.
Um importante passo à frente com relação a Hegel pode ser encontrado na teoria estética de Bielinski. No ensaio “A ideia da arte”, que pertence ao período de transição do hegelianismo ortodoxo à filosofia materialista, ele fornece a seguinte definição: “A arte é a intuição imediata da verdade, ou um pensar por imagens”.(26) O importante, nesta lacônica formulação, é que ela abarca os dois lados do problema, tanto a unidade de pensamento e atividade artística quanto o caráter específico da arte. O termo “imediaticidade”, precisamente em sua aplicação à estética, deriva naturalmente de Hegel. Mas, anexando a este conceito o de “pensar por imagens”, Bielinski consegue formular a autonomia da arte de um modo muito mais decidido do que fora possível a Hegel. De fato, a “intuição” hegeliana, considerada quase como categoria específica da estética, contém a priori a subordinação hierárquica com relação à representação e ao conceito; Hegel tentou transformar a rígida hierarquia em relação dialética tão somente no que diz respeito à representação, mas não ao conceito. (Corresponde a isto o fato de que, em sua filosofia da história da arte, a relação entre religião e arte seja concebida de um modo muito mais dialético do que a relação contraditória e antinômica entre arte e filosofia. O fato de deixar este problema sem solução traz naturalmente consequências, neste campo, para a dialética de fenômeno e essência.)
Ao contrário, se Bielinski fala de “pensar por imagens”, isto implica colocar a arte no mesmo plano do “pensar por conceitos”. A debilidade da definição de Bielinski reside no fato de que, no tempo em que a formulou, mantinha-se no plano gnosiológico preso à identidade de sujeito-objeto e não chegara a conceber o reflexo da realidade objetiva. Ele diz: “...tudo o que existe, tudo o que chamamos matéria ou espírito, a natureza, a vida, a humanidade, a história, o mundo, o universo, tudo isto é pensamento que pensa a si mesmo”.(27) Este ponto de partida, idealista objetivo, obriga Bielinski a fundamentar tudo sobre tal pensamento — considerado como objetivo no sentido da identidade sujeito-objeto — e, por isto, em realidade, ele podia quando muito definir o processo artístico, mas não o fato estético objetivo. Dado que em sua definição inexiste a relação com a realidade objetiva real, ela capta certamente um momento importante do fato estético, mas tão somente um momento.
O grande passo à frente dado por Bielinski com relação a Hegel, portanto, consiste em ter fundado teoricamente a igualdade de direitos do fato estético, bem como — mediante o termo “imagem” — a sua especificidade, A segunda definição, ao mesmo tempo, distingue nitidamente a concepção da universalidade na arte e na ciência: o fato de que se trate de pensamento significa que uma e outra abarcam igualmente a universalidade; o fato de que seja um pensar por imagens estabelece a autonomia do fato estético. O termo “imagem” é inadequado porque ofusca a distinção entre singularidade e particularidade, já que ambas podem ser concebidas como imagem: a definição de Bielinski não oferece nenhuma indicação que possa estabelecer entre elas uma distinção teórico-estética. Isto o impede de elaborar corretamente uma dialética de fenômeno e essência, sobretudo porque o termo “pensar” atenua e confunde, de certo modo, os limites entre generalização artística e universalização filosófica. Em outra obra, Bielinski busca definir mais concretamente a arte e, em alguns detalhes, aproxima-se mais de sua essência, sem contudo superar inteiramente a debilidade fundamental daquela famosa definição. Diz Bielinski:
O objeto da arte é universal... Mas, a fim de não permanecer como uma ideia abstrata, o universal na arte — bem como na natureza e na história — deve se distinguir em fenômenos orgânicos separados. Por isto, toda obra de arte é algo particular, distinto, mas penetrado pelo conteúdo universal e pela ideia. Na obra artística, a ideia deve se fundir organicamente com a forma, tal como a alma com o corpo, de tal modo que destruir a forma significa destruir a ideia e vice-versa.(28)
No trabalho crítico, em muitas de suas análises particulares, Bielinski traça com exatidão muito maior este limite entre particular e singular. Mas aqui tratamos apenas da teoria da estética. Por outro lado, a fórmula do “pensar por imagens”, ainda que seja fundamental no sentido que indicamos, circunscreve intelectualisticamente conteúdo e forma. Estas debilidades da teoria de Bielinski se acentuam, naturalmente, na aplicação que dela fizeram, depois dele, outros pensadores.
Não é um acaso, por certo, que os grandes continuadores de sua obra, Tchernichévski e Dobroliubov, não tenham partido desta definição. De fato, ao definir a essência da arte, a dissertação de Tchernichévski, “A relação estética entre arte e realidade”, na qual a nova posição materialista em face da realidade é pela primeira vez colocada no centro da concepção estética, não parte do conceito do “pensar por imagens”, mas do conceito da imitação, da reprodução da realidade.(29)
Este excursus na história da teoria estética se fazia necessário, a fim de demonstrar, de outro ponto de vista, que uma demonstração gnosiológica da autonomia da arte, ao lado do conhecimento científico da realidade, só é possível sobre a base de uma teoria materialista do reflexo. De fato, tão somente a concepção dialético-materialista permite captar conceitualmente, nesta relação recíproca de essência e fenômeno, a proximidade da vida e, ao mesmo tempo, a separação da vida cotidiana, o retorno à imediaticidade que ocorre precisamente como decorrência de sua superação, a presença constante da essência, a qual, porém, não se coagula em forma autônoma. Os pensadores que analisamos demonstram como os esforços grandiosos realizados antes do surgimento do materialismo dialético não atingiram a plena compreensão destes problemas. As considerações feitas sobre a dialética de essência e fenômeno levaram-nos a concretizar esta doutrina em outro importante ponto. Nesta dialética, de fato, conseguimos explicar a real peculiaridade do reflexo artístico da realidade, tanto em sua concordância como em sua oposição ao reflexo científico. Pretendemos agora concretizar ainda mais as definições obtidas, de modo a fazer com que este caráter do reflexo estético surja claramente nas manifestações mais decisivas que dele decorrem; através desta concretização, poderemos também deduzir da teoria do reflexo, mais claramente do que até agora foi possível, a essência da originalidade artística.
Examinando a reprodução estética das relações dialéticas entre fenômeno e essência, vimos que um dos mais indispensáveis pressupostos do surgimento de autênticas obras de arte é o mais penetrante e compreensivo aprofundamento possível da essência. A respeito da originalidade artística, já nos foi possível estabelecer que ela significa, em primeiro lugar, descoberta e revelação do novo, tomada de posição a favor do novo na luta entre o que nasce e o que morre. Agora é possível concretizar ainda mais: a real originalidade artística implica também que se capte precisamente a essência do fenômeno novo, e isto deve ocorrer de acordo com o caráter específico do reflexo estético tal como o explicamos, isto é, não simplesmente descobrindo as leis gerais que se revelam no surgimento do novo, como é o caso nas ciências, nem simplesmente constatando novos fenômenos ou elevando-os a problemas, como costuma ocorrer nas ciências quando a descoberta de novas leis ainda está na fase preliminar, mas sim representando destinos particulares de homens particulares, refletindo situações e eventos do mundo objetivo que mediatizem estas ou aquelas relações entre os homens e que, por sua vez, se transformem com a transformação destas. O valor estético destas representações depende, em primeiro lugar, da sensibilidade, da profundidade e da amplitude com as quais o artista sabe captar a direção na qual tais particularidades se movem, transformando-se, bem como representá-la de um modo adequado à sua novidade.
Concedemos uma posição central ao momento da novidade, em vista do problema que nos interessa, porque precisamente este momento possui um peso de primária importância para o valor duradouro de uma obra. Mas só na condição de ser concebido universalmente, de acordo com a universalidade do mundo artístico, ou seja, somente quando o surgimento do novo é realmente entendido como transformação (que pode ser eventualmente o início da transformação, o primeiro germe das forças que deverão produzir a transformação). Analisando a mais intensa forma de surgimento do novo, a revolução, Lenin define sua característica essencial:
Só quando os “de baixo” não querem e os “de cima” não podem continuar vivendo à moda antiga é que a revolução pode triunfar. Em outras palavras, esta verdade exprime-se do seguinte modo: a revolução é impossível sem uma crise nacional geral (que afete explorados e exploradores).(30)
A exigência desta universalidade — tal como Lenin a expressa do ponto de vista do conhecimento científico e da práxis política — tem as mais amplas consequências no campo da estética: o novo, assim considerado, é um fenômeno histórico global, uma transformação que abraça e penetra a totalidade da vida social. Quando artistas de menor dimensão — de acordo com sua orientação social — voltam a atenção exclusivamente para momentos novos e os inserem em um ordenamento social velho, substancialmente imodificado ou esquematicamente descrito, ou, defendendo o velho, representam o novo de um modo falso, calunioso, sem ver seus lados positivos, quando isto ocorre, surge, por se ter um conteúdo castrado, uma forma pobre e esquemática. Uma outra consequência desta renúncia à verdadeira universalidade do novo é que, na maioria dos casos, o velho e o novo não mais se opõem como duas formas do ser social, não representam a luta de forças sociais reais, mas empalidecem, na obra de arte, mediante o contraste entre um ser e um mero dever-ser (ou não-dever-ser).
Os artistas realmente notáveis, pelo contrário, concebem sempre o novo como fenômeno universal, como uma potência social realmente ativa: a dissolução dos velhos estratos já dominantes ou ainda dominantes aparece no justo nível de sua desagregação interna, ao passo que o novo é representado na forma desenvolvida ou puramente embrionária que possui efetivamente no momento do desenvolvimento que é figurado. A composição é determinada concretamente pelas reais e múltiplas influências recíprocas destas componentes existentes. Walter Scott, e após ele Balzac, representaram deste modo a Inglaterra e a França, respectivamente, durante e após a Revolução; ao quadro por eles fornecido, pertencem organicamente tanto a degradação e decomposição interna, política e humana, dos seguidores dos Stuart e da aristocracia legitimista, quanto a firmeza heroica, que então surge em cena, dos puritanos e dos jacobinos.
Mas, também aqui, a requerida universalidade do conteúdo ideal não impõe absolutamente que a realização formal contenha uma totalidade enciclopédica: a totalidade dinâmica pode muito bem iluminar uma supremacia imediata no processo da dissolução do velho ou do nascimento do novo; a justeza e a força de convicção dependem, exclusivamente, do modo pelo qual cada obra de arte torna evidente, em suas consequências, tanto o momento que prevalece quanto os movimentos reais do momento que não aparece diretamente, ou que aparece apenas no fundo. Assim, em A Mãe, Gorki representou o nascimento do novo através, sobretudo, da figuração imediata de homens novos, que se desenvolvem neste sentido da novidade; em A Família Artamánov, ao invés, observou a mesma matéria, mas do ponto de vista da dissolução do velho. Muito similar é o caso de Cholokhov em O Don Silencioso. Estas proporções podem variar quase ao infinito, o que demonstra que a prioridade do conteúdo tomada como critério — aqui a universalidade e a justeza do novo em sua essência – e baseada no sentido estético real não impede a variedade e a originalidade da forma, mas, pelo contrário, as favorece.
A teoria estética da burguesia decadente, de acordo com sua natureza de classe, não aceita critérios deste tipo. Compreende-se que uma classe que, se ousa levar ao fim os pressupostos atuais de sua concepção do mundo (o que naturalmente ocorre muito raramente), só consegue produzir sentimentos de desespero total por causa do caos que a envolve, tão somente visões de dissolução; uma classe que, em sua produção normal, expressa tão somente por modos diversos a fuga em face da essência da realidade, através de meios refinados ou grosseiramente demagógicos; compreende-se que uma tal classe não queira tomar conhecimento de um critério centrado sobre a justificação de um futuro que, no presente, é reconhecido frequentemente apenas como perspectiva. Marx, ao contrário, considerava como o maior mérito de Balzac o seguinte:
Balzac não foi apenas o historiador de sua época, mas o criador profético de personagens ainda embrionários nos dias de Luís Felipe e que só desabrochariam completamente depois de sua morte, no governo de Napoleão III.(31)
Do ponto de vista burguês, sobre o qual falamos, afirma-se que considerações como as nossas não levam em conta a forma artística; consequentemente, tomam-se como critério as inovações formais, as “revoluções” no problema da forma. Em oposição, podemos facilmente responder que, a nosso ver, toda forma artística é forma de um conteúdo determinado. Por isso uma forma real e essencialmente nova só pode também ser criada a partir de um conteúdo de ideias substancialmente novo; nossa finalidade era, precisamente, estudar os critérios desse conteúdo autêntico e significativo. (Sobre as questões específicas da forma, só poderemos nos deter mais amplamente em outro contexto, após ter esgotado o nosso atual tema.) Os entusiastas das “revoluções na forma” frequentemente se esquecem do fato de que sua validade tem uma brevíssima existência. O desenvolvimento da arte no último meio século assistiu, pelo menos, a uma dezena destas “revoluções”, cujas “inovações históricas” têm sido na maioria das vezes inteiramente esquecidas após poucos anos, já que as suas produções perderam em pouco tempo qualquer interesse. Isto não deve ser atribuído ao acaso, nem a uma rápida modificação das modas. Por trás de cada modificação na forma, ainda que os “revolucionários” do caso possam não tê-lo percebido, esconde-se uma transformação do conteúdo da vida. O importante é ver onde e como os artistas captam este conteúdo da vida: se estudam a fundo as modificações na própria vida e elaboram a fundo o seu novo conteúdo, a fim de procurar e encontrar, portanto, a nova forma adequada ao novo conteúdo, ou se se contentam com os fenômenos imediatos e superficiais da vida e proclamam que uma forma aparentemente adequada a estes fenômenos superficiais é algo “radicalmente novo”. Esta nova forma, portanto, por mais pesquisada e rebuscada que possa ser, é também o reflexo de determinados fenômenos novos da vida, mas de fenômenos meramente superficiais; os “inovadores” captaram apenas um pedaço, uma pequena margem, um fragmento do que é realmente novo; destacaram-no artificial e metafisicamente do passado e da perspectiva do futuro, da verdadeira luta histórico-social entre o velho e o novo: por isto, não estão em condições de captar no novo, inclusive no que diz respeito ao aspecto artístico formal, os traços permanentes que indicam realmente o futuro ou que caracterizam profundamente a crise do presente; por isto, sua nova forma “revolucionária” é inteiramente superficial e deforma precisamente o novo, é uma forma que restringe e falsifica a essência do novo.(32)
Com isto, chegamos a uma questão de grande importância para a história da eficácia da arte: a questão da sobrevivência ou da transitoriedade das obras de arte. Aqui surge novamente, desta vez do ponto de vista da eficácia, a profunda diferença entre reflexo científico e reflexo artístico, ainda que sempre sobre a base da identidade da realidade refletida. Em ambos os casos, pode sobreviver tão somente o que possui uma importância atual para o presente. Na ciência, um conhecimento falso ou imperfeito é sempre substituído por um mais correto e mais compreensivo. O que ocorre no mundo da arte, ao contrário, nada tem a ver com esta substituição de um produto por outro.
A influência exercida por uma obra de arte no tempo depende da maior ou menor justeza e força compreensiva com as quais é refletida a realidade, da profundidade e da paixão com as quais é captado o essencialmente novo, com as quais é elaborado o conteúdo ideal, da capacidade de encontrar uma forma nova na qual este novo encontre expressão adequada, uma forma que unifique, em uma perfeita harmonia orgânica, a especificidade (a particularidade, a essência determinada e concreta) deste novo com as condições formais gerais de uma eficácia duradoura, com as leis do gênero artístico em questão. Para a eficácia de determinada obra, não tem importância o fato de que esta complicada harmonia de conteúdo e forma seja ou não realizada também em outras obras, que esta ou aquela obra realize tal harmonia em maior ou menor medida.
Com isso, afirma-se de modo geral como a possibilidade de conservar validade é substancialmente diversa para uma proposição científica (ou para um sistema de proposições) e para uma obra de arte: por um lado, temos na ciência uma interpenetração relativamente contínua, uma contínua correção recíproca, um intercâmbio de tentativas visando a se aproximar o mais possível da verdade objetiva; por outro lado, na arte, temos obras autônomas, essencialmente independentes umas das outras (e isto vale também para as diversas obras do mesmo artista), que conseguem exercer uma eficácia duradoura por “força própria” ou que são esquecidas por causa dos próprios defeitos. (A fim de evitar mal-entendidos, é necessário sublinhar que falamos aqui tão somente da vitalidade estética das obras de arte; para nossa questão, não tem importância o fato de que a história literária, a filologia, a historiografia, etc. estudem a fundo as produções artísticas como documentos de sua época, e tampouco o fato de que mesmo neste campo, como em todos os outros, apareçam em grande quantidade fenômenos de transição, que possuem aspectos eficazes em parte do ponto de vista documental, em parte do estético.)
Mas, se atribuirmos a estas causas a eficácia duradoura das obras de arte, não terminaremos caindo na anarquia subjetivista? Não terminaremos negando que a eficácia artística seja de acordo com as leis sociais? Acreditamos, ao contrário, que é precisamente reconhecendo e valorizando teoricamente este dado real que se confirma e se aprofunda esta conformidade às leis, que ela é compreendida em sua justa objetividade. De fato, tão somente a teoria burguesa da decadência vê algo anárquico e irracionalista no oposto negativo da duração, na transitoriedade, ou busca suas causas no fato puramente estético, nos problemas da “pura” forma. Na realidade histórico-social, uma obra de arte envelhece através de um processo inteiramente diverso. Toda obra é o reflexo artístico de um processo do qual se revela com clareza tanto a proveniência quanto a destinação, no qual o desenvolvimento dos homens, a evolução de seus destinos, sua valorização artística na obra fornecem os princípios últimos da composição, da forma.
A obra, portanto, aparece como uma reprodução abreviada, compacta, da representação que o artista faz, no trabalho criador, do caminho percorrido pelo desenvolvimento da humanidade. A obra, com sua generalização artística no particular, eleva por certo a matéria representada, depurando-a de tudo o que contém de cotidiano, e empresta-lhe uma vida própria fundada aparentemente sobre si mesma, que repousa em si mesma. Esta aparência realmente existente, no sentido indicado por Lenin, é exagerada nas teorias de l’art pour l’art., transformada em princípio único fundamental e, portanto, falsificada. Mas esta elevação do mundo cotidiano a uma esfera autônoma é uma pura aparência — ainda que seja uma aparência existente —, na medida em que é o verdadeiro pressuposto para o retorno da arte à vida, para sua ativa eficácia na realidade social. De fato, somente através desta elevação na esfera da generalização artística (do particular, do típico) das figuras e dos eventos, de seu modo de atuação, de sua direção e de sua perspectiva, de sua causa, somente assim a obra de arte torna- se uma reprodução da vida na qual os homens encontram a si mesmos e aos seus destinos, explicitados mediante uma profundidade, uma compreensividade e uma clareza que não podem ocorrer na própria vida. Apenas de uma forma elaborada sobre esta base podem as obras de arte extrair sua apaixonante eficácia. Jamais se deve esquecer, porém, que esta eficácia ocorre, em primeiro lugar, porque no mundo representado pela arte os homens revivem e reconhecem, com emoção, a si mesmos, aos seus destinos típicos, à sua direção, e que, por isto, o pressuposto indispensável desta eficácia, na representação do típico, é a justeza do conteúdo. Mas, na realidade presente, as proporções, a direção e, sobretudo, a perspectiva do típico jamais podem ser fixadas com exatidão matemática. A genialidade do artista consiste em pressentir esta direção dos eventos, em adivinhar o que ele prevê como perspectiva e que, um dia, surgirá como realidade. Por isso, Marx fala de “figuras proféticas”; e Stalin completa corretamente e concretiza este conceito do seguinte modo:
O que interessa, sobretudo, ao método dialético não é o que num dado momento parece estável e principia já a morrer, mas o que nasce e se desenvolve, embora, em certo momento, pareça pouco estável.(33)
Stalin ilumina aqui corretamente o coeficiente de incerteza que delimita com exatidão a possibilidade de erro no que diz respeito ao presente e ao futuro. Se aplicarmos isto à arte, veremos a causa por que tantas obras importantes, no que toca ao conteúdo e à forma, envelhecem. Dado que, no curso do desenvolvimento, muitas coisas que no presente parecem débeis e passageiras podem se tornar mais tarde o sólido fundamento de inteiras formações sociais novas, enquanto muitas outras que, quando apareceram pela primeira vez, pareciam irresistivelmente fortes, caíram entretanto merecidamente no esquecimento por serem episódios insignificantes. O próprio futuro torna-se a unidade de medida para julgar se o presente foi ou não compreendido e valorizado corretamente. Nestas condições, encontra-se naturalmente qualquer reflexo da própria época na consciência humana, tanto o científico quanto o artístico. Um e outro se encontram nas mesmas condições inclusive na medida em que não é possível ter antecipadamente consciência de quais serão os fatos do futuro, de sua fisionomia realmente concreta; mesmo um crítico genial da vida contemporânea, como era Fourier, caía em uma pueril ingenuidade quando pretendia traçar os contornos da vida futura em seus detalhes reais. Para o verdadeiro pensamento científico, ao invés, é perfeitamente possível estender também ao futuro os princípios por ele descobertos no passado e no presente, segundo os quais se afirmará a validade das leis; mas se deve ter em conta que, quando se trata de generalizações levadas ao limite máximo, só podem ser fixadas conceitualmente as relações mais gerais, mais essenciais. Que seja possível se chegar a isto, é o que é demonstrado, por exemplo, pelas explicitações de Marx — na Crítica do Programa de Gotha — sobre as características essenciais dos dois períodos do socialismo e da passagem para ele, a ditadura do proletariado.
A possibilidade de prever o futuro é, na arte, de uma espécie qualitativamente diversa. Também aqui é confirmada a diferença que estabelecemos entre as duas modalidades de reflexo. Enquanto na ciência a previsão do futuro só é possível mediante o mais alto, puro e concreto modo de ser da universalidade, na criação artística chega-se a ela através do reencontro, igualmente perfeito, da particularidade. A veracidade das perspectivas da obra de arte, portanto, consiste no seguinte: o particular (típico) representado na obra deve se revelar como momento exatamente previsto, como momento necessariamente conservado na continuidade do desenvolvimento da humanidade. Por muito tempo, este fato foi transformado em fetiche, recebendo uma formulação metafísica através do conceito do “universalmente humano”, mas a crítica contrária, em si justificada, caiu no mais das vezes no relativismo, negando também a continuidade da história humana e, nesta, a conservação dos pontos nodais típicos. Deste modo, contudo, nega-se a validade duradoura das grandes obras de arte — o que é um fato histórico objetivo — ou é-se obrigado a recorrer a construções artificiosas e retorcidas (como a de Spengler, sobre a “contemporaneidade” do devenir e da evolução de diversos ambientes culturais), quando não se chega mesmo a afastar totalmente a questão, exagerando-se formalisticamente a importância da perfeição formal e introduzindo-se assim um fetiche ainda mais falso do que o “universalmente humano”.
Trata-se, portanto, de uma representação que figure os homens e seus destinos, tanto do ponto de vista do conteúdo quanto do das proporções, de tal modo que correspondam realmente à sua sobrevivência no desenvolvimento da humanidade e que, por isto, sobretudo por isto, possam ser revividos em qualquer época, quando as causas, os pressupostos, o modo de manifestação histórico-social destes homens e destinos tiverem sido há muito esquecidos. Como exemplo típico, como pendant artístico da previsão científica do futuro exemplificada no caso de Marx, pode ser citada a Antígona de Sófocles. Nesta obra, são corretamente intuídas precisamente as proporções dos destinos humanos, dos problemas morais; a trágica vitória de Creonte e a trágica derrota de Antígona são profunda e duradouramente justas, do mesmo modo como são justos a humana superioridade moral de Antígona sobre Creonte e o espírito progressista racional e político de Creonte em face de Antígona. Mas tais proporções não são justas do ponto de vista “humano universal”, como se a tragédia de Sófocles fosse uma representação resumida universal de contrastes “eternos” (por exemplo, entre moral estatal e moral privada, etc.); não, o conflito tem uma limitação, determinação e particularidade históricas precisas. Thomson vê corretamente que, já na variante esquiliana da lenda, “o clã desaparece, o Estado sobrevive”.(34) Este é também o fundo da Antígona de Sófocles. Mas enquanto Ésquilo representa esta mesma modificação, a dissolução do clã e sua consequente derrota, deixando aparecer o surgimento do Estado tão somente como resultado final e como perspectiva, em Sófocles tudo isso é já um simples pressuposto e o drama tem como objeto exclusivamente o choque moral entre a ética do antigo e a ética do novo.
O conteúdo de Antígona é profundamente justo porque Sófocles, representando convincentemente a inevitável derrota, fazendo ressaltar energicamente o direito social do novo, mostra na figura de Antígona, mediante um pathos apaixonante, os valores morais perdidos pela humanidade nesta necessária superação, progressista em última análise, da sociedade gentílica. Friedrich Engels deu uma formulação científica geral ao problema representado por Sófocles:
O mais reles dos beleguins do Estado civilizado tem mais “autoridade” do que todos os órgãos da sociedade gentílica juntos; no entanto, o príncipe mais poderoso, o maior homem público, ou general, da civilização pode invejar o mais modesto dos chefes de gens, pelo respeito espontâneo e indiscutido que lhe professavam.(35)
Trata-se aqui de um problema humano e moral que, em sua contraditoriedade, atravessa toda a história da sociedade de classes. A construção dramática de Sófocles, com a grandiosa justeza de suas proporções, a maravilhosa vitalidade de todas as figuras, o pathos de Antígona e Creonte, poderiam erguer-se tão somente sobre uma tal base.
Tem pouca importância o fato de que, quando se deu a esta eficácia permanente uma formulação conceitual, muito raramente se penetrou no conteúdo histórico da matéria e, ao contrário, muito frequentemente se entendeu de um modo inteiramente diverso o conteúdo de tal eficácia (se bem que Hegel, por exemplo, tenha visto com relativa clareza o conflito real); o que importa sobretudo nesta eficácia é que o conteúdo e a forma sejam apropriados como coisas vivas: então, o significado deste conflito moral, a figura de Antígona, etc., podem ser sentidos corretamente, mesmo que a motivação histórica dada à experiência estética seja falsa. (Falaremos, logo mais, do desenvolvimento desigual ocorrido frequentemente com esta eficácia.) Inteiramente errado, ao contrário, é derivar esta eficácia permanente da perfeição dramatúrgica da forma. Sófocles, aliás, possui uma estrutura dramática de tal modo natural e definitiva que quase todas as reelaborações (até a de Anouilh) tiveram de repeti-la sem grandes modificações. Contudo, dado que nestas reelaborações o pathos de Antígona e de Creonte carece necessariamente de sua real base histórico-social, estas grandiosas figuras, vivas e típicas, transformaram-se nos dramas posteriores, a depender dos casos, em marionetes acadêmicas ou em tipos extravagantes e excêntricos.
Do mesmo modo — e aqui a coisa é ainda mais evidente — as obras de arte envelhecem de acordo com a justeza, com a justa proporcionalidade com a qual é vista a essência histórico-social da luta entre o velho e o novo. As justas proporções inexistem mais facilmente, mesmo nos mais talentosos artistas, quando modificações sociais, sobretudo em períodos de transição, produzem preconceitos em massa, dos quais caem facilmente vítimas artistas que possuem uma visão do mundo confusa, decorrente de uma visão classista e unilateral das contradições e das lutas da época. Também aqui podemos citar um exemplo típico: O Pato Selvagem, de Ibsen. Sem dúvida, este é o seu drama mais profundamente vivido, mais apaixonadamente autocrítico. Mas o anarquista pequeno-burguês Ibsen oscila entre uma concepção trágica e uma concepção cômica de suas figuras e de seus conflitos. Esta oscilação, este intricado compenetrar-se e alternar-se de perspectivas e pontos de vista contraditórios, foi seguramente uma das causas da forte influência por ele exercida sobre os contemporâneos, que viviam, se isto é possível, em uma confusão ainda mais profunda. Esta oscilação contém a correta compreensão da autodestruição dos ideais burgueses, aliada a uma completa incompreensão no que diz respeito às verdadeiras causas desta dissolução.
Mas a evolução destrinchou o que aparecia em Ibsen como irremediavelmente intricado e, à luz desta realidade, os homens e os eventos de O Pato Selvagem revelaram-se não como reflexos corretos de deformações humanas, mas como deformações e complicações artísticas de tipos e problemas dos quais a história já tornara evidente a valorização positiva ou negativa. (Para evitar equívocos, é interessante sublinhar que, do ponto de vista dramatúrgico-formal, O Pato Selvagem é uma perfeita obra-prima.) Basta pensar em Cervantes para se ver claramente estas debilidades de Ibsen (derivadas de uma concepção pouco clara do mundo, da incerteza pequeno-burguesa), estas debilidades do notável artista dramático. A concepção resolutamente cômica do Dom Quixote, determinada pela decisiva tomada de posição de Cervantes na luta entre feudalismo moribundo e mundo burguês nascente, não apenas permite à comicidade da representação desenvolver-se sem distúrbios até a destruição humana do que está superado, mas permite também que a integridade humana subjetiva de Don Quixote, sua pureza, sua coragem, sua retidão, surjam claramente, a ponto de aflorar o trágico, em contraposição à intensa inferioridade moral do mundo real, o qual, por histórica necessidade, rechaça o seu mundo fantástico e o dissolve entre risos. Em Cervantes, portanto, o positivo e o negativo, o trágico e o cômico, reforçam-se reciprocamente, ao passo que em Ibsen debilitam-se mutuamente. A razão decisiva pela qual uma obra conserva uma eficácia permanente, enquanto outra envelhece, reside em que uma capta as orientações e as proporções essenciais do desenvolvimento histórico, ao passo que a outra não o consegue.
Naturalmente, como já assinalamos, as obras de arte conservam sua eficácia ou envelhecem mediante um processo extremamente desigual. Nas anteriores considerações, abstraímos intencionalmente estas desigualdades e podíamos fazê-lo, já que as conclusões às quais chegamos conservam sua validade histórica, ainda que tão somente no nível dos princípios, representando em certo sentido uma direção tendencial e não uma chave para resolver todas as questões singulares concretas que se apresentam na história da eficácia das obras de arte. Tais questões, é claro, estão fora de nossas presentes investigações. Limitar-nos-emos, portanto, a esclarecer o seu aspecto mais importante do ponto de vista teórico geral. Toda cultura de uma classe, no curso da história que se processou até hoje, recebe sempre, como tradição do passado, uma massa maior ou menor de obras de arte. Uma parte desta massa se torna, em cada oportunidade, viva possessão estética de uma dada cultura, e a escolha desta parte depende, em primeiro lugar, das necessidades ideológicas do momento. O ponto de vista por nós esclarecido tem nisto uma importância decisiva, na medida em que uma época se apropria sobretudo do que permite, por experiência direta, uma imediata passagem do presente ao passado e às perspectivas do futuro. Revela-se aqui a continuidade, por nós sublinhada, do decurso histórico; só pode conservar viva eficácia uma arte que possa ser sentida como reprodução do próprio passado. Toda cultura tem por divisa, portanto, a frase de Molière: “Je prend mon bien où je le trouve”.
Contudo, dado que o curso objetivo da história não é uma evolução retilínea, dado que as classes que determinam a cultura são com frequência parcial ou inteiramente reacionárias, e que inclusive o progresso no âmbito das sociedades de classe tem um caráter necessariamente contraditório (de modo que é também aqui válida a lei fundamental do desenvolvimento da natureza inorgânica, formulada por Engels: “todo progresso na evolução orgânica é, ao mesmo tempo, um retrocesso”,(36) a arte de uma época precedente é acolhida ou rechaçada pela época sucessiva de uma maneira contraditória, determinada pelas relações de classe. Por isto, a interpretação da arte antiga esteve sujeita a múltiplas deformações e equívocos. Basta recordar a disputa em torno de Homero e Virgílio, nos séculos XVII-XVIII, quando nas tomadas de posição favoráveis ou contrárias, em suas motivações conteudísticas e formais, expressava-se a luta entre cultura cortesã-feudal e cultura burguesa em ascensão. Tão somente com o fim da “pré-história da humanidade” (Marx), com o surgimento da cultura socialista, torna-se possível assumir uma atitude correta também em face da história da arte.
Todas estas diferenças, ou melhor, estes contrastes entre o modo científico e o modo artístico de refletir a mesma realidade objetiva reenviam sem exceção ao aspecto específico da arte, ao qual já nos referimos muitas vezes: a individualidade da obra, que é em si concluída, repousa sobre si mesma, é em si autônoma, age imediatamente apenas através de si mesma. Também aqui não é difícil indicar o contraste com o reflexo científico da realidade. As proposições e as leis de uma ciência — e, no fim das contas, de todas as ciências — formam um continuum. Toda nova proposição só se pode demonstrar como válida no contexto desta totalidade. Isto significa que toda nova proposição deve estar em harmonia com todas as proposições e leis já verificadas; no caso de surgir alguma contradição, a nova proposição ou é errada (ou, eventualmente, incompleta, formulada insuficientemente, etc.) ou obriga a que as proposições que a contradizem sejam revistas e, a depender do caso, rechaçadas, expressas diversamente, etc. Já Aristóteles afirmava corretamente: “É impossível que um mesmo predicado convenha, e ao mesmo tempo não convenha, a um mesmo sujeito e numa mesma relação”.(37)
Esta estrutura fundamental do reflexo científico não tem analogia no estético. Para evitar qualquer equívoco, observaremos preliminarmente — para depois voltarmos a isto mais detalhadamente, ao falarmos da análise da estrutura do mundo — que contradições entre coisas que se excluem reciprocamente podem muito bem existir no interior de uma obra. Afirma-se, por exemplo, que um personagem contradiz a si mesmo, que em um quadro a luz é contraditória, etc. Nestes casos, pode se tratar tanto de contradições no conteúdo como de contradições na forma. Os primeiros consistem em uma falta de concordância com a verdade da vida; representam, portanto, antes uma falsidade do que uma contradição. Os segundos surgem quando o artista é incapaz de representar adequadamente na obra, como contradição em movimento, uma contradição da vida. Quando se tem uma representação realmente artística de reais contradições da vida, é mesquinharia querer falar de contradições, de impossibilidades, como frequentemente se faz a propósito do início do Rei Lear de Shakespeare. Goethe nos dá uma inteligente análise do modo pelo qual um grande artista — Rubens — sabe reduzir à harmonia artística algo realmente contraditório.(38) Se dois pintores figuram diversamente a mesma paisagem ou retratam diversamente a mesma pessoa, não existe contradição no sentido indicado. Naturalmente, uma das obras (ou ambas) pode carecer de valor artístico, mas então cada uma delas deve ser julgada de acordo com os métodos acima indicados. Naturalmente, em ambos os casos, o critério decisivo de julgamento é, como vimos, o da profundidade, da justeza, da compreensividade, da riqueza, da ordem, etc., com as quais a realidade é refletida; mas é possível tanto que ambas as obras sejam bem realizadas deste ponto de vista, como que nenhuma delas o seja. Naturalmente, pode-se fazer também uma comparação entre elas e julgar que uma é artisticamente superior à outra. Todas estas coisas, e outras ainda, verificam-se continuamente — e com todo direito — na prática da história literária e artística. Mas é claro que, por trás de todo julgamento desta espécie, deve sempre estar a fundamental experiência estética das referidas obras singulares, tomadas em si; e que nesta experiência, sobretudo, quem julga está inevitavelmente em face, sempre e apenas, de uma determinada obra; a comparação entre as obras pressupõe sempre esta base preliminar, sem a qual escaparia a quem julga precisamente a essência estética das obras confrontadas, e o seu julgamento, a sua comparação, seria privada de valor estético.
Esta peculiaridade da arte se revelará ainda mais claramente, talvez, se dermos aos nossos exemplos um caráter mais concreto. Sempre que diversos artistas reproduziram a mesma realidade, refletiram-na e a representaram de um modo qualitativamente diverso no que diz respeito à criação dos tipos, chegaram a resultados frequentemente muito divergentes quanto à perspectiva: mas não se pode dizer que exista contradição, no sentido aristotélico citado, entre as representações que Balzac e Stendhal deram do período da Restauração e da monarquia burguesa, entre as narrações que Turgueniev e Saltikhov-Tchédrin fizeram da dissolução da servidão da gleba na Rússia. Ninguém pretenderá negar as diferenças. Balzac, por um lado, é um partidário da Restauração; por outro, traça um quadro penetrante e tenebroso da degradação capitalista da nobreza, que em sua maioria é composta de arrivistas e de prostitutas, enquanto os que se atêm às concepções e à moral da antiga nobreza aparecem como muitos Quixotes fora da realidade. Stendhal, por um lado, é violento adversário da Restauração; por outro, faz surgir, na figura de Mathilde de la Mole, as virtudes e as paixões incorrompidas desta velha nobreza. O mesmo vale para a época da monarquia burguesa. Em Balzac, sobre o terreno da moralidade consciente e laboriosa dos burgueses, camada oprimida durante a Restauração, florescem todos os sintomas de decomposição ideológica da burguesia posterior (Popinot, Crevel, etc.); já em Stendhal, a família do banqueiro Leuwen representa os valores morais e culturais que a burguesia traz consigo do século XVIII e que serão a base, segundo a perspectiva de Stendhal, de uma futura cultura burguesa. Por outro lado, em Balzac, o caráter nefando da monarquia burguesa, demonstrado no massacre de trabalhadores fundadamente descontentes, jamais aparece em cores tão violentas como em Stendhal, etc. Obter-se-iam contrastes análogos se se contrapusesse Turgueniev a Saltikhov-Tchédrin. Neste local, onde tais contrastes só nos interessam como exemplos, mencionaremos tão somente o humor crepuscular, melancólico e lírico de Turgueniev, ao lado do tom cruelmente satírico de Saltikhov-Tchédrin, ao negro carregado de Os Senhores Golovlíov.
O dado real da “contradição” parece, portanto, demonstrado; mas o quadro muda se, ao invés de tomar momentos singulares, porquanto característicos, confrontarmos toda a obra de um dado artista com a realidade histórica por ele refletida. Ao refletirem as tendências fundamentais e decisivas de suas épocas, as obras dos vários artistas, tomadas em seu conjunto, convergem muito mais do que aparecia à experiência estética imediata suscitada pelas obras singulares. Toda crítica realmente grande, que tenha sido capaz de abraçar a literatura ou a arte em suas mais amplas conexões históricas, na unidade de arte e vida social, alcançou resultados desta natureza. No mais alto estilo, a isto chegou Dobroliubov em seu ensaio sobre o oblomovismo, no qual o Oniéguin de Púshkin, o Petchorin de Lermontov, o Belthov de Herzen, o Rudín de Turgueniev e o Oblomov de Gontcharov(39) aparecem como a série histórica de desenvolvimento de um mesmo tipo na evolução da sociedade russa.
Por certo, colocar-se-á aqui de imediato a objeção: é esteticamente legítima uma síntese deste gênero? Não violentará ela a essência da arte, a especificidade artística das personalidades poéticas e, portanto, das individualidades das obras de arte? É claro, sem nenhuma dúvida, que a atual teoria burguesa da arte responderia afirmativamente a esta pergunta. Deve responder afirmativamente porque assim o impõe a ligação imediata por ela estabelecida entre subjetividade e obra, a identificação da subjetividade com a individualidade da obra de arte, a equiparação entre a particularidade imediata do sujeito criador e este mesmo sujeito visto em sua real criatividade estética. Mas é igualmente claro que para nós, que já criticamos e refutamos muitas vezes esta concepção, a solução deve ser diferente e muito mais complexa.
Inicialmente, devemos nos reportar às nossas considerações sobre a originalidade artística. Estabelecemos que esta é inseparável do reflexo fiel e da representação fiel da realidade objetiva; nossas considerações sobre a essência e o fenômeno nos levaram a precisar este princípio no sentido de que o principal fundamento da autêntica subjetividade e originalidade artísticas é e deve ser a correta compreensão e a correta reprodução da essência da realidade. Com isto, a nossa resposta apresenta motivações e destaques muito diversos dos da burguesa: se o fundamento indispensável da individualidade da obra artística é a profunda e correta reprodução da realidade objetiva, então Dobroliubov não está absolutamente fora do campo da estética.
Todos os caminhos percorridos pela verdadeira arte provêm da realidade social; todas as estradas percorridas pela justa eficácia exercida pela obra, por isto, devem reconduzir à realidade social. Portanto, é perfeitamente legítimo — mesmo do ponto de vista estético — considerar as maiores obras de arte como importantes pontos de orientação para indicar o desenvolvimento da vida social, tal como o fez Dobroliubov. Quanto mais significativas forem estas obras do ponto de vista artístico, tanto mais claramente iluminarão os caminhos da evolução da humanidade. É evidente que este modo de julgar ultrapassa o fato estético imediato. Veremos em seguida, contudo, que a necessidade de ultrapassar desta forma os limites do fato estético imediato tem sua razão de ser na essência mesma da arte; por outro lado, porém, este passo à frente só provoca uma ampliação do fato estético (e não sua dissolução e destruição) quando tiver como pressuposto o momento da esteticidade imediata, quando o conservar em si como momento superado.
Com isso, porém, apenas justificamos o método de Dobroliubov do ponto de vista estético. Mas ainda não demos uma resposta satisfatória à nossa questão inicial, ao problema da aplicabilidade do princípio aristotélico da não contradição. A questão assumiu apenas uma forma mais concreta: a realidade refletida pelas obras de arte revela-se de um modo inteiramente diverso daquele pelo qual é refletida pela ciência, não somente no que diz respeito à forma artística, mas também no conteúdo de ideias, em sua pretensão de verdade. Esta distinção, que tem seu fundamento na essência da arte, explica como surgem contradições entre as obras, contradições porém — como resulta de nossa análise — que não aparecem como contradições que se excluem reciprocamente, de modo que a verdade de uma devesse implicar na falsidade da outra; mas sim como contradições da própria vida, das leis de seu movimento e desenvolvimento, as quais, por isto, podem subsistir uma ao lado da outra, precisamente em sua contraditoriedade, e que são inclusive, de um determinado ponto de vista (de nenhum modo extraestético), destinadas a se integrarem reciprocamente.
Falamos, mais de uma vez, na função universalizante do reflexo artístico, e notadamente da forma artística; devemos agora dar alguns passos à frente, resumindo o que até então foi dito. Sabemos que, quando o pensamento científico realiza seu processo de generalização, aproxima-se tanto mais da realidade quanto mais universais forem seus resultados, ou seja, quanto maior for o número de fenômenos singulares e de relações particulares aos quais for aplicável. Existe esta aproximação na arte e, no caso de ela ser bem- sucedida, esta aplicabilidade é geral?
Sobre a aproximação, não é necessário gastar muitas palavras. A história de toda autêntica atividade artística é a luta por esta aproximação; se a considerarmos, isolando-a metafisicamente, apenas em relação com a realidade objetiva, esta luta jamais pode conseguir um sucesso completo: a infinitude extensiva e intensiva do mundo não é jamais inteiramente alcançável pela arte, e tampouco pela ciência, e não se pode falar jamais senão de aproximação. Nas estéticas do idealismo, este dado real é sempre objeto de confusão; na maioria dos casos, refuta-se, tachando-a de naturalismo, qualquer possibilidade de comparação entre arte e realidade, e proclama-se enfaticamente a superioridade da “ideia” sobre a “natureza”. O materialista Tchernichévski tem toda razão quando rechaça energicamente estas teorias e fala, a este respeito, da superioridade da natureza (da realidade) sobre a arte. Ele só se equivoca quando fixa esta observação, em si justa, como algo definitivo (e, portanto, mais uma vez, metafísico) e considera a arte como sendo inferior à realidade em todos os aspectos e em todas as condições.(40) De fato, a aproximação buscada em cada oportunidade é fixada esteticamente na formação específica da obra, na sua individualidade, que permanece sempre, é verdade, como inadequada à inesgotabilidade do seu objeto, tal como ocorre com as proposições científicas, mas que ao mesmo tempo, através da generalização estética, eleva-se acima da superfície fenomênica da realidade imediata.
O próprio Tchernichévski, após ter definido a arte como “reprodução” da vida, no que a vida tem de interesse universal para os homens, acrescenta que ela, ao mesmo tempo, explica e julga o que reproduz.(41) Isto já é suficiente para contradizer toda teoria que sustente a possibilidade de um confronto simples, mecânico e naturalista, entre arte e realidade, já que aqueles dois momentos (da explicação e do julgamento) não podem naturalmente ser encontrados como tais na própria realidade. Não obstante, como veremos melhor em seguida, um confronto deste tipo é sempre realizado: ele é, inclusive, o pressuposto inevitável de uma eficácia autêntica e profunda da obra de arte. Mas jamais se confrontam detalhe com detalhe (se bem que, também aqui, pode- se ocultar o motivo inicial de uma eficácia imediata, positiva ou negativa), mas sim o conjunto da obra com o conjunto da realidade, tal como este vive ativamente nas experiências de quem assimila a obra de arte. A correspondência entre arte e vida, portanto, é uma correspondência entre totalidades (relativas). E, dado que em uma obra individual a totalidade é figurada na explicação e no juízo, para continuarmos na terminologia de Tchernichévski, não se deve falar apenas de uma realidade que existe independentemente destes momentos; ao contrário, eles são elementos estruturais indispensáveis de sua figuração, de sua transformação em “realidade” artística. Deste modo, a individualidade da obra de arte — precisamente como expressão da realidade — pode superar em intensidade a realidade imediata, se bem que, no processo criativo da aproximação, jamais a arte possa esgotá-la inteiramente. O fato de que a obra não atinja, mas ao mesmo tempo supere, a realidade constitui uma contradição, portanto, mas uma contradição viva e vivificadora da vida da própria arte.
Esta contradição não poderia ser tão fecunda e estimulante se a correspondência se estabelecesse entre universalidades, ou seja, entre a verdade universal sobre a realidade (ou sobre uma parte dela, em si relativamente completa) e a tentativa de reproduzir artisticamente esta realidade. Baseado em tais pressupostos, Platão critica a arte e chega mesmo — coerentemente, a partir deste ponto de vista — a condená-la. Por outro lado, é igualmente claro que exigir uma correspondência entre as singularidades da obra de arte e as singularidades da realidade seria um postulado naturalista irrealizável. Nossa viva e fecunda contradição só pode nascer na esfera da particularidade. A individualidade da obra de arte pertence à particularidade; sua generalização artística eleva toda singularidade à particularidade, representa através de símbolos na particularidade tudo o que é universal. E não é preciso insistir na explicação de que o confronto com a realidade, à qual a obra deve corresponder, revela também a congruência de uma particularidade com outra particularidade.
O que, na obra de arte, corresponde esteticamente à validade universal das proposições científicas é o fato de que a generalização artística da realidade possa ser universalmente revivida por quem assimila a obra. Quanto mais geral, profundo e comovente for o sentido do tua res agitur que ela suscite, quanto mais ampla for a riqueza do mundo que estas experiências abarquem (de acordo com as possibilidades determinadas, extensiva e intensivamente, pelas leis de cada gênero), quanto mais extensa puder ser esta eficácia no espaço e no tempo, tanto mais bem realizada revelar-se-á a generalização artística. Seria superficial, entretanto, quem pretendesse ver a característica peculiar decisiva do fato estético nesta possibilidade própria da obra de arte de se fazer reviver. Tal possibilidade, como vimos, é efetivamente o resultado final das relações conteúdo-forma, que constituem a essência da obra de arte. Portanto, é necessário explicar aquela através desta, e não ao inverso.
A individualidade da obra de arte distingue-se de todas as outras formas de reflexo na medida em que figura uma realidade em si concluída. Mas aqui é preciso definir melhor a palavra “realidade”. Em primeiro lugar, sua peculiaridade, aparentemente paradoxal, consiste em que ela nos é dada como uma formação em si perfeita, criada pelo homem; diante da obra de arte, sempre sabemos que é um produto criado pelo homem, que está em face de nós como algo finito, concluído, imutável em seu modo de ser. Ora, esta formação deve obter com seus próprios meios sua força de convicção, de imediata experiência, como realidade; ela não pode ser auxiliada por nenhum outro meio pertencente à esfera estética (isto é, por nenhuma outra obra de arte), ao passo que na ciência toda proposição pode, e deve, na maioria dos casos, reclamar-se de outras proposições já demonstradas. Em segundo lugar, toda formação deste tipo tem um caráter especial: a individualidade da obra de arte aparece e age como realidade, ou seja, está em face da consciência como algo que lhe é independente: os nossos desejos e esperanças, simpatias e antipatias, etc., que ela mesma provoca e intensifica, são inteiramente impotentes em face dela e, portanto, mais impotentes do que em face da própria realidade, na qual nossa intervenção pode modificar algumas coisas e, às vezes, até mesmo várias coisas. Em terceiro lugar, porém, esta realidade é tão somente uma realidade entre aspas. Ela é independente de nossa consciência, no sentido indicado, mas se trata de uma independência criada exclusivamente pela forma artística. As formas de pensamento da vida cotidiana ou da ciência dirigem-se para a compreensão da justeza material, que naturalmente aparece também como um complexo de formas, em suas determinações e em suas leis essenciais, com a finalidade, em última instância, de permitir uma práxis efetiva fundada sobre uma consciência que seja o mais possível profunda; por isto, as formas fenomênicas da realidade sofrem uma radical modificação. Mas em face da “realidade” das obras de arte, como vimos, não é possível nenhuma práxis (nenhuma modificação de sua realidade). As formas representadas ou são definitivas, ou — de um ponto de vista estético — não têm nenhuma existência. Uma proposição científica que suscita dúvidas ou perplexidades pode ser refutada ou corrigida; quanto à obra de arte, é impossível qualquer refutação ou correção. A obra de arte requer, sobretudo e imediatamente, que se aceite simplesmente o seu conteúdo: quanto mais for perfeita a sua realização formal, tanto mais ela obrigará a uma pura receptividade, a uma intensa participação no que é nela representado.
Este lado da arte encontrou uma explicação idealista extrema em Kant, na teoria do “desinteresse”,(42) e em Schiller, na teoria do “jogo”, os quais colocam unilateralmente este momento no centro da estética.
É surpreendente que Feuerbach, buscando distinguir nitidamente a arte da religião, utilize uma definição muito próxima da de Kant, com a substancial diferença, naturalmente, de que nele este momento não é absolutamente exagerado. O resultado de sua explicação é que “a arte apresenta suas criações apenas como aquilo que são, isto é, como criações da arte; ao passo que a religião apresenta seus seres imaginários como seres reais”.(43) Sua polêmica, portanto, é dirigida contra a pretensão religiosa de atribuir uma realidade material, uma realidade independente da consciência, a meros produtos da representação, sentimentos e fantasias humanas. No quadro desta polêmica, surge a sua definição da arte, assim resumida por Lenin em suas observações marginais: “A arte não requer que suas obras sejam reconhecidas como realidade”.(44) Naturalmente, também esta definição é deturpada na teoria burguesa posterior: todas as discussões escolásticas pró e contra a “ilusão” ocorrem, por sua vez, quando este caráter de “não realidade” das obras é visto de uma maneira rígida e unilateralmente metafísica. Se, ao contrário, considerarmos a realidade criada pela forma artística em unidade dialética com esta sua “irrealidade”, como reflexo específico da realidade, aparece claramente a unidade contraditória entre a plena autonomia das obras de arte e sua gênese e eficácia socialmente determinadas.
Esta última questão tornou-se decisiva para a valorização da arte, de Platão a Tchernichévski, poderíamos dizer; importantes teorias, como a aristotélica da catarse, só se tornam compreensíveis neste contexto. Já na Poética, havia Aristóteles ligado estreitamente as duas questões. Enquanto Platão vê na tendência à autonomia da criação e da obra de arte o motivo que reforça sua desconfiança, sua refutação dela, a Poética busca identificar com a maior concreticidade possível também a peculiaridade formal da tragédia, com a finalidade de descobrir e de fundamentar teoricamente, em sua completicidade formal, o veículo de sua eficácia pedagógico-social. Sob este ponto de vista, a estética posterior não foi além de Aristóteles; quando seguia um justo caminho, limitava-se a concretizar suas geniais intuições, adequando-as à época. Aristóteles reconheceu que a perfeição formal das obras de arte, cujas condições só podem ser asseguradas se forem observadas as leis estéticas específicas de cada gênero, constitui o único real pressuposto possível para que a arte consiga cumprir sua função social. Portanto, ele foi o primeiro a compreender a indissolúvel conexão que existe entre a perfeição estética e a importância social da arte.
Apenas deste modo podia a arte ser compreendida como momento importante do desenvolvimento social da humanidade, sem perder sua essência específica. Todas as teorias que colocavam tais relações de modo muito imediato eram levadas a deixar de lado, com indiferença, e por vezes mesmo com hostilidade, a essência artística da arte. Perdiam de vista, necessariamente, o fato de que a grande eficácia — útil ou danosa — exercida por obras pseudoartísticas é mais ou menos efêmera quando considerada do ponto de vista do desenvolvimento da humanidade, que estas obras pertencem àquela parte da superestrutura que, como Stalin explicou, desaparece completamente ao desaparecer a infraestrutura: aliás, no mais das vezes, não é necessário nem sequer que a infraestrutura seja completamente abalada, basta que sofra uma pequena alteração em suas proporções para que tais produtos sejam inteiramente esquecidos. (Isto não significa que tais produtos efêmeros não sejam momentaneamente — e, em muitos casos, durante muito tempo — de grande utilidade ou de grande prejuízo social, e que, consequentemente, não devam ser defendidos ou combatidos durante todo o tempo em que exercerem uma efetiva eficácia.) Ao contrário, as concepções que isolam artificiosamente a completicidade da obra de arte de sua eficácia socialmente condicionada transformam a arte em uma “reserva florestal” da sociedade. Ainda que pretendam salvar os mais elevados valores da arte, rebaixam-na a um estado de impotência social. Por outro lado, isso implica que obras efêmeras em outros aspectos, nas quais um conteúdo inconsistente, particular e frequentemente reacionário recebeu uma aparente completicidade formalista, sejam elevadas ao mesmo nível dos mais altos produtos do desenvolvimento artístico, o que significa igualmente rebaixar as autênticas obras de arte.
Aristóteles ainda não podia tratar a arte de uma maneira realmente histórica, porquanto considerava óbvia a conexão instituída entre completicidade artística e eficácia pedagógico-social da arte. Esta última deveria desaparecer com a derrocada da polis democrática — já Aristóteles fala mais do passado do que de sua época — e em todos os escritos estéticos importantes está claramente presente a luta para restaurar esta conexão, para realizá-la na arte. No período pré-marxista, estes esforços atingem seu ponto mais elevado nas obras dos democratas revolucionários russos. Em seu tratamento histórico-estético dos tipos, Dobroliubov retoma claramente a antiga questão, colocando-a — de acordo com a época — num mais alto grau de concreticidade. Por causa da diversa situação social, o que era algo óbvio para Aristóteles, a eficácia pedagógico-social da arte, torna-se em Dobroliubov o problema principal, ao passo que a completicidade estética das obras nas quais aparecem os tipos examinados em sua eficácia e importância social é por ele considerada como algo secundário. Também aqui, a síntese perfeita só poderá ocorrer no marxismo.(45)
Vemos aqui claramente como é importante, do ponto de vista estético, estabelecer a função diversa que possuem a universalidade e a particularidade nos reflexos científico e artístico da realidade. A função positiva da particularidade, considerada como categoria específica da estética, ou seja, como a categoria que determina o que é específico da inteira esfera da estética, estende-se (como podemos ver) tanto ao conteúdo quanto à forma da arte, condicionando também a sua peculiar conexão, mais orgânica e mais íntima do que em qualquer outro tipo de reflexo da realidade. A incessante conversão da forma em conteúdo e vice-versa é, sem dúvida, o modo de ser universal da realidade e ocorre por isso em qualquer forma de reflexo; mas o modo de pensamento cotidiano, que se mantém muito frequentemente na inseparabilidade originária de forma e conteúdo, revela nisto um dos seus limites: a incapacidade de ultrapassar a forma fenomênica imediata e fugidia, de destruí-la e de substituí-la por formas superiores — mais universais — a fim de se aproximar da essência dos fenômenos. Precisamente nisto reside o princípio central do reflexo científico. Ele consiste em destruir incessantemente formas superficiais, em ligar formas mais gerais a conteúdos generalizados; no entanto, por causa do caráter meramente aproximativo do conhecimento, mesmo a mais elevada e mais perfeita forma universal está exposta a ser eventualmente destruída, a ser eventualmente corrigida por uma forma ainda mais aproximada. Um processo análogo, naturalmente, manifesta-se também no processo da criação artística (não podemos nos alongar aqui sobre as diferenças existentes no interior desta analogia), mas o resultado, a individualidade da obra de arte, enquanto forma de um determinado conteúdo, apresenta esta unidade de conteúdo e forma como uma unidade não mais superável: a conversão de um momento no outro se orienta tão somente para aprofundar e fixar a unidade orgânica indissolúvel de conteúdo e forma, ao mesmo tempo como processo infinito e como unidade completa.
O fato de que isto ocorra sob o domínio da categoria da particularidade tem um duplo valor do ponto de vista do conteúdo e da forma. Sob ambos os aspectos, toda singularidade, bem como toda universalidade, é superada na particularidade. Do ponto de vista do conteúdo, isto significa que a singularidade perde seu caráter fugidio, meramente superficial, casual, mas que toda singularidade não só conserva como intensifica sua forma fenomênica isolada, que sua imediaticidade sensível transforma-se numa sensibilidade imediatamente significativa, que sua aparência autônoma também se reforça em sua sensibilidade imediata, mas ao mesmo tempo é unida às outras singularidades por uma indissolúvel conexão espiritual-sensível. A universalidade, por sua vez, perde sua imediaticidade conceitual. Ela aparece como potência que se expressa em homens singulares enquanto concepção do mundo que determina suas ações, e em suas relações, que refletem suas conexões sociais, enquanto força objetiva das condições histórico-sociais: do ponto de vista conceitual, portanto, ela se expressa indiretamente; este caminho conceitualmente indireto torna-se precisamente, do ponto de vista estético, direto: indica o predomínio da nova imediaticidade artística.
Do ponto de vista formal, tudo isso faz com que se converta numa sensibilidade real e eficaz o que até agora expusemos sobre a possibilidade de uma sensibilidade imediata. A forma artística, como toda forma, tem uma função universalizante. Mas, dado que visa à particularidade, ou seja, a uma generalização significante, tende a superar toda espécie de fetiche; e isto, mais uma vez, não diretamente, por um desmascaramento racional, mas ao fazer aparecer tudo o que há de objetivo na vida humana como sendo relação entre homens concretos. A importância sugestiva e evocadora da forma é concebida superficialmente, e mesmo falsamente, por quem sublinha nela tão somente a eficácia do que suscita as impressões, como Fiedler e Hildebrand, por exemplo, fizeram com relação à visualidade. É verdade que cada gênero artístico tem como pressuposto e como efeito um determinado meio homogêneo de sensibilidade (por exemplo, a pura visibilidade na pintura ou na plástica). Mas este meio homogêneo só pode agir profundamente sobre a experiência porque contém em si o conjunto da vida humana particular, externa e interna, pessoal e social. A forma artística dá indiretamente, no conteúdo, o que é direito no pensamento ou na experiência imediata, absorve no humano qualquer objetividade estranha ao homem; ao mesmo tempo, o fato estético adquire assim seu específico caráter direto, traduzindo em experiência imediata (na nova imediaticidade artística) todo fenômeno da vida que, na vida mesma, só pode na maioria dos casos ser apreendido indiretamente. Nisto consiste, do ponto de vista formal, a superação artística de todas as formas fenomênicas da vida transformadas em fetiches.
Esta unidade orgânica de singularidade sensível e universalidade racional nesta nova imediaticidade é, precisamente, a atmosfera da particularidade como especificidade estética. Aqui, mais uma vez, revela-se concretamente a importância da particularidade como reino intermediário elevado a figura autônoma; a unidade especificamente estética de conteúdo e forma só se pode realizar em sua atmosfera; a mera universalidade e as singularidades meramente particulares fazem surgir tão somente ou uma unidade provisória condenada a priori a ser superada como frequentemente na vida cotidiana, ou uma unidade que destrói as formas fenomênicas (como na ciência).
Com essas observações, reportamo-nos frequentemente a assuntos já analisados: a arte representa sempre apenas urna parcela da realidade historicamente limitada no espaço e no tempo, mas o faz de tal modo que ela consegue ser uma totalidade em si concluída, um “mundo”. Como ocorre que esta aspiração — continuamente efetivada na realidade — se justifique e seja satisfeita? Acreditamos que, também aqui, a solução seja dada pela particularidade. Em sua infinitude extensiva, a realidade não tem limites. O valor da abstração científica consiste, precisamente, no fato de reconhecer esta infinitude, tomá-la como ponto de partida e criar formas (descobrir leis) por meio das quais um ponto qualquer da infinitude extensiva possa ser concretamente identificado, colocado em seu contexto e definido com exatidão. O reflexo artístico renuncia a priori à reprodução imediata da infinitude extensiva. O que ele representa é, também neste sentido, em contraste com a ciência, algo particular. A elaboração formal artística deve dar preeminência precisamente ao princípio de que tanto a orientação para o universal quanto a orientação para o singular levam inevitavelmente, como se assinalou mais de uma vez, a fixar a parcela do mundo refletido em sua mera particularidade, com sua carência de infinitude extensiva, com seu conteúdo carente de totalidade extensiva; surgiria, assim, a necessidade de integração. Tão somente o predomínio da particularidade como princípio criativo e organizativo da objetividade representada na obra permite retirar esta “parcela” da mera particularidade, da fragmentariedade, conferindo-lhe o caráter e a eficácia de um “mundo” em si concluído, representando a totalidade.
Se com isto se entendesse que o reflexo artístico não se volta para a totalidade extensiva da realidade, mas apenas para a infinitude intensiva do que é reproduzido, dir-se-ia muito pouco de concreto e de específico sobre tal reflexo. De fato, também o reflexo próprio da cotidiniadade, bem como o científico, devem se ocupar incessantemente da infinitude intensiva de cada fenômeno. Na arte, esta expressão adquire um acento qualitativamente novo, não fosse senão porque o voltar-se para a infinitude intensiva não é uma tendência entre outras, mas a tendência predominante, aquela que condiciona em medida decisiva a reprodução estética dos objetos. Ademais, mas sempre em estreita relação com o que até agora foi dito, este voltar-se para o particular, este ser- determinado-pelo-particular no reflexo estético, implica também a tendência a jamais se destacar da imediaticidade sensível — sempre condicionada segundo os gêneros — da forma fenomênica. Também na vida cotidiana o conhecimento da infinitude intensiva deve mais ou menos separar-se daquela imediaticidade sensível, deve cindi-la analiticamente, ligá-la com outros fenômenos ou grupos de fenômenos tratados também analiticamente, a fim de poder se aproximar o mais possível desta infinitude intensiva; conquanto os resultados finais deste processo possam se aproximar da infinitude intensiva dos objetos, seu pressuposto metodológico é a superação desta forma fenomênica sensivelmente imediata.
No caso do reflexo artístico, tal superação equivaleria à morte. Este reflexo se propõe, precisamente, a tarefa de atribuir aos objetos representados, em sua imediaticidade, o caráter e a aparência de infinitude intensiva. Ainda que o processo criador consista numa simples aproximação a ela, ainda que — de fato e gnosiologicamente — todo objeto representado reste muito aquém, ao tentar esgotar a infinitude intensiva, de seu modelo real, o objeto representado artisticamente, todavia, tem a propriedade de suscitar evocativamente a experiência da sua infinitude intensiva.
Surge assim na obra de arte um “mundo próprio”, um mundo particular no sentido literal da palavra, uma individualidade da obra. Em sua autonomia sensível, é igualmente sustentado pela recíproca concordância dos detalhes imediatamente evocativos. Mas esta sua eficácia é sempre, tão somente, o poderio do conteúdo espiritual elevado a uma nova imediaticidade. Este conteúdo pode conter as mais elevadas e importantes verdades universais, mas elas só podem se tornar componentes orgânicas de um tal complexo ativo se se fundirem em perfeita homogeneidade com a nova imediaticidade sensível dos outros elementos da obra, se também elas, como aqueles, viverem e atuarem exclusivamente na atmosfera da particularidade, da particularidade específica de cada obra singular. A homogeneidade assim obtida de um mundo originariamente heterogêneo — no que diz respeito ao conteúdo abstrato das partes componentes do ponto de vista estético — não apenas assinala os limites da individualidade da obra de arte, não apenas a distingue da realidade objetiva, mas também faz surgir nela, em todos os aspectos que interessam a qualquer criação concreta, um mundo próprio, de evidência imediata, possuidor de leis próprias.
Este ser próprio e estas leis próprias parecem contradizer, à primeira vista, o caráter de reflexo atribuído à arte e a necessidade de sua eficácia pedagógico-social. E não obstante, também aqui, a perfeição da obra de arte aparece como algo ligado à fidelidade do reflexo e ao raio de ação da eficácia social; também aqui se apresenta a viva e ativa contraditoriedade do reflexo estético. Um realista consciente, como Balzac, para quem seu trabalho consistiria tão somente em anotar o que lhe é ditado pela sociedade, diz a respeito do mundo por ele representado na Comédia Humana:
Minha obra tem sua geografia tal como sua genealogia e suas famílias, seus locais e suas coisas, suas pessoas e seus fatos; tem também sua heráldica, seus nobres e seus burgueses, seus artesãos e seus camponeses, seus políticos e seus dândis, seu exército; todo seu mundo, em suma.(46)
Balzac expressa aqui a opinião de todos os realistas de autêntico valor. Nele, a ligação aristotélica entre perfeição artística e eficácia pedagógico-social é enunciada de outra maneira, no sentido de que a compacticidade do “mundo próprio” das obras de arte é sua incomparável individualidade de obras, o veículo real do fiel e profundo reflexo estético da realidade.
Assim, a obra de arte é algo particular, mas de um duplo ponto de vista. Por um lado, cria um “mundo próprio”, em si concluído. Por outro, naturalmente, age num sentido análogo: assim como o caráter particular da obra agia sobre o processo criador, sobre a personalidade do criador, transformando- a, assim também, quando de sua eficácia, ela deve influenciar do mesmo modo aquele que a recebe. Dado que — objetivamente — as individualidades das obras em si concluídas, autossuficientes, não são mundos entre si separados definitiva e solipsisticamente, mas que remetem, ao contrário, precisamente por esta sua autonomia, à realidade que refletem em comum, a mais intensa eficácia exercida por um destes “mundos próprios” e particulares, não deve — subjetivamente — consolidar quem o recebe em sua mera particularidade, mas ampliar seus horizontes, colocá-lo em relações mais estreitas e ricas com a realidade.
Também aqui a prioridade cabe à estrutura objetiva, da qual depende a qualidade da eficácia subjetiva. A unicidade da individualidade de uma obra, que formou e forma o ponto de partida para todas as explicações individualistas e irracionalistas dos teóricos burgueses, é precisamente o oposto (como vimos) do que dela quer fazer a teoria decadente. Ela deve esta autonomia precisamente àquelas qualidades essenciais que ultrapassam a individualidade meramente particular, ao reflexo fiel dos traços e das tendências essenciais da realidade objetiva, à sua elevação a um grau superior de generalização. A individualidade da obra é uma individualidade real precisamente porque é ao mesmo tempo, e inseparavelmente do individual, algo de suprapessoal: é particularidade. Por isso, a conservação contém a intensificação das formas fenomênicas sensíveis, o seu caráter evocativo contém também esta inseparável duplicidade: conteúdo refletido e forma evocativa constituem uma indissolúvel unidade orgânica.
Já falamos da dialética de fenômeno e essência na estética e vimos que esta conservação da forma fenomênica sensível é sua peculiaridade principal. Pode-se agora completar e ampliar esta observação, acrescentando-se que a coincidência imediata de fenômeno e essência na obra de arte não é simplesmente um fato objetivo das leis formais artísticas; esta unidade, tanto como detalhe tomado em si quanto como na reciprocidade com outros detalhes, em sua função compositiva (estes dois pontos de vista só podem ser separados na análise teórica, e mesmo aqui apenas relativamente), fundamenta simultaneamente o conteúdo espiritual e a força evocativa da forma. Esta é vazia, meramente formal, é um mero “estado de espírito”, se não for intimamente entrelaçada com aquele; aquele é frio, não artístico, se não coincidir imediatamente com esta.
Aparentemente, esta contraposição diz respeito apenas a um problema da forma artística, como veículo do predomínio estético da particularidade. Mas, como forma de um conteúdo determinado (particular), a forma artística só pode ter esta característica na medida em que o conteúdo — inclusive pelo que ele é simplesmente — for um conteúdo particular. Esta necessidade evidenciou-se claramente, em seus traços essenciais, em nossas anteriores argumentações. Um conteúdo que deve conservar e fixar, aprofundando-a, a imediaticidade sensível das formas fenomênicas, que deve renunciar a priori e em princípio a reproduzir a infinitude extensiva do mundo, um conteúdo que deve atingir sua força de convicção exclusivamente a partir da força evocativa na conformação da realidade reproduzida, um tal conteúdo deve dirigir o seu sentido universalizante a fim de elevar a singularidade na particularidade. Se agora investigarmos o que significam para o conteúdo as definições obtidas até aqui, se formularmos com maior exatidão o caráter de verdade da elaboração do conteúdo atingida por aquele caminho, encontramos necessariamente o fenômeno do típico como encarnação concretamente artística da particularidade.
Também a este respeito, naturalmente, deve-se sublinhar de imediato que — do ponto de vista do conteúdo — o típico, como todos os elementos do conteúdo artístico, é uma categoria da vida, que deve também desempenhar um papel, portanto, no reflexo científico, embora não tão central como na arte. Na realidade extra-humana, o típico científico é um fenômeno no qual as determinações essenciais, subordinadas a leis, aparecem mais claramente do que nos outros. Portanto, quanto mais tal ciência conseguir elaborar um sistema de leis, tanto menor será neste sistema a importância metodológica do típico (menor, portanto, na física do que na biologia, por exemplo). As coisas ocorrem diferentemente nas ciências sociais. Nestas, onde as ações e as relações humanas formam o substrato dos conhecimentos, o típico pode conseguir certa função relativamente autônoma ao lado das leis universais. Sem nos aprofundarmos em tal questão, que tem diferente importância nas várias ciências, recordaremos apenas a concepção marxiana das “máscaras características”,(47) na qual são compendiadas conceitualmente as qualidades necessárias (do capitalista, por exemplo) que derivam forçosamente da posição por ele assumida na produção e que são deduzidas, por isso, das leis econômicas, não constituindo uma simples soma ou síntese da sua análise psicológica. Precisamente por isto, contêm verdades mais universais do que estas análises, servindo-lhes de guia ao invés de ser seu resultado. Mas, em todo caso, o típico científico assim obtido contém precisamente as mais universais determinações, é a aplicação da categoria do universal a este complexo de conteúdo. Do mesmo modo, não é difícil ver que, na relação entre o típico e a média, evidencia-se uma diferença da própria vida e que, por isso, também o justo reflexo científico da realidade distingue com exatidão os dois conceitos. Também aqui é suficiente recordar as argumentações de Marx quando mostra que um certo número de pessoas que trabalham em comum é bastante para obter uma média deste tipo.(48)
Também neste caso, como sempre, a oposição entre reflexo científico e reflexo artístico pode esclarecer este último. Vimos que, por tipo, entendemos o compêndio concentrado daquelas qualidades que — por uma necessidade objetiva — derivam de uma posição concreta determinada na sociedade, sobretudo no processo de produção. Deste modo, o conceito de tipo é subordinado ao da conformidade às leis universais. Portanto, tem imediatamente, na vida como na ciência, o caráter da particularidade. Mas dado que a definição do tipo é tão mais justa cientificamente quanto mais alto for o nível de generalização ao qual esta definição e sua síntese no tipo foi elevado, na ação recíproca dialética que assim surge deve prevalecer o momento da universalidade, ainda que também o da particularidade permaneça como uma característica ineliminável do tipo. O que dissemos para o tipo humano, vale também naturalmente para a situação típica; tão mais decisivamente poderemos definir como típica uma situação quanto mais prevalecerem nela as determinações universais; se estas inexistem, se aparecem debilmente, se nela a contingência desempenha um papel muito grande, então torna-se mais ou menos atípica e se aproxima da singularidade.
De tudo isto, decorre claramente que o homem real, neste sentido do reflexo científico, só pode apresentar traços mais fortes ou mais fracos do típico; o puro tipo, a “máscara característica” marxiana, é uma generalização científica, não uma realidade empírica. Com isto, chegamos à base do tipo no sentido do conteúdo estético: dado que a arte sempre figura homens concretos em situações concretas, objetos concretos que os mediatizam, sentimentos concretos que os expressam, ela deve conseguir representar o significado do típico em homens e situações, deve fornecer uma síntese cujo objeto seria o tipo puro e simples.(49) Deste modo, enunciamos a profunda diferença (ou antes, a oposição) entre reflexo científico e reflexo artístico da realidade. Mas deve-se imediatamente aduzir que, também aqui, é a mesma realidade que é refletida, e que, portanto, o típico da ciência e o típico da arte correspondem-se enquanto resumem não a média dos traços que mais frequentemente se repetem, mas as relações mais desenvolvidas e mais concretas no mais elevado grau de sua contraditoriedade real.
Por outro lado, a arte não pode se limitar — inclusive do ponto de vista do mero conteúdo — a constatar simplesmente o típico. No reflexo estético da realidade, não se trata simplesmente de fixar, e tampouco de evidenciar estes traços típicos em homens, sentimentos, ideias, objetos, instituições, situações, etc.; toda tipicização deste gênero pertence, ao mesmo tempo, a um sistema concreto e móvel de relações entre momentos singulares, tanto na própria figura singular quanto em suas relações: por isto, no conjunto da obra, nasce uma tipicidade de ordem superior: o aspecto de uma etapa típica do desenvolvimento da vida humana, de sua essência, de seu destino, de suas perspectivas. Esta tendência já está presente nas primeiríssimas criações espontâneas de tipos: no folclore, na mitologia. A criação de grandes figuras típicas — como Hércules, Prometeu, Fausto, etc. — ocorre simultaneamente à invenção daquelas situações concretas, daquelas ações, circunstâncias, amigos, inimigos, etc., concretos em cuja conexão a figura pode ser elevada a tipo.(50)
Este objetivo da criação artística (mais uma vez sublinhamos que, até aqui, referimo-nos apenas ao conteúdo das obras de arte) já permite perceber claramente que o mais alto estágio do reflexo científico, aquele no qual se concentram com os meios da mais alta generalização os traços típicos de um período, de uma classe, etc., em um só tipo, opõe-se à essência do reflexo artístico. Considerado do ponto de vista estético, cada um destes setores típicos da realidade nunca tem simplesmente uma figura que os resuma, mas realiza-se, ao contrário, em princípio, na possibilidade de um número mais ou menos elevado de tipos, os quais — se forem observados com a mesma autenticidade e profundidade — podem ter todos o mesmo valor artístico. (Que se pense na massa quase inumerável de banqueiros e de usurários em Balzac, nas figuras centrais do Shakespeare tardio, que pertencem sem exceção a um só setor típico, na dissolução da servidão da gleba na Rússia tal como é representada no espelho da problemática da nobreza, de Púshkin até Tolstói, Dostoiévski e Saltikhov-Tchédrin.).
De resto, como vimos há pouco, a criação de uma destas figuras típicas, mesmo quando domina toda a obra (como frequentemente ocorre em Molière, por exemplo), é sempre apenas um meio para chegar ao fim artístico, que é o de representar a função deste tipo na ação recíproca de todos os contratipos que o contradizem como fenômeno típico de uma determinada etapa no desenvolvimento da humanidade. Por isto, em toda autêntica obra de arte, surge uma hierarquia de tipos que se integram reciprocamente — por semelhança relativa, por oposição absoluta ou relativa — e cuja dinâmica relação recíproca constitui a base da composição. Este conjunto de tipos se dispõe em ordem hierárquica, também ela de função compositiva, cujas posições são estabelecidas não na base do valor social de cada tipo, mas na base do lugar concreto que cabe a cada membro em vista do problema que se deve representar, isto é, com a finalidade de representar sensivelmente uma etapa de desenvolvimento da humanidade. Desta totalidade fechada e bem ordenada, nasce na obra a imagem de uma particularidade concreta: precisamente a reprodução artisticamente generalizada de uma determinada etapa do desenvolvimento.
Apenas partindo destas considerações, pode-se dar uma resposta satisfatória à pergunta que nos colocamos acima: o princípio lógico da não contradição, tal como Aristóteles o formulou, tem valor para as obras de arte? É fora de dúvida que não tem valor. Mas, com esta simples negação, não se supera o problema em sua autêntica substância, já que se coloca de imediato, e naturalmente, a outra pergunta: com esta resposta negativa não se introduzirá no campo da arte o arbítrio subjetivista? Tentamos responder a esta pergunta de um modo geral, sobre a base da experiência, quando enfrentamos o problema aristotélico e nos queixamos sobretudo do método crítico de Dobroliubov, que se revelou justificado. Neste ponto, podemos responder também mais concretamente àquela pergunta. O que importa não é apenas que nas mais diversas obras de arte deva emergir aquela convergência de conteúdo (que visa a figurar o típico), o que é óbvio na medida em que elas refletem a mesma realidade: a divergência imediata de cada mundo artístico singular representado tem, como o indicam as nossas últimas considerações, o caráter de um aspecto assinaladamente particular da realidade e de seu desenvolvimento. Nesta particularidade, reside a verdade específica — de conteúdo — de toda autêntica obra de arte. A justa definição do típico como específica e central encarnação da particularidade na arte, portanto, deve ser verificada em seu conteúdo de verdade objetiva, de tal modo que nem a verdade estética seja concebida como simples cópia da científica, nem sua negação abstrata conduza a um relativismo estético.
A ciência visa a compreender toda realidade em sua verdade objetiva: por isso, as afirmações de Aristóteles sobre a necessidade da não contraditoriedade são válidas para cada uma de suas proposições. Mas qualquer estudioso sério da sociedade sabe muito bem que esta conformidade a leis se realiza de uma maneira extremamente complicada, através da dialética da necessidade e contingência. Lenin, grande mestre na aplicação do mais alto método das ciências sociais, o materialismo histórico, fala mesmo de uma “astúcia” desta realidade, afirma que os caminhos pelos quais as leis se realizam são em certa medida imprevisíveis em suas modalidades concretas. Naturalmente, Lenin não nega que seja possível, neste campo, a previsão científica. Na práxis, ele visava sempre, e com sucesso, a captar em meio a esta “astúcia”(51) as leis que se manifestam a cada passo de modo variado, a separar conceitualmente o contingente do necessário e, sobretudo, a elaborar o método e suas aplicações de um modo tão dialético, tão elástico, que se tornasse possível, ao partido do proletariado, não obstante aquela irredutível “astúcia” da realidade, uma ação correta e eficaz. Assim, toda ciência deve tender a aprofundar a dialética de necessidade e contingência, a explicitá-la elasticamente, de modo a que, na prática, na ação guiada pela consciência, a contingência seja transformada em algo o mais possível inócuo. (Que se pense na aplicação do cálculo das probabilidades.).
A verdade mais profunda da arte, ao contrário, consiste precisamente em representar esta “astúcia” da vida. Assim, se a arte não pode se elevar às mais altas universalidades, nem tampouco às leis puras ou à universalidade científica do tipo, não se trata para ela de uma debilidade imanente ou de um limite insuperável que a obstaculize; pelo contrário, trata-se de sua máxima força e de sua mais alta virtude, de sua contribuição específica para a ampliação, o aprofundamento e o enriquecimento da consciência humana. Por isso, se os homens e as situações típicas, os objetos, etc., que a arte representa aparecem de modo variado e substancialmente divergente, não se deve falar de relativismo subjetivista, de contraditoriedade no sentido aristotélico. Esta divergência é o reflexo justo — esteticamente justo — da vida. Tchernichévski define, com justeza, precisamente este lado da arte quando diz que ela é um “manual da vida”.(52)
Apesar disto, se quisermos falar da arte autêntica e não de uma arte decadente e deformada, não devemos absolutamente negar o necessário decurso de desenvolvimento da realidade. Não existe nenhuma grande obra de arte cujo mais íntimo e substancial conteúdo de ideias não seja constituído precisamente por esta necessidade. Ela aparece, contudo, em sua “astúcia” multiforme e infinitamente rica; mostra como esta necessidade se manifesta realmente e se afirma realmente na vida concreta de homens concretos. Portanto, a arte representa a vida tal como ela é realmente; ou seja, exatamente em sua estrutura real e em seu movimento real. Por isto, a justeza da representação não pode ser medida a partir da correspondência entre detalhes da vida e detalhes da arte: a correspondência mais profunda (que se expressa, por exemplo, na hierarquia de tipos à qual nos referimos) é a correspondência entre a unidade compositiva criada pela arte e um conjunto de leis que se afirmam realmente na vida. Como vimos, a particularidade como categoria específica do campo estético é, negativamente, a renúncia a reproduzir a totalidade extensiva da realidade; e, positivamente, a representação de uma “parcela” da realidade, representação que — reproduzindo a sua totalidade intensiva e a direção do seu movimento — clarifica a realidade através de um determinado e essencial ponto de vista. A propriedade específica desta “parcela” de realidade consiste em que nela as determinações essenciais da integridade da vida (na medida em que podem se encontrar em geral numa tal moldura determinada) expressam-se em sua verdadeira essencialidade, em sua justa proporcionalidade, em sua contraditoriedade, em seu movimento e em sua perspectiva reais. Por isto, e apenas por isto, a obra de arte pode e deve ser uma totalidade concluída, uma formação autônoma. (A moldura que circunscreve o quadro exprime este fato com clareza imediata.) Este ser-concluída-em-si-mesma, portanto, em primeiro lugar, é uma questão de conteúdo; é a essência do reflexo estético da realidade do ponto de vista do conteúdo. Esta totalidade das determinações concretas faz da mais breve lírica de Goethe um “mundo”; quando inexiste esta totalidade, mesmo a elaboração artística mais perfeita pode apenas produzir um fragmento meramente particular, destacado arbitrariamente da totalidade extensiva da realidade existente, ainda que no conteúdo se tenha atingido a mais extensa totalidade enciclopédica que se possa imaginar.
Este caráter determinado do conteúdo, peculiar ao reflexo artístico, é assim de tal ordem que nele a dialética de necessidade e contingência aparece sob formas inteiramente diversas daquelas que têm lugar no reflexo científico. Inicialmente, mais uma vez, é possível dizer que o reflexo artístico é mais próximo da vida. A arte não pode pretender superar o contingente na necessidade, como ocorre na ciência. Ela não pode de nenhum modo superar inteiramente o contingente; pelo contrário, quer mostrá-lo sensivelmente intrincado com a necessidade, naquela relação de ação recíproca que se manifesta na própria vida. Contudo, também aqui, vale o que dissemos pouco acima: cada “parcela” de vida representada pela arte não corresponde a nenhuma parte determinada da vida, mas sim a uma totalidade particular da vida. Também deste ponto de vista, apenas na maneira imediata de se manifestarem a arte e a vida são semelhantes. A arte não figura nem a necessidade em si, com suas leis mais universais, nem o contingente em sua crua oposição à necessidade, e tampouco o contingente superado sem resíduos na necessidade universal. Ela fornece uma reprodução da real oscilação recíproca de necessidade e contingência nas proporções que correspondem à verdade do mundo representado. Isto significa que o contingente na arte é uma das determinações da particularidade representada: sua função, seu modo de manifestação, seu poder sobre os homens e sobre os eventos, correspondem exatamente à posição hierárquica que ocupa naquela concreta totalidade de determinações que é representada na particularidade da obra. Portanto, é impossível estabelecer regras gerais — o que ocorre frequentemente na estética — que determinem a legitimidade ou a inadmissibilidade do contingente nas obras de arte. Uma e outra dependem, em primeiro lugar, e de acordo com os gêneros, da particularidade do mundo representado: percebe-se à primeira vista que determinados gêneros (a novela, por exemplo) requerem que o contingente tenha uma função de relevo, ao passo que outros exigem que seja limitado. A este respeito, cabe observar que, a nosso ver, os diversos gêneros são também formas do reflexo da realidade; por isso, era mais do que justificado falar desta diferenciação mesmo enquanto tratamos do conteúdo. Em primeiro lugar, esta função do contingente no interior da multiplicidade dos gêneros varia também de acordo com as condições histórico-sociais (e de acordo com as personalidades artísticas e com as obras): inicialmente porque, com o desenvolvimento da sociedade, a relação recíproca entre necessidade e contingência sofre também uma evolução; mas sobretudo porque a particularidade do mundo determinado que é representado pode restringir ou ampliar o campo de ação do contingente.
Os dois principais pontos de vista que sublinhamos estão em estreitíssima conexão, e na mais íntima relação de influência recíproca, com o mundo representado na obra; em particular, com o ordenamento dos conteúdos que definimos como “hierarquia de tipos”. O contingente é artisticamente justificado se sustenta e ajuda este ordenamento; ao contrário, é um elemento de distúrbio se o prejudica e torna confuso. Também aqui, portanto, temos um concreto critério de julgamento que parte do conteúdo: o princípio sobre a base do qual se deve decidir não é dado por meios artísticos, como a entonação, nem pelo recurso a construções técnicas, e tampouco por uma motivação causal a posteriori, mas pela totalidade do conteúdo, pela conexão do conteúdo no âmbito da particular totalidade da obra. É óbvio que esta recusa de regras abstratamente gerais não implica em nenhum agnosticismo estético: se o contingente é reconhecido como determinação objetiva do mundo artisticamente representado, torna-se evidente a aplicabilidade do nosso critério às obras singulares.
Ao analisarmos, do ponto de vista do conteúdo, a representação artística dos tipos, fomos além deste problema — central — a fim de lançar uma luz sobre a relação geral entre conteúdo e forma na arte. Disto resulta que o problema das formas artísticas só pode ser corretamente colocado quando o conteúdo é elaborado de uma maneira adequada aos princípios do reflexo estético. Ainda que o valor artístico de uma obra dependa, em última análise, da boa ou má realização da elaboração formal, é necessário sublinhar que o conteúdo já deve ter caráter artístico. Também sobre este ponto a teoria estética sempre permaneceu atrasada com relação à práxis artística. Para a práxis dos grandes artistas, este princípio sempre foi de uma evidência imediata, mesmo se explicitaram com falsa consciência — para si mesmos e para os outros — as ideias que presidiam à sua atividade. As coisas ocorrem diversamente na teoria da arte. A confusão conceitual (de que já falamos) entre generalização artística e universalidade filosófica levou a um duplo falseamento da questão. Por um lado, pensadores inclinados ao materialismo mecanicista sublinharam — corretamente — a identidade do mundo refletido pela ciência e pela arte, mas em maior ou menor medida negligenciaram a especificidade do reflexo artístico. E, dado que encontravam mais ou menos inteiramente elaborado pela ciência o conteúdo do mundo refletido, eram tentados a ver aí também o conteúdo artístico; desta maneira, encontravam-se diante deste insolúvel problema: como poderá este conteúdo ser artisticamente conformado? Por outro lado, ao contrário, os idealistas — que percebiam com frequência a discrepância existente entre o conteúdo já elaborado cientificamente e a forma artística — tendiam sempre, consequentemente, a colocar de lado os problemas do conteúdo, julgando-os irrelevantes ou secundários do ponto de vista estético, atribuindo assim uma mágica onipotência à forma. Tão somente o materialismo dialético pode colocar concreta e adequadamente o problema do conteúdo artisticamente elaborado, sobre a base da peculiaridade do reflexo estético, possibilitando assim a justa compreensão da relação entre conteúdo e forma na estética.(53)
Esta justa compreensão se baseia sobre a recíproca conversão de conteúdo em forma e vice-versa, tendo-se sempre em conta a prioridade do conteúdo. Mas esta ligação dialética só pode ser compreendida correta e concretamente quando o reflexo e a reprodução do conteúdo já se realizam, como procuramos mostrar ao tratarmos da questão do típico, sob o domínio das categorias estéticas. Apenas assim é possível compreender como a forma — enquanto forma de um conteúdo determinado — decorre organicamente do conteúdo.
Alongamo-nos na análise do reflexo estético do conteúdo porque a questão não estava esclarecida. Neste ponto, dirigiremos nossa atenção para o lado formal do típico, sem de nenhum modo pretender esgotar a relação conteúdo-forma: esta será a tarefa de outros estudos mais concretos. Limitar-nos-emos, ao contrário, a chamar a atenção apenas sobre um aspecto, ainda que muito importante, desta relação: a capacidade de suscitar experiências, a função evocadora da elaboração formal. É evidente que, nesta capacidade, reside uma tarefa central da forma. Seria um erro, naturalmente, supor que a assimilação e a elaboração do conteúdo tivessem um caráter puramente mental e contemplativo e que, na criação da forma, ao contrário, prevalecesse o momento da evocação, da experiência e da paixão. Deste modo, colocar-se-ia novamente o conteúdo na esfera do reflexo científico e não mais se poderia compreender como a forma decorre organicamente deste conteúdo. Tentaremos mostrar agora como a elaboração formal constitui o verdadeiro princípio decisivo, ao passo que a elaboração estética do conteúdo é um simples trabalho preliminar, que em si tem ainda pouco valor artístico; e isto porque a permanência na simples elaboração do conteúdo tem como resultado não um produto artístico inferior, mas simplesmente algo que não tem nenhum valor do ponto de vista estético. Esta falta de autonomia, contudo, em nada diminui a prioridade do conteúdo, ou seja, a absoluta insubstitutibilidade daquele trabalho artístico preliminar sobre o conteúdo para a final realização formal realmente artística.
Nasce algo substancialmente novo, através da elaboração formal? Não se pode responder a esta pergunta com um simples sim ou não. Se artistas de valor (tais como Courbet e Leibl) estavam profundamente convencidos — subjetivamente — de não criarem nada mais do que uma reprodução o mais possível fiel da natureza, isto não significa que caíssem no naturalismo, no plano teórico, nem mesmo que estivessem enganados. Estes artistas nada mais faziam do que expressar a mais profunda tendência criativa de toda arte autêntica, no sentido que indicamos ao examinarmos a correspondência entre obra de arte e realidade. Que se pense no pintor Mikhailov, em Ana Karenina, de Tolstói; sua concepção — partilhada também por Tolstói — era a de que o artista não deveria fazer mais do que retirar às figuras os véus que as cobrem, de modo a não danificá-las; encontramo-nos aqui em face de uma concepção que assinala para a forma uma imensa missão, mas que ao mesmo tempo a impede de produzir algo radicalmente novo em face da realidade.
É impossível negar que tal fato expressa um momento importante e decisivo da forma artística, mas apenas um momento. Se agora quisermos sublinhar o lado oposto desta situação, deveremos dizer inicialmente que a contradição que aqui se manifesta é uma contradição da própria vida artística, ou seja, uma contradição que — com sua existência, sua função, sua superação e sua reprodução — constitui a essência da elaboração formal na arte. Vale para ela o que Marx disse da contradição dialética em geral: é “uma das formas do movimento nas quais aquela contradição se realiza e, ao mesmo tempo, se resolve”.(54) Consideremos este fato em relação com um problema estreitamente ligado ao típico, do qual trataremos em seguida. Falando do reflexo científico do tipo, distinguimos este conceito do de média, que é frequentemente confundida (na teoria e na práxis artística) com o tipo; mas não analisamos tal conceito ao tratarmos do típico do ponto de vista do conteúdo. E isto não ocorreu casualmente; de fato, na hierarquia formada pelos tipos no plano do conteúdo, sua importância histórico-social tem o peso decisivo, sempre concentrado naturalmente sobre um determinado problema particular. Seria uma violência dogmática prejudicial à arte pretender impedi-la, mesmo que só parcialmente, de representar o médio. A questão se apresenta de um modo inteiramente diverso quando se fala da elaboração formal.
Apresenta-se aqui a escolha: o modelo para a caracterização artística deve ser a estrutura normal do típico ou a do médio? O princípio desta escolha implica, em resumo, o seguinte: se a forma da caracterização parte da explicitação ao máximo grau das determinações contraditórias (como no típico), ou se estas contradições se debilitam entre si, neutralizando-se reciprocamente (como no médio). Aqui não mais se trata de saber simplesmente se uma dada figura é média ou típica no que diz respeito ao conteúdo de seu caráter, mas trata-se, ao contrário, do método artístico (acima indicado) da caracterização. Ele possibilita — isto ocorre frequentemente — que artistas de valor elevem um homem médio à altura do típico, colocando-o em situações nas quais a contraditoriedade das suas determinações se manifesta não como “equilíbrio” médio, mas como luta dos contrários; e apenas a vacuidade desta luta, a queda no torpor, caracteriza definitivamente a figura como figura média. É igualmente possível — isto ocorre também muito frequentemente, sobretudo na arte mais recente — que a representação do que é em si típico seja rebaixada ao nível estrutural do que é médio, o que acontece quando a contraditoriedade das determinações não é abandonada ao seu livre curso e os resultados são já aprioristicamente estabelecidos. No primeiro caso, vemos como a verdade da forma, que desenvolve o seu conteúdo médio de acordo com as proporções da vida real, engendra movimento e vitalidade no que é em si rígido; no segundo caso, vemos que o modo da realização formal na representação é muito mais pobre do que a realidade empírica imediata.
Trata-se indubitavelmente da oposição — que pertence à concepção do mundo — entre ser e devenir. E também aqui a elaboração formal não pode transformar um nada em alguma coisa, não pode transformar o abstrato no concreto. Mas pode, como vimos mediante um exemplo importante, extrair de meras possibilidades uma realidade artística, pode produzir modificações qualitativas na estrutura imediata e aparente do conteúdo. Estas funções indicam a função decisiva, autônoma e aperfeiçoadora que a forma desempenha na obra. Mas, ao mesmo tempo, indicam — como no caso do ser e do devenir — que esta função da forma depende precisamente do fato de que ela, com relação ao mero conteúdo (naturalmente considerado já também de um ponto de vista estético), representa em várias questões uma verdade superior da vida, uma maior aproximação à sua totalidade e à sua essência. No presente caso, esta verdade da forma pode ser expressa também do seguinte modo: tipo e média existem na vida como determinações opostas, diversas. Mas sua oposição, também na vida, não é metafísica. A forma da grande arte expressa, portanto, precisamente esta verdade da vida: o típico não é, ele toma-se, o médio não é uma entidade metafísica, mas também um devenir, um tornar-se, um resultado da luta entre determinações sociais ricas de contradições.(55) Portanto, a forma artística chega àquela “infidelidade” em face dos fenômenos singulares, das singularidades e das exterioridades da realidade, tão somente por causa de sua fidelidade apaixonada à realidade tomada em seu conjunto.
Após observar num caso importante a função da elaboração formal artística, em sua viva relação com a vida representada, podemos agora defini-la melhor em relação ao nosso presente problema, em relação ao típico. Em primeiro lugar, a forma artística empresta completa concreticidade a um dado tipo. Em segundo, produz uma unidade evidente, impossível de separar, dos traços que fazem das figuras singulares seres plenamente caracterizados e daqueles nos quais se exprime a sua essência típica, cada traço típico contendo superadas em si determinações socialmente universais. A verdade da forma, também aqui, reside no fato de que torna evidente a incessante conversão recíproca do particular no típico, e vice-versa, conversão que existe na vida. Em terceiro, esta unidade não é representada “apartidariamente”, mas cada figura visa a exercer uma influência individual. Em quarto, as figuras singulares devem certamente provocar a impressão de uma vida independente e autônoma, mas sua existência artística depende objetivamente de suas mútuas relações com as outras figuras representadas, da posição e da função que possuem na hierarquia dos tipos da obra determinada, hierarquia que por sua vez não é algo estático e imóvel, mas algo que se movimenta dinâmica e dialeticamente, provocando mutações e transformações. Estas funções principalíssimas, que naturalmente poderiam ainda ser multiplicadas, formam uma unidade orgânica: elas só podem ser artisticamente realizadas uno actu; separamo-las tão somente para fornecer uma explicação conceitual. Sua multiplicidade é o reflexo da infinitude intensiva de cada momento da vida; a unidade da multiplicidade na realização formal, igualmente, é o reflexo da própria vida.
Se agora quisermos sintetizar esta rica e articulada unidade da realização formal, chegaremos à capacidade de suscitar experiências, à função evocadora da forma artística. Esta propriedade é tão evidente que reaparece — diversamente formulada, explicada, valorizada — em quase todos os tratados de estética. Isto significa que, por trás desta evidência imediata e peremptória, escondem-se todavia problemas e possibilidades de equívocos. Trataremos aqui tão somente de uma destas numerosas concepções equívocas que hoje exercem uma influência relativamente ampla: referimo-nos à autonomização da função evocadora da forma, à tendência em destacá-la do reflexo da realidade. Concepções deste gênero, naturalmente, têm grande peso sobretudo na estética musical, que só recentemente (e mesmo assim com muitas hesitações) aproximou-se da teoria do reflexo. Mas concepções semelhantes emergem também na teoria da literatura, onde o caráter de reflexo é de evidência muito mais imediata. Podemos citar como exemplo o inglês Christopher Caudwell, inteligente teórico da estética, que considera a lírica exclusivamente pelo lado evocativo, vendo nela uma “obra-sonho” que — diferentemente dos gêneros que refletem a realidade — expressaria unicamente a pura e isolada subjetividade, fazendo apelo exclusivamente a esta. Na eficácia artística, Caudwell vê com justeza (e disso falaremos mais longamente quando da conclusão destas considerações) um apelo não à consciência do homem, mas à sua autoconsciência; ele destrói, contudo, toda a justeza implícita neste juízo: por um lado, porque estabelece uma rígida antinomia metafísica, imaginando a autoconsciência como um fechar-se em face do mundo; por outro, porque atribui esta eficácia apenas à lírica. Ele desemboca assim na teoria — substancialmente influenciada por Poe e Mallarmé — de que apenas a lírica empregaria a palavra como órgão real (e precisamente para destruir a estrutura da realidade), ao passo que os romances, por exemplo, não seriam diretamente compostos por palavras. (É significativo que, como exceções, Caudwell fale de Proust, Malraux, Lawrence, etc.) Influenciado pela estética da decadência, Caudwell não vê que toda grande e autêntica lírica, seja de Goethe ou de Púshkin, é sempre um reflexo da realidade; que Goethe, com a concepção da “poesia de ocasião”, formulou teoricamente sua práxis, dizendo também: “Em seu cume mais alto, a poesia revela-se inteiramente exterior; quanto mais se retira para o interior, mais tende a se abaixar”.(56) Além disso, não vê que nenhum reflexo objetivamente justo da realidade no romance poderia possuir eficácia artística se não existisse uma força evocadora das palavras, das imagens, etc. As “passagens felizes” de Natacha, em Guerra e Paz, de Tolstói, não são menos evocadoras do que qualquer metáfora na lírica.(57)
Mas a múltipla função da forma tem também um lado específico- estético universalizante. Da especificidade do conteúdo artisticamente refletido, como vimos, nasce a possibilidade da individualidade da obra de arte em si completa. Mas tal individualidade só pode ser realizada através da elaboração formal. Ainda que uma determinada qualidade do conteúdo possa ser decisiva para a referida função da forma, na fase conteudística da gênese o conteúdo só é completo, só é um mundo para si enquanto intenção. Ele está ainda necessariamente ligado a outros elementos conteudísticos da realidade refletida; somente a forma é capaz de quebrar estas ligações, de fundir evocadoramente os momentos verdadeiramente essenciais e, consequentemente, de fechar em si a individualidade da obra. Desenhar significa selecionar, dizia o pintor alemão Liebermann. Deste modo, a particularidade como categoria específica da estética ganha uma nova concretização. Na realidade, a evocatividade se expressa da seguinte maneira: a unidade orgânica indivisível do singular e do universal, sua superação (ou melhor, sua fusão) na nova síntese, na qual já não podem mais ser descobertos: esta síntese é precisamente a particularidade.
Tentemos esclarecer esta ideia à luz do problema do típico, de que estamos tratando. Já falamos da hierarquia de tipos que existem em toda obra; dissemos também que na arte não pode existir uma figura típica isolada, nem tampouco o compêndio de todos os traços típicos em uma só personificação; ao contrário, em toda obra de arte notável, os diversos tipos iluminam-se reciprocamente, tornam-se mais plásticos (ou antes, adquirem vitalidade artística) precisamente através de suas semelhanças, de seu paralelismo e do contraste entre o caráter e o destino de cada um. Somente assim a hierarquia dos tipos, como fundamento ideal da composição, transforma-se numa composição verdadeiramente artística: ou seja, na evocação de um mundo particular no qual, por um lado, as figuras, destinos e situações singulares possuem uma evidência sensível independente e autônoma, enquanto, por outro, sua concreta totalidade se compõe num completo mundo particular, no qual todos estes momentos singulares têm apenas a função de dar vida — reforçando-se e integrando-se reciprocamente – a este novo conjunto. Deve-se sublinhar energicamente que o pressuposto indispensável para a boa realização desta síntese é a justeza conteudística de todas as singularidades, bem como de suas relações e de suas proporções. Mas, com igual energia, deve-se também sublinhar que as mais justas observações de conteúdo — por exemplo, do ponto de vista psicológico, ou sobre as relações e as situações — permanecerão inteiramente irrelevantes, do ponto de vista artístico, se em sua elaboração formal faltar esta força evocadora. Deve-se sempre levar em conta este duplo aspecto de toda determinação, se se quer compreender corretamente as funções essenciais criativas do novo que são próprias da forma artística. Antes de tudo, deve-se levar em conta o caráter inseparavelmente espiritual-sensível de todos os elementos formais. Esta unidade é ainda mais claramente perceptível quando na forma parece ser mais incontestável o caráter sentimental, de estado de espírito, puramente evocativo; não importa que no passado este nexo fosse obscurecido por causa do atraso da estética com relação à práxis artística, e tampouco que atualmente certas teorias e certas obras da decadência tudo façam para quebrar esta ligação, para fazer da arte algo irracional. Nenhuma importância tem, para o resultado final, que se chegue a esta quebra através de um subjetivismo solipsista ou de um objetivismo enrijecido até se tornar inumano, anti-humano.
Recorde-se, por exemplo, a entonação na música. Ela nada mais é do que um compêndio concentrado do conteúdo espiritual-sensível de toda a obra, uma enunciação que suscita sugestivamente aquele estado de ânimo que permite aceder ao conteúdo espiritual da obra, a afirmação daquela atitude em face da vida, daquela distância da vida que é refletida pela obra, cujo perdurar espiritual-sensível constitui nela a essência da unidade do múltiplo e revela, por isso, o único caminho para atingir o seu significado último. Ou, então, tomem-se como exemplo as exposições de Shakespeare. Elas não servem simplesmente para tornar conhecidos dados fatuais relativos às pessoas e às situações do drama, sem os quais tudo o que se segue seria incompreensível. (Esta parte informativa, tomada isoladamente, reencontra-se também no teatro artesanal, ainda que seja evidente que — se vista no contexto artístico — ela constitua um elemento insuprimível do drama.) A cena das feiticeiras em Macbeth, a cena das pancadas noturnas na porta do castelo após o assassinato de Duncan, a cena do pátio de Elsinore com o espectro que aparece e a expectativa da aparição, etc., informam sobre os necessários pressupostos fatuais das tragédias, mas são ao mesmo tempo sínteses evocativas, espiritual-sensíveis, expressas por um estado de espírito, da sua particular atmosfera trágica. Tais cenas possuem esta irresistível capacidade de suscitar estados de espírito porque esta capacidade não é senão, aqui, a essência — tornada emotiva — daquilo que a obra desenvolverá posteriormente como conteúdo espiritual, sob a forma de tipos particulares, porque a unidade do espiritual é incessantemente sustentada por tais estados de espírito — unitários, e não obstante extremamente diversos —, porque o estado de espírito, como dizíamos, não é mais do que a atmosfera específica dos tipos particulares e dos destinos representados.
A consequência é que toda obra tomada em seu conjunto — da lírica mais simples à mais complicada sinfonia, ao poema épico que abarca todo um mundo — representa igualmente alguma coisa de típico. Aquilo que, do ponto de vista do conteúdo, aparecia apenas como uma hierarquia de tipos, revela-se agora como um particular e concentrado conjunto de destinos humanos. O conjunto dos diversos tipos singulares que se refletem um no outro, em sua aproximação e em sua subordinação recíproca, nas mútuas influências dinâmicas que daí decorrem, eleva-se a ponto de se tornar uma totalidade unitária espiritual-sensível, cuja força evocadora é certamente condicionada pela justeza de um conteúdo, pelo justo acordo — do ponto de vista do conteúdo — de todos estes motivos, mas que não deixa de ser algo diverso, algo mais do que uma pura síntese dos seus elementos. O pluralismo dos tipos, esteticamente necessário, que até agora consideramos apenas em suas figuras singulares, situações, etc., e que tem a sua razão e a sua justificação na “astúcia” das vias do desenvolvimento humano, produz aqui um pluralismo de grau superior. Tão somente neste ponto, podemos encontrar um adequado reflexo estético da infinitude intensiva de cada momento da realidade objetiva e da sua infinitude extensiva que não pode ser representada pela arte, como vimos, mas que interfere inevitavelmente, por via indireta, em toda representação veraz, justa e profunda. Um produto artístico merece o nome de obra de arte tão somente se, nesta totalidade como totalidade, encontra expressão decisivamente típica, algo que seja inelutavelmente típico para a humanidade. E é evidente que aqui a particularidade se afirma, mais uma vez, como categoria específica da estética: uma multidão inumerável de singularidades cria a base sensível para o caráter evocativo da forma: toda uma série de justos reflexos de relações universais importantes serve de fundamento para o conteúdo e a forma da substância espiritual. Mas a forma artística pode criar, com este substrato, uma “realidade” própria, o reflexo de um momento particular na vida da humanidade, tão somente se a singularidade perder a sua mera particularidade e a universalidade perder a sua abstratividade conceitual, se ambas se resolverem integralmente no reino intermediário sensível-espiritual da particularidade.
A eficácia evocadora da forma encontra sua base ideal quando a particularidade tem grande variedade de cores, ao passo que o conteúdo apresenta-se rigorosamente unitário: a inseparável unitariedade sensível-espiritual da forma pode exercer o efeito desejado se cada um dos seus momentos não expressar apenas, unificando-a, uma multiplicidade de conteúdos, mas também aquela tensão que preenche a heterogeneidade em si existente entre aqueles momentos e entre eles e o princípio de elaboração formal que os torna homogêneos. Goethe expressa muito eficazmente esta tensão, em um caso concreto, quando diz: “Tudo o que é lírico deve ser muito racional no conjunto e um pouco irracional no particular”.(58) Naturalmente, trata-se aqui apenas de um exemplo. Esta tensão pode e deve abraçar todos os campos e todos os fenômenos da vida humana. Precisamente em sua função unificadora, a forma deve suscitar a impressão da infinidade intensiva do mundo objetivo representado; e deve torná-la evidente precisamente ao elevar à experiência a tensão existente entre os elementos da obra e a sua unidade.
A particularidade como campo de forças entre universal e singular, como meio organizador das suas relações dinâmicas e contraditórias, constitui a base ideal para a verdade artística da forma. Os tipos singulares, a hierarquia social que formam do ponto de vista do conteúdo, transformam-se em totalidade sintética, em reprodução de uma etapa típica do desenvolvimento da humanidade, tão somente através da realização formal. Enquanto conteúdo, se bem que já sejam formados do ponto de vista estético também em seu caráter conteudístico, estes elementos são apenas elementos, indicações, tendências para uma reprodução concreta e determinada da realidade objetiva. As ligações c os nexos definitivos, vivos e dinâmicos, correspondentes ao seu verdadeiro conteúdo, podem nascer apenas na forma artística. Quando definimos a forma como forma de um conteúdo concreto determinado, isto só comportaria uma limitação se a forma e o conteúdo fossem concebidos em sentido lógico-científico: do ponto de vista estético, ao contrário, reside precisamente aqui a origem da sua validade universal. Com esta definição, expressa-se apenas em forma mais abstrata a verdade fundamental da estética: em sua esfera, o típico representa o mais alto nível de generalização. A verdade da forma, precisamente enquanto torna evidente esta particularidade concreta, é uma verdade da vida: a máxima intensificação — e, consequentemente, a elevação a uma qualidade particular — da verdade real do conteúdo refletido.
Deste modo, encontra expressão o humanismo da representação artística. O particular como categoria estética abraça o mundo global, interno e externo, e precisamente como mundo do homem, da humanidade; as formas fenomênicas sensíveis do mundo externo, por isso, são sempre — sem prejuízo para a sua sensibilidade intensificada, para a sua imediata vida própria — signos da vida dos homens, de suas relações recíprocas, dos objetos que mediatizam estas relações, da natureza em seu intercâmbio material com a sociedade humana. O universal, por seu turno, é tanto a encarnação de uma das forças que determinam a vida dos homens, como ainda — caso em que ele se manifesta subjetivamente como conteúdo de uma consciência no mundo figurado — um veículo da vida dos homens, da formação da sua personalidade e do seu destino. Com esta representação simbólica do singular e do universal, a obra de arte revela — em virtude da sua essência objetiva, independentemente das intenções subjetivas que determinaram o seu nascimento — uma qualidade interna, em si significativa da vida humana, terrena. Ela conserva esta peculiaridade mesmo quando, por causas histórico-sociais, os motivos conscientes do seu nascimento têm caráter transcendental (mágico, religioso). Ela encarna e figura esses motivos — a forma é determinada pelo conteúdo —, mas de tal maneira, artisticamente, que a transcendência é transformada involuntariamente numa imanência da realidade terrena. Por isso, podemos reviver esta transcendência nas obras do passado, mas a revivemos como destino humano, sob a forma de emoções e paixões humanas. Esta tendência espontânea que a arte autêntica manifesta para a imanência terrena é uma das razões pelas quais, tão frequentemente, os idealistas extremados e os representantes ideológicos das religiões desconfiam da arte.
Este problema da humanidade da arte é indissoluvelmente ligado ao da sua objetividade e subjetividade. Também a este respeito não foi possível se chegar a uma clarificação teórica porque o pensamento estético oscilava entre os dois polos, igualmente falsos, da universalidade e da singularidade; por isso, de um lado, acentuando-se demais a singularidade, caía-se em um falso subjetivismo, manifestando-se no mais das vezes como agnosticismo estético; e, do outro, acentuando-se muito a universalidade, caía-se no dogmatismo. Também a decadência burguesa apresenta, em sua base, esta distorcida polarização do falso subjetivismo e do falso objetivismo. Mas entre o passado e os nossos tempos existe uma grande diferença, pois os maiores e mais avançados pensadores do passado visavam sempre a determinar a específica particularidade estética, como já vimos em alguns exemplos importantes, mesmo quando falavam equivocadamente de universalidade ou de singularidade, ao passo que as teorias da decadência, como vimos também várias vezes, consideram os dois polos como definitivamente fixados — polos falsos porque isolados e carentes de um centro — e fazem deles algo rígido e estanque.
Apenas assumindo a particularidade como ponto central do reflexo estético da realidade pode-se estar em condições de explicar a específica unidade dialética entre fator subjetivo e fator objetivo como princípio animador contraditório da inteira esfera. Já assinalamos esta relação dialética entre subjetividade e objetividade tanto na própria individualidade da obra de arte, quanto na sua eficácia estética; ora, após termos mencionado o humanismo da arte, podemos melhor concretizar essa problemática. Já que a arte representa sempre e exclusivamente o mundo dos homens, já que em todo ato de reflexo estético (diferentemente do científico) o homem está sempre presente como elemento determinante, já que na arte o mundo extra- humano aparece apenas como elemento de mediação nas relações, ações e sentimentos dos homens, deste caráter objetivamente dialético do reflexo estético, de sua cristalização na individualidade da obra de arte, nasce uma duplicidade dialética do sujeito estético, isto é, nasce no sujeito uma contradição dialética que, por sua vez, revela também o reflexo de condições fundamentais no desenvolvimento da humanidade.
Trata-se aqui da relação entre homem e humanidade. Objetivamente, esta relação sempre existiu, razão pela qual devia sempre reaparecer, de um modo ou de outro, nas formas do reflexo da realidade. Mas dado que na “pré-história da humanidade”, no comunismo primitivo e nas sociedades de classe, este ser objetivo existia mais em-si do que para-nós (tanto para a própria humanidade quanto na consciência do indivíduo), a sua expressão direta devia ser sempre distorcida, involuntariamente equívoca. Enquanto a base da existência humana, ainda que em função do progresso civil, for a diferenciação em tribos, nações, etc., enquanto no interior de cada nação a luta de classes representar a força motriz do desenvolvimento, todo apelo direto à humanidade, tendente a ultrapassar estas mediações objetivas, deverá violentar os verdadeiros conteúdos e as verdadeiras formas da realidade, produzindo resultados falsos, muito frequentemente reacionários. (Recordem-se as atuais teorias das “sínteses” supraestatais, supranacionais, que não passam de instrumentos ideológicos do imperialismo norte-americano. Só com o surgimento do socialismo, com a possibilidade concreta de realizar a sociedade sem classes, este problema eleva-se objetivamente a um estágio superior: o comum conteúdo socialista, que se realiza em formas nacionais, já revela a humanidade nos lineamentos do seu concreto ser e devenir, a perspectiva concreta de uma humanidade unitária.).
Este problema, enquanto essencialmente histórico, não faz parte das nossas atuais considerações; seria particularmente inoportuno traçar, ainda que brevemente, neste local, a evolução histórica deste conjunto de problemas. Nosso interesse permanece centrado na teoria do reflexo. Mas deve-se também afirmar que se um dado fatual existe em si, ele deverá refletir-se — de um modo ou de outro — na representação da realidade. No reflexo científico encontramos frequentemente, como algo óbvio e que não requer demonstração, um apelo àquela comunidade que constitui o substrato real do conceito de humanidade. É suficiente recordar as categorias da lógica: não existe jamais a menor dúvida de que as formas fundamentais do pensamento são propriedade comum da humanidade em seu conjunto. (Naturalmente, não falamos aqui das ciências naturais, já que o objeto do seu reflexo é principalmente uma realidade extra-humana.) Com inteira razão se pressupõe este elemento humano comum; de fato, mesmo sem levar em conta que desde que o homem tornou-se homem não mais sofreu transformações antropológicas decisivas, o desenvolvimento histórico mostra que — não obstante a intensíssima variedade existente mesmo em fatos essencialíssimos — certas fases ou etapas determinadas apresentam traços típicos extremamente afins e podem ser englobadas em determinadas leis gerais. (As formações econômicas, o seu surgimento e desenvolvimento, etc.) Naturalmente, esta comunidade reside sobretudo na esfera da universalidade; quanto mais nos aproximamos da realidade concreta, tanto mais imperiosas e importantes surgem as diferenças (surgimento do capitalismo na Inglaterra, na França, etc.)
Observando isto, aproximamo-nos da resolução do nosso problema para a estética. De fato, para o nascimento de qualquer obra de arte, é decisiva precisamente a concreticidade da realidade refletida. Uma arte que pretendesse ultrapassar objetivamente as suas bases nacionais, a estrutura classista de sua sociedade, a fase da luta de classe que é nela presente, bem como, subjetivamente, a tomada de posição do autor em face de todas estas questões, destruir-se-ia como arte. Para a ciência, é legítimo estudar as leis gerais comuns de uma formação econômica (e mesmo de todas as formações); para qualquer obra de arte, ao contrário, o objeto imediato da representação só pode ser, sempre, uma determinada etapa concreta. Esta verdade indubitável foi obscurecida, durante muito tempo, pela teoria idealista do “humano universal” como matéria da arte; uma inversão salutar só foi possível com o aparecimento do materialismo histórico (e de seus precursores importantes), que restituiu à arte — no nível da teoria — a realidade de sua efetiva função.
Mas é preciso também chamar a atenção, de passagem, para uma deformação de tipo oposto. O marxismo vulgar identificou imediatamente a gênese social da arte com a sua essência, chegando por vezes a conclusões absurdas, como, por exemplo, à afirmação de que na sociedade sem classes as grandes obras de arte criadas nas sociedades classistas cessariam de ser compreendidas e apreciadas. Este modo estreito e deformado de ver os problemas só pode surgir quando não se leva em conta a teoria do reflexo e quando se concebe a arte como mera expressão de uma determinada posição na luta de classes.(59) De fato, apenas assumindo o reflexo como princípio básico é possível fundamentar teoricamente a universalidade da objetividade artística e, com ela, a universalidade da forma artística. A determinação social da gênese, a necessária tomada de posição de toda representação, podem realmente se efetivar apenas sobre o terreno de uma tal universalidade do mundo reproduzido e dos meios de reprodução. De acordo com este estado de coisas, o próprio Marx colocou a questão de um modo inteiramente diverso daquele dos seus vulgarizadores. Também para ele, naturalmente, a gênese social é um ponto de partida; mas a tarefa real da estética só começa quando tal gênese está esclarecida:
Mas a dificuldade não está em entender que a arte e a epopeia gregas são ligadas a certas formas do desenvolvimento social. A dificuldade reside no fato de que elas continuem a provocar em nós um prazer estético e constituam, sob certo aspecto, uma norma e um modelo inatingíveis.(60)
Se a questão é colocada desta maneira, surge naturalmente o problema do substrato comum. (Isto revela que a teoria do “humano universal” é uma falsa resposta a uma pergunta justificada.) Se se considera o processo histórico do ponto de vista do materialismo dialético, a resposta se apresenta sem muitas dificuldades: este substrato comum é a continuidade do desenvolvimento, a relação recíproca real de suas partes, o fato de que o desenvolvimento jamais começa do início, mas elabora sempre os resultados de etapas precedentes, tendo em vista as necessidades atuais, assimilando-os; neste local, naturalmente, não podemos nos deter no exame da complexidade e desigualdade deste desenvolvimento. Mas é suficiente constatar este dado fatual para reconhecer o momento conteudístico que torna possível a representação pela arte do desenvolvimento da humanidade, e que coloca à representação a tarefa de descobrir precisamente na concreticidade do imediato conteúdo nacional e classista a novidade que merece se tornar — e que ainda se tornará — propriedade duradoura da humanidade. Examinando a originalidade e a duração da eficácia das obras de arte, tratamos já desta questão; agora, entretanto, ela nos aparece sob uma luz muito mais concreta.
Mas esta definição não é ainda bastante concreta para as tarefas específicas da arte. A continuidade do desenvolvimento da humanidade tem a seu favor uma sólida base material, à qual nos referimos anteriormente. Contudo, para a arte, ela serve apenas como mediação para a realização de sua tarefa, a de representar o homem, o seu destino, os seus modos de manifestação (tudo isso tomado no sentido mais lato). Esta tarefa assume a sua verdadeira dimensão tão somente do seguinte modo: o desenvolvimento provoca contínuas modificações no típico, o qual, na maioria dos casos, é naturalmente bastante efêmero. Apenas um número limitado dos novos homens e das novas situações que são típicos do ponto de vista histórico-social será conservado — no bom ou no mau sentido — na memória dos homens, será assimilado pela posteridade como propriedade duradoura. Mas esta seria uma escolha meramente conteudística, cujo valor é ainda limitado porque, do ponto de vista do típico conteudístico, a oposição entre efêmero e perene não pode deixar de ser relativa. De fato, nenhum tipo pertence em tudo e por tudo a esta ou àquela categoria; para decidir sobre isso, deve-se também considerar até que ponto o reflexo artístico consegue captar as propriedades típicas de modo que nelas se expresse um momento — no bem ou no mal — desta durabilidade. As propriedades humanas típicas conservadas pelo próprio desenvolvimento histórico serão, por isso, muito mais numerosas do que as mantidas vivas nas representações artísticas. A durabilidade dos tipos criados pela arte, portanto, tem uma base objetiva na própria realidade, mas a possibilidade de que os tipos figurados nasçam e durem decorre de sua própria atividade.
Até aqui consideramos a questão apenas do ponto de vista do conteúdo. A vitalidade e a duração de uma obra e dos tipos nela figurados dependem, em última instância, da perfeição da forma artística. Foram tantas as obras que nos serviram como veículo de informação, sendo continuamente estudadas e explicadas pelos especialistas por representarem documentos históricos extraordinariamente importantes de épocas passadas, que vários especialistas tendem a confundir o interesse histórico- conteudístico com a sobrevivência da validade artística. É necessário, pelo contrário, recordar sempre o valor evocativo imediato da forma artística. É verdade que o Édipo de Sófocles contém uma grande quantidade de ensinamentos para o historiador da Antiguidade; mas é igualmente verdade que nove décimos dos espectadores ou dos leitores deste drama nada sabem ou sabem muito pouco destes pressupostos históricos concretos: e, não obstante, sentem com profunda emoção a sua eficácia. Por outro lado, cair-se-ia no extremo oposto, igualmente falso, se se fizesse esta eficácia depender exclusivamente da “magia” da perfeição formal. É inegável que esta também existe (precisamente o Édipo sempre permanecerá também como modelo formal de um determinado gênero de composição dramática); mas ela, por si só, poderia produzir apenas uma tensão vazia e consequentemente efêmera, um efeito puramente grand-guignolesco. O que o espectador sente com emoção, no Édipo, é precisamente um destino humano típico, no qual mesmo o homem moderno — ainda que só possa perceber os pressupostos históricos concretos aproximadamente — reconhece com emoção imediata, ao revivê-lo, um mea causa agitur.
Esta identificação com o sujeito representado, contudo, deve ser melhor concretizada. Quando a juventude soviética comparece às representações de Casa de Bonecas ou de Romeu e Julieta e revive apaixonadamente as suas figuras e os seus eventos, é claro que cada espectador sabe que eventos concretos daquela espécie estão completamente fora de sua vida, que pertencem inapelavelmente ao passado. Mas de onde deriva a força evocativa destes dramas? Acreditamos que resida no fato de que neles é revivido e feito presente precisamente o próprio passado, e este passado não como sendo a vida anterior pessoal de cada indivíduo, mas como a sua vida anterior enquanto pertencente à humanidade. O espectador revive os eventos do mesmo modo, tanto no caso em que assista a obras que representam o presente, como no caso em que a força da arte ofereça à sua experiência fatos que lhe são distantes no tempo ou no espaço, de uma outra nação ou de uma outra classe. Um fato igualmente inegável é o de que massas de proletários leram Tolstói com entusiasmo, do mesmo modo como massas de burgueses leram Gorki com entusiasmo.
Todos esses exemplos indicam claramente qual seja a causa real desta eficácia: nas grandes obras de arte, os homens revivem o presente e o passado da humanidade, as perspectivas de seu desenvolvimento futuro, mas os revivem não como fatos exteriores, cujo conhecimento pode ser mais ou menos importante, e sim como algo essencial para a própria vida, como momento importante também para a própria existência individual. Marx generalizou teoricamente esta questão ao falar da eficácia de Homero:
Um homem não pode se tornar criança sem se tornar pueril. Mas não lhe agrada a ingenuidade da criança? Não deve ele mesmo buscar reproduzir, num mais alto nível, a verdade da infância? Na natureza infantil, não reviverá o caráter próprio de cada época a sua verdade natural? E por que então a infância histórica da humanidade, no momento mais belo de seu desenvolvimento, não poderia exercer um fascínio eterno enquanto estágio que não mais retorna? Existem crianças tolas e crianças tão sabidas como velhos. Muitos povos antigos pertencem a esta categoria. Os gregos eram crianças normais. O fascínio que a sua arte exerce sobre nós não está em contradição com o estágio social pouco ou nada evoluído no qual ela amadureceu. Pelo contrário, tal fascínio é o resultado deste atraso; está indissoluvelmente ligado ao fato de que as imaturas condições sociais que deram nascimento a esta arte e que só elas podiam dar não podem jamais retornar.(61)
É evidente que essas afirmações de Marx não se referem apenas ao período da infância da humanidade, mas que, ao contrário, toda época pode ser revivida como um igual momento do próprio passado que não mais retorna.
Já nos referimos ao fato de que a personalidade criadora importante para o surgimento da obra de arte não se identifica imediata e simplesmente com a individualidade cotidiana do criador, que a criação exige que ele universalize a si mesmo, que se eleve da sua singularidade meramente particular à particularidade estética. Vemos ademais que a eficácia das obras de valor traz consigo, em medida tanto mais surpreendente quanto mais longínquo no tempo e no espaço ou mais estranho do ponto de vista da nação ou da classe for o conteúdo representado, uma ampliação e um aprofundamento, uma elevação da individualidade cotidiana imediata. Precisamente neste enriquecimento do eu reside, em primeiro lugar, a feliz experiência que é proporcionada pela arte realmente grande.
É um fato reconhecido por todos o de que na base desta eficácia da arte, como momento decisivo, está a elevação do indivíduo — que desfruta esta eficácia — da mera particularidade do sujeito à particularidade. Ele experimenta realidades que, de outro modo, na plenitude oferecida pela época, ser-lhe-iam inacessíveis; suas concepções sobre o homem, sobre suas possibilidades reais positivas ou negativas, ampliam-se em proporções inesperadas; mundos que lhe são distantes no espaço e no tempo, na história e nas relações de classe, revelam-se-lhe na dialética interna daquelas forças cujo jogo exterior oferece-lhe a experiência de algo que lhe é bastante estranho, mas que ao mesmo tempo pode ser posto em relação com a sua própria vida pessoal, com a sua própria intimidade. (Quando falta este último aspecto, surge então um interesse puramente exterior, frequentemente voltado para a forma ou para a técnica artística, mas não essencialmente estético, ou seja, um interesse dirigido para o exterior, para o exótico, uma simples curiosidade.).
O verdadeiro conteúdo desta generalização, que aprofunda e enriquece objetiva e subjetivamente a individualidade, mas sem jamais conduzi-la para fora de si mesma, é precisamente o caráter social da personalidade humana. Este caráter já era conhecido por Aristóteles. Somente o idealismo subjetivo da época burguesa mistificou, das mais variadas maneiras, o substrato social da criação estética e de sua eficácia. O conteúdo da obra, e consequentemente o conteúdo de sua eficácia, é a experiência que o indivíduo faz de si mesmo na ampla riqueza de sua vida na sociedade e — através da mediação dos traços essencialmente novos das relações humanas assim reveladas — da sua existência como parte e momento do desenvolvimento da humanidade, como seu compêndio concentrado.(62) Nesta elevação, a subjetividade meramente particular não é levada para fora de si mesma, para um universal puramente subjetivo: ao contrário, a individualidade é aprofundada, precisamente na medida em que é introduzida neste reino intermediário do particular. No prazer estético, o sujeito receptivo imita aquele movimento que recebe a sua forma objetiva na criação da individualidade da obra de arte: uma “realidade” que, no sentido da diferenciação, é mais intensa do que a experiência obtida na própria realidade objetiva e que, precisamente nesta intensidade, revela imediatamente a oculta essencialidade real. Assim, a elevação da subjetividade receptiva ao particular reproduz um processo de elevação análogo ao que ocorre na personalidade criadora. E é evidente, a este respeito, que o nível de representação atingido na individualidade da obra de arte constitui a base ^para a sua eficácia. Com justeza, Hegel viu no conceito de pathos(63) aquele nível sentimental-espiritual-moral ao qual a representação da obra deve elevar-se a fim de exercer um autêntico efeito estético: a particularidade da individualidade da obra determina a tendência à particularidade no ato estético do desfrute da arte.
Naturalmente, a eficácia social e humanista da arte não consiste apenas numa embriaguez da receptividade direta. Esta eficácia tem um antes e um depois; um dos principais erros cometidos pela maior parte dos teóricos idealistas da estética é o de isolar esta eficácia imediatamente artística da vida global do sujeito receptivo. Nenhum homem se torna diretamente um outro homem no prazer artístico e através dele. O enriquecimento obtido neste caso é um enriquecimento da sua personalidade, exclusivamente dela. Mas tal personalidade é determinada em um sentido classista, nacional, histórico, etc. (além de ser, no interior destas determinações, formada por experiências pessoais), sendo também uma vazia ilusão de estetas a convicção de que exista sequer um só homem que possa receber como tabula rasa espiritual uma obra de arte. Não, todas as suas experiências precedentes, que vivem nele sobre a base de sua determinação social, permanecem operantes mesmo durante o prazer estético. Mesmo reconhecendo em todo o seu valor a força evocadora da forma artística, deve estar claro que qualquer sujeito receptivo coloca incessantemente em confronto a realidade refletida pela arte com as experiências que ele mesmo adquiriu. Naturalmente, também aqui não se trata de cotejar, por meio de um procedimento mecanicamente fotográfico, os detalhes singulares observados antes na vida e depois na arte. Como já foi dito em outro local, a correspondência se estabelece entre duas totalidades, entre a totalidade da representação concreta e aquela da experiência adquirida.
Ao reconhecermos isto, não pretendemos de nenhum modo limitar o que dissemos anteriormente sobre a força da elaboração formal realmente artística; muito pelo contrário. Aquilo que chamamos de feliz enriquecimento no desfrute artístico depende precisamente do fato de que nenhum sujeito receptivo se encontra em face da obra de arte como tabula rasa. Torna-se inteligível, então, o fato de que quando se produz a eficácia nasça frequentemente uma luta entre experiências passadas e novas impressões provocadas pela arte. O terreno desta luta é, precisamente, a correspondência de totalidades à qual nos referimos anteriormente; a correspondência dos detalhes não oferece senão os motivos iniciais deste processo. A eficácia da grande arte consiste precisamente no fato de que o novo, o original, o significativo obtém a vitória sobre as velhas experiências do sujeito receptivo. Justamente aqui se manifesta aquela ampliação e aquele aprofundamento das experiências que é causado pelo mundo representado na obra.
Naturalmente, ocorrem com frequência casos em que, faltando a correspondência, não existe eficácia e a obra é rechaçada. Isso pode depender dos defeitos ideais e artísticos da obra, mas também da imaturidade ideológica ou artística do sujeito receptivo. Estes problemas são objeto da história das artes; seus princípios gerais são objeto daquela parte da estética que analisa os diversos graus de receptividade. Neste local, pressupomos a existência de uma receptividade estética evoluída. O fato de que na realidade social exista o processo histórico do surgimento desta capacidade receptiva, que este desenvolvimento esteja ainda hoje muito distante de sua conclusão, que, portanto, nem todos os sujeitos receptivos possam reagir adequadamente à arte no modo a que nos referimos, não modifica o problema quando ele é colocado no nível dos princípios gerais, não modifica o específico reflexo estético da realidade. E interessante o fato de que Marx se refira precisamente à arte quando explica a necessidade objetiva de uma tal influência recíproca sobre a inteira vida da humanidade:
O objeto artístico — bem como qualquer outro produto — cria um público sensível à arte e capaz de prazer estético. A produção, por isso, produz não apenas um objeto para o sujeito, mas também um sujeito para o objeto.(64)
Inserindo este dado fatual, por nós sublinhado, em um contexto universal, não se limita absolutamente a importância da particularidade na receptividade estética, no consumo da arte. Poucas linhas antes do trecho acima citado, observa Marx: “Antes de mais nada o objeto não é um objeto em geral, mas um objeto determinado, que deve ser consumido de um modo determinado, de um modo mais uma vez mediatizado pela própria produção”.(65)
Para valorizar com justeza a eficácia da arte, o seu “depois” não é menos importante do que o seu “antes”. Para os antigos teóricos da estética, ligados à ideologia da polis, esta era naturalmente a questão central. Nela está a fonte tanto da desconfiança de Platão em face da arte, quanto da teoria aristotélica da catarse. Somente as teorias idealistas e a práxis da arte contemporânea, cada vez mais destacadas da sociedade, isolam — de acordo com o modelo oferecido pela vida da decadência — a eficiência estética do antes e do depois; para dizê-lo melhor: elas concebem esta eficácia como uma embriaguez momentânea, que no seu “depois” (como também no seu “antes”) é rodeada por um mar de tédio infinito, de abatimento depressivo; a melhor descrição deste tipo de eficácia está no jovem Hofmannsthal.
As coisas ocorrem de modo inteiramente diverso na sociedade dos homens normalmente ativos. O enriquecimento a eles proporcionado pelo prazer estético opera, ainda que de um modo frequentemente gradual e indireto, sobre toda a sua conduta vital e, portanto, também em sua relação com a arte. A essência deste “depois” poderia ser definida da melhor maneira com as palavras de Tchernichévski: “a arte é um manual da vida”. Naturalmente existem também obras — entre as quais muitas de primeira ordem — que têm uma eficácia mais direta, que proporcionam um enriquecimento que no “depois” se traduz imediatamente em ação: a imediaticidade é completa, por exemplo, na “Marselhesa”, mas existe também uma imediaticidade relativa que se manifesta na admiração apaixonada por uma determinada conduta típica, na tentativa de tomá-la como modelo para a vida, na não aceitação igualmente apaixonada de um outro tipo, etc. Seria ridículo censurar como “não artística” uma eficácia desta natureza, como fazem com frequência os teóricos da decadência: neste caso, dever-se-ia excluir do campo da arte Ésquilo e Aristófanes, Cervantes e Rabelais, Goya e Daumier, etc., etc. Mas seria igualmente unilateral e errado encontrar nesta eficácia direta e linear o único critério de julgamento estético. Não só porque, neste caso, chegar-se-ia a compilar uma lista talvez ainda mais longa de obras-primas “excluídas”, como também porque um grande número de obras-primas que, em seu tempo, exerceu uma eficácia imediata, tornou-se posteriormente parte viva do patrimônio artístico de épocas posteriores graças a uma eficácia mais indireta. Basta citar obras como As Bodas de Fígaro ou Werther.
Na influência direta e indireta exercida pelo prazer artístico sobre o sujeito receptivo, o elemento comum é a transformação do sujeito que descrevemos, o seu enriquecimento e o seu aprofundamento, o seu reforçamento e a sua comoção. E chegamos assim à decisiva oposição que existe, na objetividade do reflexo, entre a proposição científica destacada de qualquer momento subjetivo da sua gênese e a individualidade da obra de arte sempre determinada pela subjetividade e inconcebível sem ela. A ciência descobre nas suas leis a realidade objetiva independente da consciência. A arte opera diretamente sobre o sujeito humano; o reflexo da realidade objetiva, o reflexo dos homens sociais em suas relações recíprocas, no seu intercâmbio social com a natureza, é um elemento de mediação, ainda que indispensável; é simplesmente um meio para provocar este crescimento do sujeito. Por isto, a oposição pode ser nitidamente caracterizada da seguinte forma: o reflexo científico transforma em algo para nós, com a máxima aproximação possível, o que é em si na realidade, na sua objetividade, na sua essência, nas suas leis; a sua eficácia sobre a subjetividade humana, portanto, consiste sobretudo na ampliação intensiva e extensiva, no alargamento e no aprofundamento da consciência, do saber consciente sobre a natureza, a sociedade e os homens. O reflexo estético cria, por um lado, reproduções da realidade nas quais o ser em-si da objetividade é transformado em um ser para-nós do mundo representado na individualidade da obra de arte; por outro lado, na eficácia exercida por tais obras, desperta e se eleva a autoconsciência humana; quando o sujeito receptivo experimenta — da maneira acima referida — uma tal realidade em si, nasce nele um para-si do sujeito, uma autoconsciência, a qual não está separada de maneira hostil do mundo exterior, mas antes significa uma relação mais rica e mais profunda de um mundo externo concebido com riqueza e profundidade, ao homem enquanto membro da sociedade, da classe, da nação, enquanto microcosmo autoconsciente no macrocosmo do desenvolvimento da humanidade.(66)
Após ter estabelecido assim a oposição entre as duas espécies de reflexo, devemos recordar ainda uma vez, contudo, que ambos refletem a mesma realidade objetiva, que ambos — ainda que de um modo diverso — são momentos do mesmo processo de desenvolvimento histórico-social da humanidade. Por isso, também aqui não devemos contrapor rigidamente, como se se excluíssem reciprocamente, a consciência e a autoconsciência, tal como — por influência da estética da decadência — o faz Caudwell; ao contrário, eles devem ser considerados como polos da recepção subjetiva do mundo, entre os quais existem e agem infinitas passagens e ações recíprocas dialéticas. É claro, de fato, que os conteúdos refletidos pela ciência — os quais, em princípio, não fazem senão transformar em propriedade da consciência humana uma realidade que existe independentemente da consciência — exercem uma influência extraordinária, por vezes mesmo revolucionária, sobre o desenvolvimento da autoconsciência humana. Basta recordar, por exemplo, os efeitos que tiveram as descobertas científicas de Copérnico e Darwin sobre a substância e sobre a forma da autoconsciência dos homens, para não falar da eficácia exercida por Marx ou Lenin, pelos conhecimentos econômicos e históricos por eles revelados, sobre a consciência social e nacional dos homens. Por outro lado, como muito se repetiu anteriormente, para que a autoconsciência possa efetivar-se através da eficácia das obras de arte é absolutamente indispensável passar pela via indireta do reflexo científico da realidade; uma concreta análise marxista comprova este fato — por mais que a ideologia da decadência costume negá-lo — até mesmo em gêneros artísticos como a lírica e a música. É notório que a grande épica, a tragédia, a pintura realmente grande, etc., revelam “mundos” também do ponto de vista do conteúdo e que só por este caminho atuam sobre a autoconsciência. Será que é possível estabelecer se são mais numerosos os homens que aprenderam a história de sua pátria através da arte do que através da ciência?
As passagens e as ações recíprocas têm, portanto, uma grande importância. Todavia, ou precisamente por isto, a polarização de consciência (ciência) e autoconsciência (arte) é um fato real, que caracteriza com exatidão a diferença entre as duas espécies de reflexo. O nosso modo de ver não é contraditado, antes é confirmado, pelo fato de que esta polarização atingiu a sua forma pura apenas através de um longo desenvolvimento histórico, que em épocas passadas tanto a ciência como a arte surgiam misturadas, em formas variadas, com outros modos de considerar a realidade (magia, religião) que posteriormente foram rechaçados por estes campos. De fato, tanto a ciência quanto a arte podiam conquistar a sua forma adequada tão somente lutando pela sua pureza, pelo seu modo específico de refletir a realidade. O materialismo dialético deve se ocupar essencialmente destas formas adequadas surgidas historicamente; as condições históricas através das quais esta polarização se desenvolveu, ao contrário, são objeto do materialismo histórico.
Disto deriva que as mais numerosas inter-relações, sobreposições, etc., constatáveis na objetivação concreta das duas espécies de reflexo, as mais numerosas transições e ações recíprocas reencontráveis na gênese e na eficácia de seus produtos, não podem esconder a fundamental oposição dos polos. Aquelas derivam da comum realidade refletida, esta da diversidade — paulatinamente aperfeiçoada — das suas formas estruturais. Mas se se pretende, no reflexo estético, ir além das mais banais generalidades (e, com frequência, das mais unilaterais e falaciosas generalidades), deve-se colocar o acento — levando-se certamente na devida conta esta base comum — sobre a diversidade, sobre a oposição. Foi o que buscamos fazer, definindo a função da categoria da particularidade. A polarização das funções da ciência e da arte na vida e no desenvolvimento da humanidade, a polarização da consciência e da autoconsciência, não é mais do que uma dedução, um resumo de todas as determinações específicas que se podem extrair — com o auxílio de nossa teoria sobre a categoria da particularidade no reflexo estético — do exame atento dos fenômenos artísticos.
Notas de rodapé:
(1) “... desta forma, o conteúdo não é mais do que o converter-se da forma em conteúdo, e a forma nada mais é do que o converter-se do conteúdo em forma”. (Hegel, Enzyklopädie, cit. § 133). (retornar ao texto)
(2) Lenin, philsosophischer Nachlass (Cadernos filosóficos), op. cit., pág. 61. (retornar ao texto)
(3) Kant, Kritik der Urteilskraft (Crítica do Juízo), § 47. (retornar ao texto)
(4) Marx, Theorien über den Mehrwert (Teorias sobre a mais-valia), Stuttgart, 1919, t. I, pág. 382. (retornar ao texto)
(5) Que em tais conflitos não estejam em questão relações fatalistas, foi o que tentei demonstrar concretamente analisando o Doktor Faustus de Thomas Mann (ed. brasileira, in Ensaios sobre Literatura, Edit. Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 1965, págs. 178-235), o Abschied de Becher (in Schicksalwende [Reviravoltas do Destino], Aufbau-Verlag, Berlim), etc. Mas este reconhecimento não aproxima a técnica artística da científica, antes acentua a oposição. (retornar ao texto)
(6) Maurice Nadeau, Histoire du surréalisme, Paris, 1945, págs. 176 e 195. (retornar ao texto)
(7) D. H. Lawrence, Stories, Essays and Poems, Londres, s/d, págs. 333-334. (retornar ao texto)
(8) Spinoza, Ethik (Ética), parte IV, tese 7. (retornar ao texto)
(9) Engels a Margaret Harkness, in coletânea Lifschitz, Op. cit, pág. 106. Em sentido análogo, Marx sobre Eugênio Sue, Werke (Obras) III, op. cit., pág. 348. Indicações no sentido desta concepção se encontram nos democratas revolucionários russos; cf. o meu ensaio a respeito in Russicher Realismus in der Weltliteratur (O Realismo Russo na Literatura Mundial), Aufbau Verlag, Berlim. Tratei do mesmo problema em meus estudos sobre Balzac, Gógol, Tolstói, Dostoiévski, Kleist, etc. (retornar ao texto)
(10) Kant, Kritik der Urteilskraft, § 46. (retornar ao texto)
(11) Hegel, Werke (Obras), op. cit., t. XV, pág. 645.(retornar ao texto)
(12) Hegel, Werke cit., t. X, 1, págs. 379-380. (retornar ao texto)
(13) Certas designações antigas, como troubadour, trouvère, Novelle, etc., indicam que esta práxis era frequentemente acompanhada de uma clara consciência de seus princípios. (retornar ao texto)
(14) Lenin, Werke (Obras), Viena-Berlim, 1927, t. XIII, pág. 350. O fato de que em nossos dias o idealismo filosófico deturpe também o método das ciências naturais complica a questão, mas não modifica substancialmente a sua essência gnosiológica. A refutação ou a defesa filosófica do idealismo físico pertence ainda à supraestrutura, mas a ela não pertence o fato de que esta ou aquela teoria específica da física seja justa ou falsa. (retornar ao texto)
(15) Idem, Ibidem, págs. 350-351. (retornar ao texto)
(16) Hegel, Werke, op. cit., t. X, 1, pág. 132. (retornar ao texto)
(17) Lenin, Der ökonomische Inhalt des Narodnikitums (O conteúdo econômico do populismo), in Werke, op. cit., vol. I. (retornar ao texto)
(18) Marx, Das Kapital (O Capital), Op. cit, t. III, II, pág. 352. (retornar ao texto)
(19) Lenin, philsosophischer Nachlass, op. cit., pág. 51. (retornar ao texto)
(20) Hegel, Enzyklopädie, § 133, adenda. (retornar ao texto)
(21) Lenin, philosophischer Nachlass, op. cit., pág. 44. (retornar ao texto)
(22) Ibidem, pág. 47. (retornar ao texto)
(23) Hegel, Werke, op. cit., t. X, 1, pág. 132. (retornar ao texto)
(24) Ibidem, pág. 144. (retornar ao texto)
(25) Ibidem. (retornar ao texto)
(26) Bielinski, Gesammelte Werke (Obras Completas), Moscou, 1948, t. II, pág. 67 (em russo). (retornar ao texto)
(27) Ibidem. (retornar ao texto)
(28) Citado do segundo ensaio de Bielinski sobre a poesia popular russa, in Ausgenwählte Werke (Obras Escolhidas), Moscou, 1936, t. II, pág. 683 (em russo). (retornar ao texto)
(29) Tchernichévski, Ausgewählte philosophische Schnfften (Escritos filosóficos escolhidos), Moscou, 1953, pág. 482. (retornar ao texto)
(30) Lenin, A doença infantil do “esquerdismo” no comunismo, ed. brasileira, Editorial Vitória, Rio de Janeiro, 1960, págs. 96-97. (retornar ao texto)
(31) Paul Lafargue, Reminiscências de Marx, in Conceito Marxista do Homem, ed. brasileira, Zahar Editores, Rio de Janeiro, 1962, pág. 204. (retornar ao texto)
(32) Sobre as chamadas revoluções na forma, cf. o meu ensaio sobre o expressionismo, bem como os ensaios Es geht um den Realismus (Trata-se do Realismo) e Briefweschel mit Anna Seghers (Correspondência com A. S.) em meu livro Probleme des Realismus (Problemas do Realismo), Aufbau Verlag, Berlim. Sobre o problema de como e após quais modificações possam estas novas formas tornar-se portadoras de um conteúdo realmente novo, veja-se o ensaio Die Tragodie der modernen Kunst (Thomas Mann e a tragédia da arte moderna) in Ensaios sobre Literatura, op. cit. (retornar ao texto)
(33) Stalin, Sobre o materialismo dialético e o materialismo histórico, in Sobre os Fundamentos do Leninismo, ed. brasileira, Editorial Calvino, Rio de Janeiro, 1945, pág. 264. (retornar ao texto)
(34) George Thomson, Aeschylus and Athens, Londres, 1946, pág. 315. (retornar ao texto)
(35) Engels, A origem da família, da propriedade privada e do Estado. São Paulo. Expressão Popular, 2012, pág. 215. (retornar ao texto)
(36) Engels, Dialektik der Natur (Dialética da Natureza), op. cit., pág. 661. (retornar ao texto)
(37) Aristóteles, Metafísica, IV, B, 10 056. (retornar ao texto)
(38) Eckermann, Gespräche mit Goethe (Conversações com G.), 18 de abril de 1827. (retornar ao texto)
(39) Dos livros dos personagens citados, apenas o de Aleksandr Herzen não possui tradução em língua portuguesa. Especialmente O Oblomov de Gontcharóv recebeu edição privilegiada no Brasil em 2012, com tradução primorosa de Rubéns Figueiredo na publicação da extinta Cosac & Naify. N. dos E. (retornar ao texto)
(40) Uma valorização exata deste problema em Tchernichévski foi tentada por mim em meu ensaio sobre os seus escritos estéticos, incluído em Beiträge zur Geschichte der Aesthetik (Contribuições à História da Estética), Aufbau Verlag, Berlim. (retornar ao texto)
(41) Tchernichévski, op. cit., págs. 482-483. (retornar ao texto)
(42) Kant, Kritik der Urteilskraft, § 2. (retornar ao texto)
(43) Feuerbach, Werke (Obras), Op. cit, t. VIII, pág. 223. (retornar ao texto)
(44) Lenin, philsophische Nachlass, op. cit., pág. 316. (retornar ao texto)
(45) Cf. o duplo modo no qual Marx coloca a questão da estética, que examinaremos em seguida, in Grundrisse, op. cit., pág. 31. (retornar ao texto)
(46) Balzac, prefácio de A Comédia Humana. (retornar ao texto)
(47) Marx diz: “Observaremos em geral, à medida que nossa exposição avançar, que as máscaras econômicas características das pessoas são apenas as personificações daquelas relações econômicas, como depositárias das quais se encontram uma em face da outra.” (Das Kapital, op. cit., t. I, pág. 91). (retornar ao texto)
(48) Ibidem, págs. 337-338. (retornar ao texto)
(49) As nossas considerações sobre o atraso da estética em comparação com a práxis artística mostraram que, durante muito tempo, prevaleceram exigências que deformavam a essência específica da representação artística. (retornar ao texto)
(50) Gorki tem o grande mérito de ter mencionado esta criação espontânea de tipos no folclore: Gorkij über Literatur (Gorki sobre Literatura), Moscou, 1937, pág. 450 (em russo). (retornar ao texto)
(51) Lenin, A doença infantil do “esquerdismo”, op. cit., pág. 108. (retornar ao texto)
(52) Tchernichévski, Op. cit, pág. 529. (retornar ao texto)
(53) Gostaria de me referir brevemente ao fato de que a questão do esquematismo na arte do realismo socialista deriva também deste mal-entendido. Os artistas esquemáticos recebem - na maioria dos casos, da propaganda do partido - um conteúdo já elaborado de forma científico- propagandística e buscam torná-lo artístico. Na medida em que os artistas e os críticos buscarem apenas no nível formal - por exemplo, os críticos literários na forma linguística - os princípios da realização artística, torna-se impossível chegar ao nervo do problema, à dificuldade real, que é a substância não artística do conteúdo. (retornar ao texto)
(54) Marx, Kapital, op. cit., t. I, pág. 109. (retornar ao texto)
(55) Estudei particularizadamente esta questão em diversos ensaios; indico, sobretudo, a minha análise do Oblomov de Gontcharov, em Essays über Realismus (Ensaios sobre o Realismo), Aufbau Verlag, Berlim. Sobre este modo de caracterização em Gorki, escrevi: “Assim, o tédio adquire em Gorki um caráter dramático, a solidão se torna diálogo, um homem medíocre surge como um caráter poético” (Der Russischer Realismus in der Weltliteratur, quarta edição, Berlim, pág. 339). Cf. também os ensaios sobre Balzac, Tolstói, etc. As opiniões aqui expressas foram inteiramente confirmadas por Malenkhov, no XIX Congresso do Partido Comunista da União Soviética. Diz ele: “O típico corresponde à essência do fenômeno histórico-social, mas não se confunde com o cotidiano. A ampliação voluntária das figuras, a acentuação das suas qualidades, não exclui o típico: ao contrário, ela o revela e o sublinha de um modo mais completo”. (retornar ao texto)
(56) Goethe, Sprüche in Prosa (Considerações em Prosa), Maximen und Reflexionen (Máximas e Reflexões), seção 1. (retornar ao texto)
(57) Christopher Caudwell, Illusion and Reality, Londres, 1946, págs. 198-201. Minhas opiniões estão resumidas brevemente no ensaio Politische Parteilichkeit und dichterische Volledung (Participação política e perfeição poética), in Sammlung dem Dichter des Friendens J. R. Becher, Aufbau Verlag, Berlim, 1951. Presentemente incluído na nova edição do Schicksalwende, Berlim, 1956. (retornar ao texto)
(58) Goethe, op. cit. (retornar ao texto)
(59) Responsável, entre outros, por esta limitação da concepção de Marx é também um teórico como Plekhanov, quando considera como elemento de ligação entre a base econômica e a ideologia “a psicologia do homem social” condicionada pela primeira, e considera a ideologia - e, portanto, também a arte - como reflexo “das propriedades desta psicologia” (Plekhanov, Questões Fundamentais do Marxismo, ed. brasileira, Editorial Vitória, Rio de Janeiro, 1956, pág. 119). (retornar ao texto)
(60) Marx, Grundrisse, op. cit., pág. 31. (retornar ao texto)
(61) Ibidem. (retornar ao texto)
(62) Esta situação foi reconhecida pela primeira vez, em grande estilo, na Fenomenologia do Espírito, de Hegel, e figurada no Fausto de Goethe. Cf., a respeito, o capítulo a isto relativo do meu Der junge Hegel (O Jovem Hegel) e os estudos sobre o Fausto in Goethe und seine Zeit (Goethe e sua época), ambos editados pela Aufbau, Berlim. (retornar ao texto)
(63) Hegel, Werke, op. cit., t. X, 1, pág. 297 e segs. (retornar ao texto)
(64) Marx, Grundrisse, op. cit., pág. 14. (retornar ao texto)
(65) Ibidem, pág. 13. (retornar ao texto)
(66) A expressão ser-para-si é usada aqui no sentido em que Marx a utiliza, in Elend der Philosophie (Miséria da Filosofia), Stuttgart, 1919, pág. 162. (retornar ao texto)