
MIA > Biblioteca > Georg Lukács > Novidades
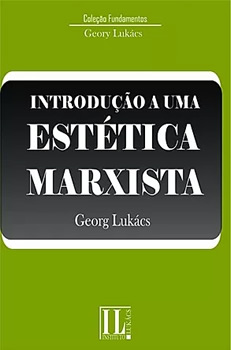
As relações entre universalidade, particularidade e singularidade constituem, naturalmente, um antiquíssimo problema do pensamento humano. Se não distinguirmos, pelo menos em certa medida, essas categorias, se não as delimitarmos reciprocamente e não adquirirmos certo conhecimento da mútua superação de uma na outra, ser-nos-á impossível orientarmo-nos na realidade, ser-nos-á impossível uma práxis, mesmo no sentido mais cotidiano da palavra. E óbvio, pois, que, mal o pensamento dialético intervém (ainda quando numa forma espontânea), e particularmente quando ele luta para alcançar a consciência, tais problemas não podem deixar de surgir. Lenin já o notara em Aristóteles. Ele cita uma passagem da qual se infere claramente que Aristóteles havia observado o perigo ideológico de uma autonomização do universal: “Porque, naturalmente, não se pode ser da opinião segundo a qual existiria uma casa (uma casa em geral) fora das casas visíveis”.(1) O comentário de Lenin, que aqui se limita à relação dialética entre o universal e o singular, mas pode se estender também ao particular, vai, sem dúvida, muito além de Aristóteles.
Por conseguinte, os opostos (o singular se opõe ao universal) são idênticos: o singular só existe na ligação que conduz ao universal. O universal só existe no singular, através do singular. Todas as coisas singulares são (de um ou de outro modo) universais. Cada coisa universal é uma parte, ou um lado, ou a essência do singular. Qualquer universal abarca apenas aproximativamente todos os objetos singulares. Qualquer elemento singular só entra incompletamente no universal. E assim por diante. Todo singular se liga por milhares de transições às singularidades pertencentes a outro gênero (coisas, fenômenos, processos). E assim por diante. Já aqui, existem elementos, embriões do conceito da necessidade, da ligação objetiva da natureza, etc. O contingente e o necessário, a aparência e a essência já estão aqui presentes. Quando dizemos: João é um homem, Totó é um cachorro, isso é uma folha de árvore, etc., deixamos de lado uma série de indícios que consideramos contingentes, separamos o essencial do aparente, contrapondo um ao outro.
O perigo da autonomização do universal, percebido por Aristóteles, e que, antes, assumira forma clara na filosofia de Platão, aprofunda-se na filosofia medieval com o realismo conceitual. Uma importante componente deste perigo, para o problema de que tratamos, é a não apreensão da singularidade, da particularidade e da universalidade como determinações da realidade, inclusive nas relações dialéticas recíprocas de umas com as outras, e, ao contrário, que uma só dessas categorias passe a ser considerada como mais real em confronto com as outras, e até como a única real, a única objetiva, ao passo que às outras se reconhece somente uma importância subjetiva. No realismo conceitual, é a universalidade que recebe semelhante acentuação gnosiológica. A oposição nominalista inverte as designações e faz da universalidade uma determinação puramente subjetiva, fictícia. Tal oposição ao realismo conceitual, espontaneamente materialista — e, decerto, em correspondência com as circunstâncias históricas, também de tipo teológico, — chega a uma subjetivização do universal, ao nominalismo. Marx descobre em Duns Scot um materialismo espontâneo, disfarçado sob véus teológicos, e o define como a “primeira expressão” do materialismo. Também nos inícios do materialismo na filosofia moderna predomina uma tendência nominalista desse tipo; exatamente a este propósito, Marx cita Hobbes.(2) O próprio momento sublinhado por Engels no desenvolvimento da filosofia moderna, segundo o qual o nascimento e os primeiros passos das ciências naturais estabeleceram, numa primeira fase, um predomínio do pensamento metafísico, este momento determina em decisiva medida a ausência, ou, no máximo, a presença esporádica da dialética da particularidade. É certo que algumas das figuras centrais da fundamentação filosófica das novas ciências matemático-geométrico-mecânicas eram também notáveis dialéticos, como Descartes e Spinoza. Este último, com sua definição segundo a qual omnis determinatio est negatio (“toda determinação é negação”), deu uma contribuição essencialíssima — como veremos depois — para uma compreensão exata da particularidade. No entanto, a questão de que tratamos só começou a se colocar no centro do interesse filosófico quando o interesse científico não mais se limitou à física (concebida substancialmente como mecânica) e se estendeu à química e, sobretudo, à biologia; ou seja, quando na biologia começaram a aparecer os problemas da evolução, quando a Revolução Francesa colocou em primeiro plano a luta pela ideia da evolução nas próprias ciências sociais e históricas.
Não há por que nos surpreendermos de que tal fato tenha ocorrido na filosofia clássica alemã. Foi a filosofia clássica alemã que, nessa grande crise de crescimento do pensamento, começou a colocar o problema da dialética e a buscar-lhe a solução. Em sua famosa exposição da grande discussão entre Cuvier e Geoffroy de Saint-Hilaire, Goethe acentua repetidamente que Saint-Hilaire se reportava às exigências da filosofia alemã da natureza para aperfeiçoar seu método evolucionista, ao passo que Cuvier lhe reprovava essa vinculação espiritual com o misticismo alemão.
A primeira obra na qual o problema da particularidade — tipicamente moderno na sua formulação consciente, porém antiquíssimo em si mesmo — ocupa um lugar central é a Crítica do Juízo de Kant. O fato de que reconheçamos a Kant esta função de iniciador não implica, como logo veremos, a menor concessão à interpretação burguesa de Kant no último século. A nosso ver, a filosofia de Kant (e, nela, a Crítica do Juízo) não representa nem uma grandiosa e fundamental síntese à base da qual deve ser construído o pensamento posterior, nem a descoberta de um novo continente, “uma revolução copernicana” na história da filosofia. Ela é — e, naturalmente, isso não é pouco — um momento importante na aguda crise filosófica desencadeada no século XVIII. Lenin apontou as oscilações de Kant entre o materialismo e o idealismo. Do mesmo modo, podem ser observadas nele, conforme veremos em breve, oscilações entre o pensamento metafísico e o dialético. Todos sabem, por exemplo, que a dialética transcendental na Crítica da Razão Pura coloca a contradição como problema central da filosofia. É certo que o faz apenas como problema que determina tão somente os limites intransponíveis do “nosso” pensamento e como um problema do qual — excetuada esta colocação dos limites — não podem ser extraídas consequências de qualquer espécie para o método do conhecimento, para o método das ciências. E onde Kant atribui à razão uma importância decisiva, na ética, a contraditoriedade desaparece completamente; e ele só reconhece a oposição rígida, antinômica, entre o comando da razão e as sensações humanas, entre o eu inteligível e o eu empírico. Por isso, na sua ética, estabelece-se uma sujeição exclusiva e incondicionada ao dever ser; e nela não há lugar para uma dialética aos conflitos éticos. Deste modo, Kant veio a se tornar — contra a sua própria vontade e sem ter consciência disso — a primeira figura importante e influente na criação do método dialético no idealismo da filosofia clássica alemã. Sua filosofia é mais um sintoma da crise do que uma tentativa realmente séria para dar-lhe solução. E neste ponto, a própria Crítica do Juízo não constitui uma exceção. Contudo, não é por acaso que nesta obra sejam colocadas aquelas questões que uma nova ciência, recém-surgida, a biologia, havia apresentado à filosofia, questões que obrigavam a despedaçar a moldura do pensamento coerentemente mecanicista das correntes dominantes da época.
Também no que se refere a este ponto, devemos começar, desde logo, com uma delimitação. O nascimento da biologia como ciência está ligado à luta pela evolução. É certo, sem dúvida, que, na época da redação da Crítica do Juízo, a tendência mecanicamente classificatória tipo Lineu ainda predominava, mas já começara a luta, com a descoberta (para falar só da Alemanha) do osso intermaxilar no homem, feita por Goethe. Em tal quadro, Kant assume posição resoluta contra a nova corrente:
É humanamente absurdo ter tal ideia ou esperar que um dia surja algum Newton capaz de tornar compreensível a simples produção de um ramo de uma planta segundo leis naturais não ordenadas conforme um fim.(3)
Para qualquer conhecedor de Kant, o nome de Newton, usado aqui simbolicamente, é duplamente significativo. Por um lado, como expressão do método realmente científico em geral (cf. a abordagem da física na Crítica da Razão Pura); por outro, porque a rejeição da possibilidade de uma teoria científica das origens e da evolução implica, em Kant, também a rejeição do método científico de novo tipo que estava para superar o do século XVII-XVIII. É certo que o simples fato, o simples fenômeno da vida obriga-o a ir além da metodologia da Crítica da Razão Pura. Os novos problemas colocados c as tentativas de solução, entretanto, não se acham — como ocorria já naquele tempo em Goethe, ou, poucos anos depois, em Schelling — a serviço da teoria da evolução que então estava em formação, mas tendiam, simplesmente, a criar uma fundamentação gnosiológica para a classificação estática, biológica.
Contudo, o simples fato de que o campo da biologia venha subordinado a uma indagação lógica, metodológica e gnosiológica, engendra novos problemas que não podem ser resolvidos com a aparelhagem conceitual que a Crítica da Razão Pura submete à crítica e procura ulteriormente desenvolver. Ainda que, com Kant, se queira ver aqui somente questões de classificação, torna-se necessário reformular metodológica e gnosiologicamente categorias tais como espécie, gênero, etc. Kant enxergou de modo relativamente claro as tarefas que lhe eram propostas (dentro dos limites que lhe impunham, bem entendido, o idealismo subjetivo e o antievolucionismo). Pela importância deste complexo de problemas, cumpre-nos reproduzir pormenorizadamente a passagem em que Kant formula a questão:
A forma lógica de um sistema consiste apenas na subdivisão de conceitos universais dados (como é o caso, aqui, daquele de uma natureza em geral), pensando o particular (aqui, o que é empírico), com a sua variedade, contido sob o universal, segundo um determinado princípio. Ora, se procedemos empiricamente e se nos elevamos do particular ao universal, é necessária uma classificação do múltiplo, isto é, uma comparação de diversas classes entre elas, cada uma das quais se submetendo a um determinado conceito; e, quando elas se completam, segundo a notação comum, a subsunção delas sob classes superiores (gêneros), até atingir o conceito que contém em si o princípio de toda a classificação (e constitui o gênero supremo). Se, ao contrário, começamos pelo conceito universal para depois descer ao particular, através de uma completa subdivisão, tal procedimento se deverá designar por especificação do múltiplo sob um conceito dado, pois se procede do gênero superior aos inferiores (subgêneros ou espécies) e da espécie às subespécies. Isso se exprime de modo mais justo se, ao invés de dizermos (como na linguagem comum) que se deve especificar o particular que se acha sob um universal, dizemos que se especifica o conceito universal e se submete a ele o múltiplo. De fato, o gênero (considerado do ponto de vista lógico) é, por assim dizer, a matéria ou o substrato bruto que a natureza elabora com sucessivas determinações nas espécies e subespécies particulares; pode-se dizer, assim, que a natureza se especifica a si mesma segundo um determinado princípio (ou a ideia de um sistema), por analogia com o uso assumido por esta palavra nos juristas quando falam da especificação de certas matérias brutas.(4)
Esta longa citação diz bem claramente como o problema se colocava em Kant. Em primeiro lugar, vemos que nele – como também na práxis geral do pensamento iluminista – o pensamento se identifica espontânea e acriticamente com o pensamento metafísico. Deste fato já decorre, em segundo lugar, que a evolução é para Kant conceitualmente incompreensível (não existente). Para ele, existe apenas ou uma classificação ou uma especificação, segundo o pensamento se eleve do particular ao universal ou se desenvolva do universal ao particular. O que equivale a dizer que a indução e a dedução, que até então se tinham frequentemente apresentado como escolas filosóficas postas uma ao lado da outra, e às vezes nitidamente divididas (pense-se em Bacon, de um lado, e Spinoza do outro), apresentam-se aqui como métodos coordenados. É certo que também em Kant são operações mentais rigidamente separadas uma da outra. Em terceiro lugar, faz-se sentir aqui, igualmente, a oscilação de Kant entre materialismo e idealismo, apontada por Lenin. Tal ambiguidade é claramente visível em formulações como “a natureza se especifica a si mesma”. Mal concretiza o problema e procura caminhos concretos para resolvê-lo, já Kant se refugia no idealismo subjetivo. Neste ponto, devemos observar — antecipando argumentos que virão em seguida — que semelhante fuga, após a identificação da faculdade humana de pensar em geral com o pensamento metafísico, assume necessariamente a roupagem de uma intuição infiltrada de irracionalismo. Na Crítica do Juízo, Kant diz: “O nosso intelecto é uma faculdade de conceitos, quer dizer, um intelecto discursivo”.(5) Teremos oportunidade de voltar mais detidamente a este problema.
É claro que tanto a classificação como a especificação colocam o problema das relações recíprocas entre universalidade e particularidade. Para poder encontrar, em geral, uma resposta de algum modo coerente às questões decorrentes de tais relações, Kant precisa ir além daquela relação entre pensamento e ser que estabeleceu na Crítica da Razão Pura, na qual qualquer forma completa e realizada, qualquer princípio formador, coloca-se exclusivamente do lado do sujeito, ao passo que o conteúdo deriva daquela “afecção” que a coisa em si exerce através das sensações físicas sobre o sujeito. Já que, entretanto, todas as categorias, todas as formas, são produzidas pela subjetividade criadora transcendental, Kant precisa, coerentemente, negar o conteúdo, ao mundo das coisas em si. Qualquer caráter completo de forma, precisa concebê-lo como um caos que, em princípio, não possui ordem e só pode ser ordenado com as categorias do sujeito transcendental. (O próprio Kant jamais deduziu esta consequência com coerência radical; ela veio a constituir, mais tarde, a base da filosofia schopenhaueriana.) A classificação e a especificação obrigam Kant a ir além dessa concepção; ele o faz, certamente, sem perceber que está sendo infiel aos princípios da sua principal obra teórica. De fato, o programa gnosiológico já citado, no que concerne a este campo, é inconciliável com a precedente contraposição entre formatividade puramente subjetiva e caos do conteúdo.
A oscilação de Kant entre materialismo e idealismo se apresenta aqui, conforme vemos, em um grau superior, mais concretizada. Não se trata mais daquela abstrata existência em geral — inacessível por princípio ao pensamento — das coisas em si, das coisas independentemente da consciência; semelhante independência recebe uma forma mais concreta: a natureza, o mundo objetivo exterior deve especificar-se a si mesmo, para que o pensamento que especifica possa compreender gnosiologicamente a descida do universal ao particular. Neste ponto, um idealista objetivo consequente (para não falar de um materialista) deveria ir energicamente além da concepção da realidade própria da Crítica da Razão Pura; deveria buscar as raízes, os fundamentos da especificação — e, naturalmente, também da classificação — na própria realidade objetiva; os princípios de especificação e classificação elaborados por tal caminho deveriam ser propriedades objetivas, características dos objetos em si mesmos, da concatenação e desenvolvimento deles. É claro que para Kant uma coerência assim não era absolutamente possível. Como idealista subjetivo, ele pode apenas postular uma faculdade subjetiva cognoscitiva; é obrigado a reproduzir em um nível mais elevado a contradição fundamental da Crítica da Razão Pura, ao desejar alcançar alguma solução (ainda que aparente) sem demolir de todo o seu sistema. Daí Kant afirmar programaticamente:
Por isso, é um pressuposto transcendental subjetivamente necessário que à natureza não convenha aquela inquietante e ilimitada desuniformidade das leis empíricas e aquela heterogeneidade das formas naturais, mas antes que ela se qualifique a si mesma — através da afinidade das leis particulares sob leis mais gerais — como experiência, como sistema empírico.(6)
Esta oscilação entre materialismo e idealismo — que em Kant termina sempre com a vitória do segundo — não é a única dificuldade para a construção da nova teoria do conhecimento. Em última análise, a concepção não é só idealista subjetiva, mas, como já vimos, também é metafísica; porém esta própria estrutura conceitual metafísica nasce como resultado de um processo, devido à oscilação entre metafísica e dialética. Na sua tentativa precedente de salvar a validade objetiva das leis naturais, da matemática e da física — que nele é essencialmente mecanicista — do “escândalo da filosofia e da razão humana universal”, das consequências extremas do solipsismo de um Berkeley ou de um Hume, ele fora obrigado a recorrer aos a priori da sensibilidade (espaço e tempo) e do intelecto, que eram destinados a garantir a objetividade da estrutura formal do mundo exterior. Mesmo prescindindo dos limites ideológicos gerais dessa concepção, a estrutura do mundo exterior e das leis é toda ela modelada à base da metodologia da matemática e da física (mecânica). Mas como pode ser compreendido o fenômeno da vida com essa aparelhagem conceitual? Ainda aqui, pelos menos em parte, Kant viu claramente a dificuldade e expressou-a:
Na sua legislação transcendental da natureza, o intelecto abstrai, porém, qualquer multiplicidade de possíveis leis empíricas; e só leva em consideração as condições da possibilidade de uma experiência em geral segundo a forma delas. Nele, pois, não se encontra o princípio da afinidade das leis particulares da natureza.(7)
O juízo recebe no sistema kantiano das “faculdades da alma” a tarefa de lançar uma ponte sobre este abismo, de ser “o portador de leis particulares, mesmo segundo aquilo que elas têm de diverso entre as mesmas leis universais da natureza, sob leis superiores, conquanto ainda empíricas...”. A sua função em Kant, no entanto, muda conforme se vá do particular ao universal (classificação) ou vice-versa (especificação). A separação rigidamente metafísica entre o caminho de baixo para cima e o caminho de cima para baixo tem como consequência que, neste ponto, para compreender as relações do universal com o particular, seja necessário recorrer a dois diferentes órgãos cognoscitivos ou “faculdades da alma”. Na Primeira Introdução à Crítica do Juízo, Kant nos dá um quadro preciso de como concebe essa divisão do trabalho entre as “faculdades da alma”. Intelecto: “a faculdade de conhecer o universal (as regras)”; juízo: “a faculdade de subordinar (subsumir) o particular ao universal”; razão: “a faculdade de determinar o particular através do universal (dedução de princípios)”.(8) A atribuição desta última tarefa à razão significa, na esfera do pensamento kantiano, um agnosticismo. De fato, sabemos que — com a aceitação da práxis, da ação humana, ou melhor, da intenção de uma tal ação — Kant não reconhece às faculdades da “nossa” alma nenhuma possibilidade de um conhecimento racional concreto e referido à realidade: o “nosso” uso da razão pode apenas consistir no estabelecimento de limites para o intelecto. Esse ponto de vista é mantido na Crítica do Juízo. Mas a substância da matéria tratada tem como consequência que esse ponto de vista só pode ser aplicado ao preço de uma extrema incoerência. De fato, na teoria mecanicista do conhecimento, o agnosticismo é apenas um problema limite. Os resultados particulares da física não são afetados pelo afastamento do horizonte gnosiológico. É possível aos cientistas, como disse Lenin, serem materialistas em suas pesquisas particulares e preocuparem-se com o agnosticismo apenas quando se põem a filosofar. Aqui, porém, o problema gnosiológico, apesar de todos os limites das concepções de Kant a respeito da evolução, surge em última análise da concreta problemática da biologia (organismo, vida, espécie, gênero, etc.). A completa recusa de qualquer cognoscibilidade desses fenômenos seria mais do que um agnosticismo gnosiológico: seria o reconhecimento da falência da ciência.
Por isso, a Crítica do Juízo é um compromisso em face da Primeira Introdução. Em antítese à supracitada separação radical dos dois caminhos, em contraste com a atribuição deles a diferentes “faculdades da alma”, a tarefa do conhecimento, em ambos os casos, passa a ser atribuída ao juízo. É certo que, conforme veremos em breve, de modo bastante diverso, o juízo é determinante na passagem do universal ao particular; e é apenas reflexivo se o universal é buscado a partir do particular. Essa contradição não equivale simplesmente à afirmação, que pode ser encontrada em muitos livros de lógica, segundo a qual a indução proporciona resultados menos seguros do que a dedução. Nesta problemática de Kant, trata-se da problemática geral, da crise do pensamento metafísico em geral (não importa se ele não tinha consciência disso), e essa crise no segundo caso vem aprofundada qualitativamente. Uma problemática profunda também está presente, sem dúvida, no primeiro caso. Mas neste pode parecer a Kant que, com a dedução transcendental das categorias, as leis universais que o intelecto (segundo a concepção de Kant) prescreveria à natureza tenham recebido um fundamento lógico suficiente. Contudo, em qualquer aplicação concreta, quer dizer, em toda pesquisa e determinação de qualquer particularidade concreta (seja ela a de um agrupamento ou de uma lei particular), a problemática aparece grávida de consequências. Kant diz:
Mas existem formas tão múltiplas na natureza e são igualmente tantas as modificações dos conceitos transcendentais gerais da natureza (deixados sem determinação pelas leis que fornecem a priori o intelecto puro, já que tais leis concernem apenas à possibilidade de uma natureza em geral, como objeto dos sentidos), que devem existir também leis que, enquanto leis empíricas, bem poderão ser contingentes, segundo o modo de ver do nosso intelecto, se bem que, para serem chamadas leis (como se requer para o próprio conceito de uma natureza), devam ser consideradas como necessárias segundo um princípio — que nos permanece desconhecido — da unidade da multiplicidade.(9)
É preciso assinalar como momentos decisivos dessa argumentação de Kant que, de um lado, todas as leis particulares (empíricas) são contingentes “segundo o modo de ver do nosso intelecto” e essa sua contingência para “nosso” pensamento permanece necessariamente insuperável; e, de outro, para que possam “ser chamadas leis”, há que ser colocado como fundamento delas um “princípio da unidade da multiplicidade” que “para nós” é desconhecido e incognoscível.
É evidente que lidamos, ainda aqui, com um agnosticismo qualitativamente diverso do da Crítica da Razão Pura. Lá se tratava de uma incognoscibilidade derivada do princípio das coisas em si, que não excluía um conhecimento continuamente crescente e aperfeiçoado dos fenômenos. O fato de que esse conhecimento se referisse apenas ao mundo dos fenômenos e não à realidade objetiva, como vimos, não tem inicialmente consequências para a práxis científica concreta. Dizemos “inicialmente”, mas a verdade é que, mal o desenvolvimento da física como ciência e sua aproximação mais exata à realidade objetiva dissolvem a homogeneidade mecanicista-metafísica (que ainda prevalecia na época de Kant) do mundo refletido na ciência, mal emergem, por conseguinte, fenômenos particulares, ou grupos de fenômenos e leis particulares, não mais subordináveis (subsumíveis) reciprocamente à maneira mecanicista e metafísica, e já o idealismo subjetivo dos agnósticos interfere de modo profundamente nocivo na própria práxis concreta e científica dos físicos. Lenin assinalou essa linha de desenvolvimento, assim que ela se manifestou, como um perigo para as ciências naturais; e empreendeu contra ela uma demolidora luta ideológica. Hoje, essa crise aparece em seu extremo aguçamento, quer no que concerne à teoria da relatividade, quer em face da teoria quântica.
Uma crise desse tipo existia desde o início na gnosiologia e na metodologia das ciências biológicas; poder-se-ia dizer até que o aparecimento da biologia como ciência se exprimiu na forma dessa crise. Vimos que, já em Kant, o agnosticismo idealista subjetivo não mais se refere apenas aos princípios mais abstratos de um conhecimento científico em geral e sim, direta e imediatamente, à própria práxis científica concreta: qualquer lei particular, em sua relação com a lei universal (segundo Kant, em sua subsunção), é desde o princípio problemática, pois tal relação de ser ao mesmo tempo puramente subjetiva, insuperavelmente hipotética e, no entanto, deve ser também objetivamente científica. A cognoscibilidade do mundo objetivo, independente da consciência, insere-se em toda e qualquer afirmação concreta, determinando o conteúdo científico e o método científico.
Essa contraditoriedade ainda aparece com maior profundidade quando se deve partir do particular para o universal, na esfera do juízo reflexivo. Kant diz: “esse princípio transcendental, o juízo reflexivo não pode deixar de dá-lo ele mesmo como lei, sem o derivar de outro (porque assim se tornaria juízo determinante); e nem pode prescrevê-lo à natureza...”(10). O subjetivismo e o agnosticismo, portanto, aparecem de modo ainda mais pronunciado: o agnosticismo domina todo o campo da ciência, todos os seus problemas concretos, as suas relações. E o inteiro método se enrijece num aberto subjetivismo.
Todas essas contradições insuperáveis decorrem, em última análise, do idealismo filosófico. Desde o momento em que existe uma biologia como ciência, a filosofia burguesa tem diante de si um dilema insolúvel: ou tenta resolver os problemas biológicos com os meios do pensamento metafísico (quer dizer, procura reduzi-los às leis da mecânica) e cai em contradição com os fatos específicos da vida, ou tenta compreender os novos fenômenos com uma aparelhagem conceitual que transcende a mecânica e cai necessariamente na categoria da finalidade e em todas as contradições desta categoria em sua formulação idealista. Kant procura, também, seguir este segundo caminho. Em seu favor, diga-se que, à diferença de seus contemporâneos e sucessores reacionários, ele não quer fazer com que a finalidade desemboque aberta e diretamente na teologia; e não pretende utilizar a finalidade como uma nova categoria para afastar as leis da causalidade, procurando, antes, colocá-la de acordo com o sistema geral daquelas leis. Por isso, ele define a finalidade como “uma conformidade à lei do contingente como tal”.(11)
Todavia, já que em Kant, não obstante os importantes aspectos dialéticos, predomina o pensamento metafísico, as dificuldades ainda se tornam mais insuperáveis. Na realidade, nele — como pensador metafísico — necessidade e contingência confrontam-se de maneira imediata e rígida. Para Kant, só é necessário aquilo que pode ser conhecido a priori; o resto escorrega inevitavelmente para a contingência. Assim, para ele, qualquer diferenciação, qualquer especificação da realidade — e, por conseguinte, tudo que é particular e singular — deve necessariamente aparecer como contingente. Ver a contingência tanto na especificação como na finalidade, buscar as categorias próprias da biologia sem abandonar ou minimizar as da natureza sem vida: em tudo isso, sem dúvida, há momentos progressistas, ainda que Kant esteja longe de ter formulado corretamente esses problemas e ainda mais longe de tê- los resolvido, como afirmam tantos historiadores burgueses da filosofia. Ele extraiu estes problemas da realidade, do desenvolvimento das ciências: e isto já é um mérito histórico, particularmente quando é certo que, pelo menos, pressentiu sua importância.
No que concerne à particularidade, já chamamos a atenção para a genialidade da definição de Spinoza. Quando Kant, na relação do particular com o universal, vê o momento da contingência, ele está, sem dúvida, parcialmente com razão, levando-se em conta a ruptura com a metafísica rigidamente mecanicista na passagem do particular ao universal e vice-versa, bem como a constatação de que aquilo que constitui a particularidade não é, em sua especificidade, passível de ser meramente deduzido do universal, e que de um particular não se pode obter simplesmente um universal. A proposição do problema da contingência nessa relação recíproca é, neste sentido, justificada. É certo que só o é para um pensamento realmente dialético, que, ao mesmo tempo, reconheça na contingência um elemento, um momento da necessidade. E desse reconhecimento não há traço algum em Kant. Neste ponto, contudo, é preciso distinguir claramente Kant dos “biologistas” reacionários, é preciso acentuar com ênfase particular que com a “conformidade à lei contingente” daquilo que é finalístico (o organismo), ele não pensa absolutamente em eliminar a necessidade causal e a conformidade à lei, e sim conservá-la no seio da objetividade (possível, no seu sistema) da causalidade concebida à maneira mecânica. Por não conhecer a dialética da necessidade e da contingência, podemos vê-lo, ainda aqui, às voltas com antinomias do tipo das da dialética transcendental na Crítica da Razão Pura: “Tese: toda produção de coisas materiais é possível segundo leis puramente mecânicas. Antítese: Alguns produtos da natureza não são possíveis segundo leis puramente mecânicas”.(12)
Os argumentos ulteriores de Kant indicam que essa antinomia se calcou no modelo formal da dialética transcendental e que ela, tal como o seu modelo, acarreta consequências agnósticas; porém, como já observamos, apresenta um caráter diverso do da Crítica da Razão Pura. Essa diferença se exprime sobretudo no fato de que aquele incognoscível que se apresenta como resultado da antinomia insuperável não é mais uma coisa em si completamente privada de conteúdo e de forma, e sim — embora como problema insolúvel — recebe uma clara fisionomia de conteúdo e forma. Assim Kant, ao expor as consequências da antinomia há pouco referida, formula a questão:
Se, no princípio interno (por nós ignorado) da natureza, podem se reunir em um princípio único a relação físico-mecânica e a relação finalística das coisas mesmas. Só que a nossa razão não é capaz de operar essa união....(13)
Aqui temos uma nova oscilação característica da filosofia kantiana: com uma mão ela nega qualquer cognoscibilidade objetiva à vida e com a outra fornece à pesquisa indicações relativamente concretas. (E certamente não é por acaso que a passagem citada esteja entre as que Goethe aprovou e sublinhou em seu exemplar da Crítica do Juízo.) A exigência de uma tal conformidade a leis dos organismos ainda tem mais peso na medida em que Kant tem a exata sensação de que qualquer modo fenomênico concreto e específico da vida, considerado do ponto de vista da pura e simples conformidade às leis mecânicas, deve ter um insuprimível caráter contingente: “que a natureza, considerada como simples mecanismo, teria podido configurar-se de mil outras maneiras...”.(14)
Esta exigência persiste em Kant, também, porque sua concepção metafísica e a-histórica do mundo (baseada em um idealismo subjetivo) torna impossível uma justa compreensão do finalismo na vida orgânica. Kant define o finalismo do seguinte modo: “uma coisa existe como fim da natureza quando é causa e efeito de si mesmo (embora em duplo sentido)...”. Daí resultaria, por um lado, que ela se produz a si mesma tanto como gênero quanto como indivíduo; e, por outro, que deve existir entre as partes uma conexão tal “que a conservação da parte e a conservação do todo dependam uma da outra”;(15) que “as partes (relativamente à existência e à forma delas) só sejam possíveis através de sua relação com o todo”. No entanto, ao invés de descobrir aqui uma nova forma superior dos nexos conforme a leis, ao invés de desenvolver dialeticamente daquilo que é mecânico a “força formativa” (por ele contraposta à “força unicamente motriz” da mecânica), ainda uma vez Kant se prende a uma contraposição rígida, tão metafísica quanto agnóstica: “Falando rigorosamente, a organização da natureza não tem, pois, analogia alguma com qualquer causalidade que conheçamos”.(16)
A tentativa gnosiológica de Kant de fundar uma metodologia científica da vida orgânica acaba, assim, no completo agnosticismo. Para dar ao menos a aparência de uma construção científica aos conceitos, ele é compelido a inventar uma “adequação” completamente mistificada da realidade objetiva à “nossa faculdade cognoscitiva”. Ainda aqui, decerto, encontramos alguns traços da oscilação de Kant entre materialismo e idealismo, já ressaltada por Lenin: recordemos que ele afirma que a natureza se especifica a si mesma. De fato, se o nexo entre o universal e o particular suposto aqui por Kant fosse determinado como propriedade da própria realidade objetiva, essa “afinidade” (como ocorre frequentemente em Hegel) seria apenas uma expressão idealisticamente invertida do fato de que o nosso conhecimento se adapta à realidade objetiva independentemente da nossa consciência, do fato de que o conhecimento aspira ininterruptamente a refletir tal realidade da maneira mais adequada possível. A expressão invertida não passaria, então, de uma das muitas ilusões da espontaneidade do sujeito que conhece de modo ingênuo e acrítico. Mas o idealismo subjetivo agnóstico de Kant não podia ir tão longe.
Esse enigmático “favor” oferecido pela natureza à nossa faculdade cognoscitiva só pode ser utilizado por Kant, em toda a sua pureza, para a fundação da sua estética. E, também aqui, apenas do seguinte modo: fazendo com que tudo o que é estético seja confinado à esfera subjetiva e qualquer conformidade a leis e a conceitualidade objetiva sejam, portanto, afastadas da estética. “O juízo estético é, pois, uma particular faculdade de julgar as coisas segundo uma regra, mas não segundo conceitos”.(17) Assim, em Kant, a estética se torna não só subjetivista como também formalista: o afastamento do conceito importa na dissolução do conteúdo. (Até que ponto Kant realiza ou deixa de realizar esse programa — e o deixar de realizá-lo conta em seu favor — não é questão para ser discutida aqui.) Em suma: a estética se transforma, dessa maneira, em um “parque reservado da natureza”, cuidadosamente isolado da esfera do conhecimento. Porém, uma tal separação nítida é para Kant metodologicamente impossível no que se refere ao conhecimento do que é orgânico. Por isso, tal conhecimento, em seu modo de consideração teleológico, não possui nenhuma “faculdade particular, mas é simplesmente o juízo reflexivo em geral”. É um conhecimento por conceitos, mas de tal natureza que não pode haver nenhum poder “objetivamente determinante”.(18) Deste modo, a objetividade científica para a biologia é simultaneamente requerida e negada.
Para essas antinomias mistificadoras só se pode oferecer uma saída de mistificação. Kant expõe uma gnosiologia na qual todos os problemas concretos, que são insolúveis para “nós”, devem não obstante ser solucionados. Os limites do conhecimento, aqui, não se situam, como na Crítica da Razão Pura, no horizonte do conhecimento concreto real (sem tocá-lo) e sim no meio dos conhecimentos concretos. Aqui, a ultrapassagem dos limites não é proibida, como na primeira crítica, e deve mesmo ser tentada: os limites devem ser superados, mas com a consciência filosófica de que se trata de conhecimentos — para “nós” — insuprimivelmente problemáticos. Essa posição ainda mais oscilante de Kant indica claramente que ele pelo menos intui e sente a crise filosófica do seu tempo. Por isso ele, tendo admitido uma problemática sem solução, propõe, em contraste com a primeira crítica, um salto no abismo do novo. Kant, porém, não vê que a sua problemática, o seu fracasso (mesmo prescindindo do limite idealista geral), anuncia a crise decisiva do pensamento metafísico e a sua derrocada em face da emergência de problemas manifestamente dialéticos.
Pode-se perceber de modo claro corno Kant estava envolvido no pensamento metafísico quando vemos que ele identifica o pensamento metafísico com qualquer pensamento (“nosso”) humanamente possível ou com qualquer pensamento conceitualmente racional (que ele chama de “pensamento discursivo”). De tal formulação equivocada e falsa só poderia resultar uma resposta equivocada e que falseia ainda mais o problema: o pensamento colocado além dos limites impostos ao “nosso” pensamento não é o pensamento dialético (em antítese ao metafísico) e sim um pensamento intuitivo (em antítese ao racional-conceitual, discursivo). Eis como Kant expõe a antítese com suas próprias palavras:
Nosso intelecto é uma faculdade de conceitos, isto é, um intelecto discursivo, no qual são contingentes a espécie e as diferenças do particular que lhe é dado pela natureza, e que pode ser reconduzido a seus conceitos. Já que, no entanto, ao conhecimento pertence também a intuição, e já que uma faculdade de intuição perfeitamente espontânea seria uma faculdade de conhecer distinta e de todo independente da sensibilidade (quer dizer, um intelecto, no sentido mais amplo da palavra), pode-se também conceber um intelecto intuitivo (negativamente, isto é, apenas como não discursivo), que não vá do geral ao particular e, pois, ao individual (mediante conceitos), e para o qual não exista aquela contingência no acordo com a natureza, nos seus produtos determinados segundo leis particulares, mediante o intelecto, contingência que torna tão difícil ao nosso intelecto reconduzir a variedade da natureza à unidade do conhecimento....(19)
Tal conhecimento intuitivo seria uma “universalidade sintética”, em antítese à universalidade “analítica” do intelecto discursivo. Para semelhante maneira de conhecer, o problema da contingência — por exemplo, na conexão do todo com as partes, na conexão do universal com o particular — não existiria absolutamente. Como se vê, a dialética interna dos problemas leva Kant até o ponto em que surgem as questões da dialética, porém nesse ponto ele faz marcha à ré e recorre à intuição, ao irracionalismo.
Decerto, também é evidente que Kant tem uma clara percepção dos perigos que derivam desta sua posição filosófica. Ele está bem longe de indicar, como um caminho que possa ser completamente trilhado, aquele que suas considerações apontam como saída metodológica e que conduz à intuição e ao irracionalismo. Chega mesmo a recusar energicamente ao “nosso conhecimento” essa capacidade de intuir por ele próprio postulada; e é claro que com isso fica subentendida a abdicação do “nosso” conhecimento em face de qualquer dialética. Ainda aqui, o conhecimento intuitivo emerge apenas como horizonte, como última perspectiva. Kant pretende unicamente ter demonstrado que a hipótese de um intelecto intuitivo (de um intellectus archetypus) não contém “contradição alguma”. Nessa tese cognoscitiva, ele enxerga um “mais adiante”, algo que para o “nosso” pensamento é por princípio impossível de ser alcançado.
Compreende-se que, bem no meio da crise de crescimento das ciências e da filosofia, essa tomada de posição mais do que oscilante de Kant devesse suscitar uma enorme impressão, uma grande excitação. Pode-se dizer que nessa repercussão as precauções gnosiológicas de Kant foram sumariamente postas de lado. Na Crítica do Juízo, viu-se um abrir das portas para um pensamento que era impetuosamente exigido pelo desenvolvimento das ciências naturais e pela visão do mundo que surgia à base delas: o pensamento dialético.
Aqui, todavia, cumpre distinguir dois caminhos, bastante diversos. Goethe, de cujo papel na situação ora focalizada falaremos em outro capítulo, saúda a Crítica do Juízo como a confirmação filosófica de seu modo espontaneamente dialético de considerar os fenômenos da natureza. A antítese entre o discursivo e o intuitivo em geral não lhe desperta interesse: como materialista espontâneo, não hesita em pôr de lado os escrúpulos de Kant.
Schelling, por sua vez, desenvolve decididamente o problema kantiano do pensamento discursivo e intuitivo. Em meu livro A Destruição da Razão,(20) mostrei que a dialética do jovem Schelling degenera necessariamente e de maneira cada vez mais pronunciada em um irracionalismo intuitivo. E, a este propósito, a impressão decisiva nele produzida pela Crítica do Juízo e, particularmente, pela contraposição entre pensamento discursivo e pensamento intuitivo, não teve certamente uma função desprezível, do ponto de vista ideológico. Aparentemente, Schelling, de modo análogo a Goethe, faz do postulado — irrealizável — de Kant uma realidade posta fora de discussão. Schelling, porém, assume a antítese kantiana do discursivo e do intuitivo e a identifica com a antítese entre pensamento metafísico e pensamento dialético. Assim, o “sincero pensamento juvenil” de Schelling (Marx) desemboca no cego círculo vicioso do irracionalismo, apesar da sua filosofia de juventude conter interessantes indicações para a elaboração de uma dialética do universal e do particular que vão além de Kant. Schelling, entretanto, precisava indicar um organon, uma garantia que servisse a esse pensamento verdadeiramente dialético para a colocação da intuição no mesmo plano da dialética, do autêntico conhecimento da realidade, a fim de ultrapassar o puro e simples postulado de Kant. Enquanto esse organon era a atitude estética, ainda era possível oscilar entre a dialética idealista objetiva e o irracionalismo. Depois da sua transferência para Wurzburg, em 1803, quando começou a ver esse organon na religião, optou pela queda completa no puro irracionalismo reacionário, tornado adialético.
Por isso, a superação de Kant por parte de Schelling apresenta duas faces. Nele encontramos reais indicações da solução dialética daquelas questões que em Kant, de certo modo, tinham sido impostas do exterior e que ele, por isso, devia subjetivizar e deixar abertas. Essa tendência se combina e se mistura no jovem Schelling com uma irracionalização mística dos problemas, que leva à crescente dissolução dos elementos de efetiva dialética. Aqui nos interessa apenas a primeira tendência; a outra já foi por nós discutida no livro há pouco referido (A Destruição da Razão). Schelling vai decisivamente além do conceito kantiano da vida orgânica, levado pelo processo lógico espontaneamente justo segundo o qual a unidade das leis naturais não pode ser eliminada pelo reconhecimento de um particular modo de formar-se daquilo que é orgânico. Na sua Alma do Mundo, Schelling — em relação ao pensamento de Kant, que já conhecemos, sobre a contingência do impulso formador daquilo que é orgânico — escreve:
No conceito de impulso formador está contido o fato de que a formação não ocorre apenas de modo cego, quer dizer, através de forças que são próprias da matéria como tal, e que ao necessário existente em tais forças se acrescenta o contingente de um influxo estranho que, na medida em que modifica a força formadora da matéria, ao mesmo tempo a constrange a produzir uma figura determinada.
Schelling também rejeita firmemente a suposição de uma particular “força vital”;(21) na explicação do fenômeno da vida, ele ignora semelhante força específica. A vida consiste — continua ele — “em um livre jogo de forças, que é continuamente mantido por algum influxo externo”. A vida, pois, não é um em-si particular: “é somente uma determinada forma do ser”.(22) E, coerentemente, conclui essas considerações com as seguintes palavras:
Portanto, as forças que estão em jogo durante a vida não são forças particulares, próprias da natureza orgânica; o que põe em jogo essas forças naturais cujo resultado é a vida deve, porém, ser um princípio particular, que a natureza orgânica de algum modo vai buscar na esfera das forças universais da natureza e transfere à esfera superior da vida, transformando aquilo que de outra maneira seria produto morto em forças formadoras.
Se atentarmos para o fato de que o livro acima citado apareceu em 1798 e se recordarmos o nível que as ciências naturais tinham alcançado naquele tempo (em particular a biologia), parece-nos fora de dúvida que Schelling, aqui, deu um grande passo adiante de Kant. E, na verdade, não só na tentativa de compreender dialeticamente a vida, como no desenvolvimento e na concretização ulterior do particular. O jovem Schelling teve inclusive certo pressentimento do papel do ambiente no nascimento e no fim da vida, da relação recíproca dialética entre o organismo e o ambiente. Exatamente por isso, tanto o contingente como o particular assumem nele um significado dialético que Kant não teria podido entender: as duas categorias começam a perder aquela rigidez e aquele caráter metafísico abstrato que tinham em Kant, tornam-se mais concretas, são inseridas em nexos dialéticos.
Tal tendência à dialética se exprime de modo ainda mais decisivo nas suas considerações posteriores. No Primeiro Esboço do Sistema da Filosofia da Natureza (1799), Schelling escreve, a propósito da vida e da morte:
A vida se afirma através da contradição da natureza, mas desapareceria se a natureza não a combatesse... Se o influxo exterior contrário à vida serve precisamente para manter a vida, o que por sua vez aparece como a coisa mais favorável para a vida, a absoluta insensibilidade a este influxo deve ser a razão de que a vida se finde. Tão paradoxal é o fenômeno da vida que o é até em sua cessação. O produto, enquanto orgânico, jamais pode naufragar na indiferença... A morte é o retorno à indiferença universal... Os elementos que se tinham subtraído ao organismo universal voltam novamente a ele e, já que a vida é só um estado mais intensificado de forças naturais comuns, o produto, mal cessa esse estado, cai sob o domínio daquelas forças. As mesmas forças que, num determinado período, mantiveram a vida a destroem, afinal, e deste modo a própria vida não é uma coisa qualquer, é apenas o fenômeno de uma passagem de certas forças daquele estado elevado ao estado habitual do universal.(23)
Naturalmente, já nesse período do desenvolvimento de Schelling, na própria época dessa argumentação relativamente avançada, revelam-se também as tendências problemáticas de toda a sua filosofia. Elas se concentram na sua firme manutenção do falso dilema kantiano do discursivo e do intuitivo, bem como no desenvolvimento irracionalista do intellectus archetypus como intuição intelectual. Isso pode ser percebido desde o início da carreira de Schelling. Em sua obra juvenil A Alma do Mundo, da qual citamos acima alguns pontos dialéticos na explicação do organismo, Schelling, na questão da contingência do desenvolvimento orgânico, tira conclusões que já indicam claramente uma orientação voltada para a teoria da liberdade mística:
De fato, a natureza não deve produzi-los (os organismos — G.L.) necessariamente; a natureza, onde nasce, deve ter agido de modo livre; só na medida em que a organização é produzida pela natureza em sua liberdade (por um livre jogo da natureza), ela pode suscitar ideias de finalismo; e só na medida em que suscita tais ideias é que ela é organização.(24)
Aqui já estão claramente visíveis os dois defeitos do jovem Schelling: a nítida contraposição adialética de necessidade e liberdade, como herança kantiana; a mistificação da liberdade, como consequência da filosofia da intuição.
A situação ainda se torna mais clara quando Schelling procura concretizar a relação de universalidade e particularidade. Ele parte justamente da famosa definição de Spinoza que já citamos (“toda determinação é negação”). Porém, na tentativa de descobrir a interconexão de universalidade, particularidade e singularidade, insiste em compreender tal interconexão como simples dedutibilidade, como subsunção sem resíduos “não contingentes” do particular e do singular sob o universal. Essa formulação do problema, derivada do pensamento metafísico, leva necessariamente a uma resposta irracionalista deste tipo:
Levando em conta simultaneamente os dois fatos — isto é, que a limitação determinada não pode ser determinada pela limitação em geral e que, no entanto, ela nasce juntamente com esta última e em um ato único — a conclusão é a de que ela é incompreensível e inexplicável para a filosofia... Portanto, o inexplicável não é o fato de que eu seja limitado de modo determinado e sim o próprio modo dessa limitação.(25)
O problema do finalismo é resolvido por Schelling de maneira análoga. Quando pensa nas influências recíprocas características entre organismo e ambiente, que ocorrem sem que uma consciência as acompanhe e cuja estrutura, não obstante, é tal que nós somos os únicos a concebê-la como alguma coisa de finalístico ao se apresentarem em termos conscientes, Schelling tem um pressentimento de como exatamente andam as coisas. Certamente, o nível alcançado em seu tempo pela ciência impedia-o de desenvolver de maneira consequente e até o fundo esses pensamentos, impedia-o de acompanhar o desenvolvimento tão rico de saltos da matéria em movimento até chegar ao organismo. Contudo, Schelling resolve esse problema, também, de modo puramente apodítico; e não só inverte tudo com o seu idealismo místico como falseia o problema e deforma-o a ponto de torná-lo irreconhecível. O mundo objetivo passa a nascer, assim, “por um mecanismo completamente cego da inteligência”. Só em semelhante mundo, diz ele, pode ser pensada uma atividade finalística sem consciência; só assim a natureza se torna possível como algo “que é finalístico sem ser produzido finalisticamente”.(26)
Aqui, podemos apenas nos referir brevemente a alguns casos mais ilustrativos no que se refere tanto à superação de Kant como à queda na mística irracionalista. Para o nosso problema, é decisivo o modo pelo qual Schelling, indo além dessa questão particular sumamente importante, mas permanecendo na metodologia por ela determinada, procura desenvolver a dialética do universal e do particular. Em face de Kant, é um grande avanço que ele suponha uma compenetração recíproca dos diversos momentos, uma superação mútua deles, uma conversão de um no outro. Inicialmente, Schelling quer dar apenas uma complementação filosófico-natural e objetiva à Doutrina da Ciência de Fichte, sem submeter-lhe o ponto de vista a uma crítica de princípio. Só sob a influência pessoal de Hegel é que o idealismo objetivo de Schelling se coloca sobre uma base própria. Essa objetividade, contudo, recebe um caráter platonicizante, quer dizer: o intelecto intuitivo postulado por Kant realiza-se em Schelling como uma tentativa de renovação dialética da doutrina platônica das ideias. Precisamos salientar, decerto, que essa reviravolta dá a Schelling a possibilidade de proclamar novamente a cognoscibilidade das coisas em si no terreno do idealismo objetivo; por isso, estão presentes em sua obra — apesar de todo o misticismo irracionalista — também tendências à objetividade, à admissão da cognoscibilidade do mundo exterior, e tais tendências vão muito adiante de Kant. Schelling resume assim o novo programa da sua filosofia: “Aplicando convenientemente a interpretação dinâmica das coisas, chega-se a saber como a própria natureza age”.(27) Esse programa, que revela tendências saudáveis ao abandonar a explicação idealista subjetiva da natureza, descamba, porém, necessariamente para o misticismo irracionalista, ao ser desenvolvido até o fundo: “A própria natureza é, por assim dizer, uma inteligência enrijecida com todas as suas sensações e intuições”.(28)
Por isso, ainda que esse objetivismo idealista signifique um progresso em face de Kant, e ainda que à sua base a relação dialética do universal e do particular tenha podido tornar-se um importante momento do método filosófico, o ecletismo e o irracionalismo de Schelling, conforme vimos, destroem a cada passo as conquistas que mal tinham sido feitas. Ainda neste caso, devemos nos contentar com a ilustração deste estado de coisas por um único e importante exemplo. Sabemos que um dos momentos mais importantes da “construção” schellinguiana do mundo é a categoria da potência. Essa categoria nasce, bastante cedo, em Schelling, exatamente da dialética do universal e do particular. No livro juvenil Ideias para uma Filosofia da Natureza, a ideia ainda é equiparada à mônada leibniziana: “Qualquer ideia é algo de particular que é absoluto enquanto tal; o absoluto é sempre um só... a diferença está apenas no modo pelo qual o absoluto é na ideia sujeito-objeto”.(29) Assim surgem em Schelling os momentos construtivos das potências, e cada uma dessas potências é, ao mesmo tempo, o absoluto (o universal, o idêntico) e, também, insuprimivelmente, o particular. Isso está substancialmente ligado ao fato de que Schelling só reconhece e realiza a objetividade, a reprodução da realidade através do pensamento, na universalidade abstrata. E é por tal razão que nele a potência não é uma mediação real entre o imediato e o absoluto, mas uma presumida relação quantitativa dos princípios (subjetivo e objetivo, etc.), de modo que a escolha, a determinação dessas proporções quantitativas é pura e simplesmente abandonada ao arbítrio que constrói. Hegel, portanto, tem razão quando diz da construção schellinguiana mediante as potências: “Representar tudo como uma série é formalismo; encontramos determinações sem necessidade; e, em lugar de conceitos, encontramos fórmulas”.(30)
As ideias, diz Schelling, “nada mais são do que a síntese da identidade absoluta de universal e particular”.(31) Por isso, nas potências, segundo a concepção de Schelling, aparece junto com a unidade dialética do universal e do particular também a unidade do princípio objetivo e do subjetivo: “de modo que esse tipo universal de fenômeno se repete necessariamente também no particular e, como o mesmo e idêntico, no mundo real e ideal”.(32) O que implica – a despeito das construções místico-irracionalistas — a ideia ou, pelo menos, o pressentimento de que o universal e o particular não são simplesmente determinações do pensamento, mas sim que a determinação ideal é apenas a expressão subjetiva da realidade objetiva existente em si. Na aplicação concreta da teoria da potência, entretanto, Schelling não desenvolve a dialética objetiva e subjetiva de universal e particular como uma dialética concreta da natureza: acaba por entreter-se de modo abstrato e frequentemente caricatural com analogias formais muito comumente artificiais e infundadas. O impulso na direção de uma dialética degenera em jogo vazio de analogias e paralelismos.
Apesar de tudo, é necessário constatar que se deu um passo adiante de Kant, sobretudo na estética. As tentativas de encontrar uma relação dialética entre o universal e o particular não tinham tido influência alguma sobre a estética de Kant. Esta estética permanecia subjetiva, privada de objeto e de conceito; a concepção idealista subjetiva, tomada à filosofia da natureza, da adequação do mundo às necessidades da nossa faculdade cognoscitiva, só podia aumentar esse subjetivismo estético. Somente na filosofia da natureza orgânica é que aparecem os primeiros acenos à objetividade. Em Schelling, a filosofia da natureza e a estética pedem fundamentação idealista objetiva. O platonismo de Schelling tem como consequência que tudo — inclusive a questão da relação do universal com o particular — sofra uma radical inversão: a essência da realidade objetiva aparece como cognoscível, mas a ideia não deve ser o reflexo da coisa e sim a coisa é que recebe a sua existência, o seu em-si, da ideia. Surge, assim, um mundo todo particular das ideias. Se, diz Schelling, “daí se concluir que então devem existir tantos universos quantas ideias de coisas particulares, ter-se-á chegado exatamente à conclusão que visávamos”.(33) Desta forma, em contraste com a originária teoria platônica das ideias — na qual as ideias representam a universalidade, a legitimidade das coisas angulares e relações —, a dialética do universal e do particular é levada diretamente ao próprio mundo das ideias: “As coisas particulares, enquanto absolutas na particularidade delas (e, portanto, ao mesmo tempo, universais), enquanto particulares, se chamam ideias”.(34) Esse idealismo platonicizante de Schelling transforma a dinâmica (mais desejada e pressentida do que claramente percebida) novamente em estática: a dialética abstrata do universal e do particular — pense-se também na definição da potência — torna-se outra vez uma assimilação sem resíduos e misticamente colorida do particular no universal abstrato. Diz Schelling: “As formas particulares são enquanto tais puras formas sem essencialidade; elas só podem existir no absoluto quando, como particulares, assumem novamente dentro delas a inteira essência do absoluto”.(35) Ou, ainda: “Se a forma particular deve ser real em si, ela não o pode ser enquanto particular e sim apenas como forma do universo”.(36)
É assim que o impulso na direção da dialética se transforma em puro e simples formalismo. Naturalmente, a dialética de forma e conteúdo se imbrica na de universalidade e particularidade. Mas, ao invés de estudar concretamente as relações recíprocas, frequentemente muito complexas, que derivam dessa conexão, ao invés de procurar explicá-las, o método schellinguiano da construção cria equações analógico-formalistas. Assim, por exemplo, a matéria vem a ser identificada com o universal e a forma com o particular. Schelling é punido por seu platonismo. Ele queria ver na arte um coroamento a posteriori que justificasse tudo o que o precedia no seu sistema. Contudo, já que conteúdo, matéria, argumento (em Schelling: mitologia como coisa em si, que é idêntica à ideia) representam o universal, ao passo que a forma é o particular, a realização formal, exatamente como a entende Schelling, não se apresenta como um princípio realmente realizado (completado) pela estética: ela rebaixa o universal da sua alta pureza, da sua realidade. (Naturalmente, a prioridade do conteúdo ideal não exclui absolutamente a completicidade estética, obtida por meio da realização formal.)
A estética de Schelling vai além de Kant também porque tende a fundar uma dialética histórica da arte. A contraposição de antigo e moderno em Schelling deve ser derivada da dialética histórica de universal (gênero) e particular (indivíduo). Em alguns pontos singulares, encontram-se frequentemente em Schelling pensamentos pertinentes e geniais, que iluminam fatos e condições reais do desenvolvimento histórico da arte. Citemos apenas uma passagem da estética para mostrar como, frequentemente, de justas premissas, em Schelling, derivam generalizações abstratas e distorcidas; ou como pressupostos falsos e deformados são retificados através de observações exatas:
O mundo moderno — diz Schelling — pode-se chamar em geral o mundo dos indivíduos; o antigo pode-se chamar o dos gêneros. Neste último, o universal é o particular, o gênero é o indivíduo; por isso, embora dominado pelo particular, ele é o mundo dos gêneros. No primeiro, o particular significa apenas o universal; por isso, já que nele domina o universal, o mundo moderno é o mundo dos indivíduos, da decadência. No antigo, tudo é eterno, duradouro, imperecível; o número, por assim dizer, não tem poder, pois o conceito universal do gênero coincide com o do indivíduo. No moderno, a transformação e a mudança são a lei dominante. Tudo que é finito perece, pois não existe em si mesmo e sim, somente, para significar o infinito.(37)
Notas de rodapé:
(1) Lenin, Aus dem philosophischen Nachlass (Obras Filosóficas Póstumas), Viena-Berlim, 1932, pág. 287. (retornar ao texto)
(2) Marx e Engels, Die heilige Familie (A Sagrada Família), Werke (Obras), MEGA, Moscou, tomo III, pág. 305. Quando não houver indicação em contrário, Marx e Engels serão citados de acordo com esta edição. (retornar ao texto)
(3) Kant, Crítica do Juízo, § 77. (retornar ao texto)
(4) Kant, Erste Einleilung in die Kritik der Urteilskraft. (Primeira Introdução à Crítica do Juízo), Werke (Obras), ed. Cassirer, Berlim, 1922, tomo V, págs. 195196. (retornar ao texto)
(5) Kant, Crítica do Juízo, § 77. (retornar ao texto)
(6) Kant, Erste Einleitung... cit., pág. 191. (retornar ao texto)
(7) Ibidem. (retornar ao texto)
(8) Ibidem, pág. 184. (retornar ao texto)
(9) Crítica do Juízo, introdução, seção IV. (retornar ao texto)
(10) Ibidem. (retornar ao texto)
(11) Kant, Erste Einleitung..., pág. 198. (retornar ao texto)
(12) Crítica do Juízo, § 70. (retornar ao texto)
(13) Ibidem. (retornar ao texto)
(14) Ibidem, § 64. (retornar ao texto)
(15) Ibidem, § 61. (retornar ao texto)
(16) Ibidem, § 65. (retornar ao texto)
(17) Ibidem, introdução, seção VIII. (retornar ao texto)
(18) Ibidem. (retornar ao texto)
(19) Ibidem, § 77. (retornar ao texto)
(20) A ser lançado pelo Instituto Lukács em 2019, em edição bilíngue. N. dos E. (retornar ao texto)
(21) Schelling, Werke, Stuttgart, 1856, vol. II, págs. 565-566. (retornar ao texto)
(22) Op. cit., pág. 566. (retornar ao texto)
(23) Op. cit, vol. III, págs. 89-90. (retornar ao texto)
(24) Op. cit., vol. II, pág. 567. (retornar ao texto)
(25) Op. cit., vol. III, pág. 410. (retornar ao texto)
(26) Op. cit, pág. 606. (retornar ao texto)
(27)Op. cit, vol. IV, pág. 75. (retornar ao texto)
(28) Op. cit., pág. 77. (retornar ao texto)
(29) Op. cit, vol. II, pág. 64. (retornar ao texto)
(30) Hegel, Werke, Berlim, 1932, vol. XV, pág. 672. Hegel será a seguir citado, salvo indicação em contrário, de acordo com esta edição. (retornar ao texto)
(31) Schelling, Werke, ed. cit., vol. II, pág. 64. (retornar ao texto)
(32) Op. cit., pág. 66. (retornar ao texto)
(33) Op. cit., vol. V, pág. 389. (retornar ao texto)
(34) Op. cit., pág. 390. (retornar ao texto)
(35) Op. cit., pág. 388. (retornar ao texto)
(36) Op. cit., pág. 388. (retornar ao texto)
(37) Op. cit, pág. 444. (retornar ao texto)