MIA> Biblioteca> Vasco Gonçalves > Novidades
Primeira Edição: Capítulo do livro: Um General na Revolução - Publicado pela Editorial Notícias e o Círculo de Leitores
Fonte: Resistir.info
Transcrição e HTML: Fernando Araújo.
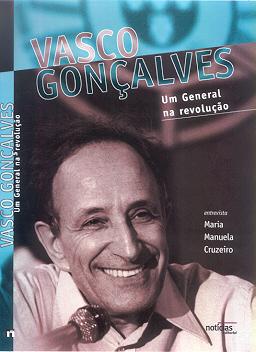
Passemos então ao Documento dos Nove. Antes mesmo da análise desse documento, gostaria de que o Senhor General evocasse um pouco o contexto que lhe dá origem e a forma como ele surge.
Esse documento surgiu, para mim, de forma estranha e surpreendente, porque era um militar, tinha e continuo a ter um certo número de normas da disciplina e do procedimento dos militares e, acima de todas, a da lealdade. Por isso, a minha primeira reacção foi considerar que aquilo era um procedimento inadmissível. Surgiu à margem de todas as estruturas institucionais do MFA, pois não foi apresentado para discussão interna nem ao Directório, nem ao CR, nem à Assembleia de Delegados do MFA. Foi entregue ao Presidente da República e ao comandante do Copcon, no mesmo dia em que era divulgado nos jornais e na rádio, e ainda posto a circular nas unidades para recolha de assinaturas, procurando, certamente, explorar a falta de politização da generalidade dos militares e da nossa população. Por isso digo que quer como primeiro-ministro, quer como membro do CR, quer como militar em sentido estrito, esse documento foi profundamente desleal. Permita-me, a propósito, que lhe leia uma passagem de uma entrevista de Melo Antunes: «Estávamos numa confrontação, numa luta pelo poder, claro que era um acto de subversão, que nada tinha a ver com a ética militar. A essa luz é absolutamente condenável.»
É por isso que lhe chama, na sua resposta, «um documento selvagem, desrespeitador das estruturas democráticas do MFA»?
Sem dúvida. Na crítica que lhe fiz em Tancos, na assembleia do Exército de 2 de Setembro, é analisado profundamente. Foi nitidamente um documento selvagem. Poderão querer responder à acusação, argumentando acerca da decisão polémica da criação do Directório, mas essa decisão resultou da aprovação de uma proposta feita na assembleia do MFA, com a presença de todos os delegados. Portanto, foi feita às claras e, não decidida nos corredores ou nos gabinetes. Pode ser criticável, pode ter havido aspectos criticáveis, como a descoordenação com o Conselho da Revolução, mas o certo é que a apresentação dessa proposta na assembleia do MFA, que tinha uma hierarquia de poderes superior ao Conselho de Revolução, mostra boa-fé e lealdade. Portanto, não se pode invocar que tínhamos constituído o Directório para justificar esse procedimento. Em conclusão, são métodos de actuação que considerei impróprios de militares com grandes responsabilidades políticas perante o MFA e o nosso povo. O PAP e o próprio Documento-Guia, por muitas críticas que se lhes façam, não apareceram de surpresa, foram discutidos nas nossas assembleias.
Passemos então à análise do documento. Independentemente de condenar a forma como apareceu, que aspectos lhe parecem de salientar?
O documento tinha, quanto a mim, um objectivo fundamental: pôr fim ao processo revolucionário, às transformações económicas, sociais e políticas a caminho do socialismo. É centrado, na melhor das hipóteses, num conceito de terceira via para Portugal e exprime um pensamento de esquerda da pequena e média burguesia, bem como os seus receios em relação à ascensão da classe operária, em geral, e do Partido Comunista, em particular.
Aceitando que é um documento de esquerda, como pode afirmar que tentava acabar com o processo revolucionário? Não seria antes uma tentativa de consolidar conquistas e não empurrar decididamente esssas classes para a direita e a contra-revolução?
De uma leitura superficial e da linguagem utilizada poderá resultar essa ideia, mas analisando-o em profundidade vemos que é um documento com grandes contradições ambiguidades e debilidades teóricas. E, mesmo, com falsidades, como, por exemplo, afirmar o comprometimento do MFA com «determinado projecto político» , insinuando que era com o do PCP. Além disso, analisa as contradições, agitações e perturbações próprias de uma revolução, mas pelos fenómenos de superfície, não mergulhando nas questões de fundo, e essa análise traduz, repito, as sérias preocupações da burguesia pelos seus interesses de classe, que via ameaçados pelas conquistas democráticas. É isso que, por exemplo, se expressa na acusação de estarmos a seguir um modelo de sociedade socialista de tipo europeu oriental. Pergunto: que sinais de modelo soviético haveria nas conquistas alcançadas? Não vieram todas elas a ser integradas na Constituição de 1976, com a aprovação do Presidente da República, do próprio Grupo dos Nove, do PS e do PPD, além do Partido Comunista e do MDP/CDE?
Mas, por outro lado, também rejeitava os modelos sociais-democratas conhecidos.
E ao mesmo tempo afirmava que a via para o socialismo passou a ter um carácter irreversível, sobretudo a partir das eleições para a Assembleia Constituinte. Ora se essas eleições foram imediatamente aproveitadas para a contestação do processo revolucionário e não para a consolidação da via para o socialismo, havia aqui, no mínimo, uma enorme ambiguidade, para não dizer mistificação. Isto é: se de facto o queriam, não fazia sentido centrarem as suas críticas em quem o defendia de facto, poupando os seus reais inimigos. Foi isso que fizeram.
Por exemplo?
Em vez de defenderem, como faz o PAP, a «necessidade de liquidação do poder explorador da grande burguesia monopolista, latifundiária e financeira e da colectivização dos meios de produção para atingir a sociedade socialista», em vez disso, lamentam e criticam «o ritmo, impossível de absorver, das nacionalizações» e apontam «o grave risco de ruptura do tecido cultural e social preexistente, o mínimo indispensável de normalidade nas relações sociais entre todos os portugueses». Como se o caminho para o socialismo, opção que havia sido aprovada pelo MFA, fosse compatível com a manutenção do tecido social preexistente e com a normalidade nas relações sociais entre «todos» os indivíduos e «todas» as classes sociais... Por outro lado, não rejeitando as nacionalizações, fazem-se no documento graves acusações sobre a situação económica do país e a crise para que se encaminhava. Ora isso era mentira. A missão da OCDE, insuspeita, que se deslocou a Portugal em Dezembro de 1975, a fim de estudar a nossa situação económica, considerou, como atrás já se disse, que esta era «surpreendentemente saudável», embora reconhecesse «a fluidez da situação e as potencialidades perigosas» existentes.
Portanto, em sua opinião, o documento erra completamente o alvo...
Não digo que errou o alvo... pois atingiu o seu objectivo contra-revolucionário. Diria que foge à análise profunda do processo revolucionário e escolhe o caminho fácil de explicar todas as dificuldades pelos «erros de direcção política», pelos «desvios graves de orientação no interior do MFA», pela «falta de credibilidade e manifesta incapacidade governativa da actual equipa dirigente», etc., etc...
Mas como explica que tenha sido, de todos os documentos produzidos por militares, o único que agitou verdadeiramente a sociedade civil?
A generalizada carência de consciencialização política da nossa população, a sua composição social, a ideologia burguesa dominante, o conservantismo, a juntar ao medo de transformações estruturais profundas, à ideologia e preconceitos anticomunistas e, em particular, à enorme influência de uma Igreja Católica conservadora (e mesmo reaccionária), todos estes factores, a coberto da invocação da ameaça de uma ditadura comunista contra a jovem democracia portuguesa, serviram, de facto, na prática, para que a mensagem contra-revolucionária passasse.
Para além da sua própria resposta, apresentada na assembleia do MFA, que outras reacções houve, no sector militar, ao documento?
Dado o procedimento do Grupo dos Nove, desleal quer no plano das relações entre militares, quer no das relações políticas dentro do MFA, concluímos que a publicação do documento era a consumação da ruptura entre os moderados e aquela que, em meu entender, era a esquerda mais coerente e consequente. Contudo, depois da análise e discussão da situação com camaradas que também repudiavam a atitude do Grupo dos Nove, concluímos que devíamos encontrar-nos com eles e discutirmos em conjunto a situação.
Há um nome em que ambos estamos a pensar, certamente, porque é uma figura-chave de todo o processo: Melo Antunes. Como, neste contexto que está a expor, avalia a sua actuação?
Bem, penso que o major Melo Antunes era dos homens mais conscientes dentro do MFA, que tinha mais bagagem política, que tinha desses assuntos um conhecimento que a generalidade dos elementos do MFA não possuía. É claro que ele foi fundamental na elaboração do Documento dos Nove, que traduz, segundo penso, fielmente as suas ideias. Devo esclarecer que as minhas críticas ao documento não me impediram nunca de reconhecer as grandes qualidades de Melo Antunes, e uma delas era a coerência. Ele não mudou de ideias ou de posições, no fundamental, entre o 25 de Abril e o 25 de Novembro. Era um homem sinceramente de esquerda (à esquerda do PS), era um patriota, um anticolonialista convicto, e não era anticomunista, como mostram as suas declarações no 25 de Novembro. Na crise Palma Carlos, no 28 de Setembro, no 11 de Março, esteve sempre firmemente com a esquerda do MFA, contra Spínola, quer na política interna, quer na de descolonização. É conhecida de todos a influência decisiva que teve nesse processo logo a partir do Segundo Governo Provisório. Foi ele a propor-me que o MFA passasse a desempenhar um papel determinante no processo (com o que concordei, de um modo empenhado), impedindo os objectivos neocolonialistas de Spínola e levando à prática os nossos propósitos de uma descolonização verdadeiramente libertadora. Como todos nós, certamente, não esperava os desenvolvimentos que o processo teve desde o derrubamento do fascismo-colonialismo.
Afirmou atrás que Melo Antunes não mudou entre o 25 de Abril e o 25 de Novembro. Mas diz também que ele não esperaria que o processo fosse o que foi...
Melo Antunes apoiou o processo revolucionário até a um certo ponto. À medida que este se aprofundou, foram surgindo as suas reservas quanto à legitimidade de certas medidas e a sua correspondência com o exercício das liberdades políticas e com o respeito pela vontade popular maioritária. As divergências entre ele e a esquerda militar, de que eu fazia parte, manifestaram-se em aspectos como a unicidade sindical (que acabou por apoiar, após ter manifestado certas reservas), o Plano Económico de Transição e o primeiro Pacto MFA-Partidos. Lembro-me de que não quis tomar parte activa nas negociações do Pacto, ao contrário do que seria de esperar, dado o seu prestígio e a sua preparação política. Embora tenha acompanhado indirectamente essas negociações, penso que não quis participar por ter reservas quanto à legitimidade de o MFA propor condicionalismos à Assembleia Constituinte (consagração das conquistas democráticas alcançadas por via revolucionária), que, no seu entender, limitavam as liberdades políticas da Assembleia. Por outro lado, manifestava reservas quanto ao Partido Comunista e às suas alegadas «tendências hegemónicas», à Intersindical, à actuação da classe operária e das massas populares. Salientava que haviam sido os militares e não a classe operária a derrubar o fascismo. Respondia-lhe que não receava esse «perigo», que nós, MFA, é que tínhamos as armas, mas a minha resposta não lhe parecia realista nem convincente.
Politicamente, temia que estivéssemos a avançar para um regime do tipo do dos países socialistas da Europa oriental (como, aliás, refere no Documento dos Nove). Receava pelas liberdades (as palavras traduzem a ideia com que fiquei do seu pensamento), obcecado, quanto a mim, pelo que pensava estar a acontecer nos países do chamado «socialismo real». Eu considerava que essas posições eram erradas, que não caminhávamos para um regime do tipo do dos países atrás citados, mas Melo Antunes, repito, não era anticomunista, era, mais propriamente, anti-soviético.
Economicamente, ele pensava que, sendo nós uma economia integrada na Europa e no Ocidente, tínhamos condicionamentos políticos e económicos que não nos permitiam um desenvolvimento separado desse contexto, podíamos mesmo vir a ser hostilizados, por exemplo, pelos Estados Unidos e ou por países da Europa ocidental. Estas preocupações influenciaram muito a acção de Melo Antunes. Contudo, por outro lado, no processo de descolonização, não foi inibido por preocupações desse tipo, trabalhou e lutou, de facto, por uma solução para as antigas colónias que não fosse neocolonialista. Afirmou, mais tarde, que o que o separava da esquerda militar dizia respeito «à legitimidade do que podíamos fazer», na fase de transição até à democracia.
Segundo Dinis de Almeida, a grande tragédia da Revolução portuguesa foi o desentendimento entre os seus dois maiores teóricos: Vasco Gonçalves e Melo Antunes. Concorda?
Compreende que é delicado responder a essa pergunta, mas faço questão de esclarecer detalhadamente as nossas divergências, que eram sobre:
Sublinho de novo, porque me parece essencial, que a elaboração e a aprovação da Constituição da República eram etapa fundamental do processo revolucionário, tal como havia sido acordado no Pacto MFA-Partidos. Contudo, PS e PPD estavam a procurar pôr fim a esse processo, mostrando não terem assinado o pacto de boa-fé. Duas opiniões diferentes se confrontavam: a partilhada por Melo Antunes e os moderados, que veio a ser maioritária no fim de Agosto de 75, defendia que a condução do processo deveria ser feita por uma aliança entre o MFA e a pequena e média burguesias (obviamente seus sectores democráticos), uma vez que a ditadura não fora derrubada por uma revolução popular, pela classe operária e pelos trabalhadores, mas pelo MFA — aqueles desempenhariam um importante papel apoiante, de aliados, mas não de direcção; e a partilhada pela esquerda militar, que depois de Agosto-Setembro veio a ser minoritária: a de que essa aliança deveria ser realizada pelo MFA com a classe operária e as outras classes trabalhadoras, a pequena burguesia e estratos ou sectores da média burguesia. As classes trabalhadoras deveriam ter, tal como o MFA, um papel principal e decisivo para levar à prática a opção socialista do MFA. Como seria possível realizar uma transição democrática e pacífica (que estava ao nosso alcance por dispormos do poder militar) para o socialismo, sem a força decisiva da classe operária e dos trabalhadores em geral?
A situação que se vivia, com a crescente intervenção das massas populares, impulsionadas sobretudo pelos comunistas, causou apreensões entre os moderados (quanto a mim não justificadas) sobre o futuro da democracia e das liberdades. Eram influenciados, consciente ou inconscientemente, por posições de classe. Tragicamente, os moderados chegaram ao ponto de considerar a esquerda militar como seu inimigo principal. Melo Antunes pretendia caminhar como que por uma terceira via, mas a experiência tem mostrado que essa via é o caminho da social-democracia para a direita. Recusando uma discussão aprofundada das nossas opiniões, faltando a reuniões combinadas, os moderados enfraqueceram o MFA, favoreceram, muitos deles de boa-fé, a contra-revolução. Foi mais forte a resistência da ideologia burguesa e pequeno-burguesa entre os sectores maioritários dos militares e dos trabalhadores, a influência caceteira dos sectores mais reaccionários do clero, sobretudo a norte da cordilheira central, explorando o conservantismo, os aspectos mais negativos do tradicionalismo e do espírito religioso de grande parte da nossa população, e tudo isto conduziu ao 25 de Novembro.
Mas considera Melo Antunes um homem de Novembro?
Gostaria de lhe responder com uma citação, que acho esclarecedora, retirada da entrevista que ele lhe deu para o Centro de Documentação 25 de Abril: «Mas, para além das acções legais e semilegais, a que deitávamos mão para obter a supremacia militar, também desenvolvíamos acções clandestinas para nos prepararmos para uma confrontação que eu julgava inevitável. O nosso caminho era o de apertar o cerco, ganhar posições; fomos criando cada vez mais dificuldades: ou saltava o PC, ou a extrema-esquerda. Para isso tínhamos uma organização militar em marcha.» Mas também não queria deixar de a confrontar com outra declaração de um outro destacado elemento do Grupo dos Nove, Vasco Lourenço: «Tínhamos pensado (os Nove) numa sociedade muito mais justa do que a que se vive hoje em Portugal e em que a política social estivesse mais aprofundada do que se encontra realmente. O que existe em relação ao Documento dos Nove é a parte da democracia formal. Se ele tivesse sido posto em prática, penso que estaríamos bastante melhor.» Esta era a utopia de muitos moderados, confundidos, arrastados para a contra-revolução. O PS, o PPD e o CDS aproveitaram essas contradições e colaram-se-lhes contra a esquerda militar, constituindo uma ampla frente com importantes apoios na direita e extrema-direita, que haviam sobrevivido ao 25 de Abril e que sempre estiveram contra o MFA.
Apesar de ter apresentado um documento de resposta ao Documento dos Nove (naturalmente de natureza política), afirmou que a sua reacção foi, mais do que política, eminentemente moral. Porquê?
A minha reacção, como a de outra pessoa qualquer, teve várias componentes: uma moral, uma política e outra militar. Uma coisa que me chocou muito, e aos meus camaradas que se opuseram ao Documento dos Nove, foi precisamente ele ter sido publicado sem ser discutido no Conselho da Revolução ou na Assembleia do MFA. Quer dizer, não foram respeitadas as instituições democráticas que tínhamos criado dentro do MFA, não foram ouvidos os órgãos dentro dos quais esse documento devia ter sido analisado. Portanto, considero que isso foi um procedimento desleal da parte desses meus camaradas, e nessa análise certamente que influi muito a nossa formação militar porque estamos sempre a procurar pôr em prática procedimentos leais e a defender a correcção das relações, etc. Por outro lado, afirmei muitas vezes, e continuo a fazê-lo, que a política e a moral andam de par e penso que não é possível destrinçar uma da outra. Todos os factos políticos incluem um conteúdo moral e, portanto, esse não podia ser diferente. A minha reacção, como, aliás, a dos camaradas que estavam comigo, terá sido muito influenciada por questões de ética e da nossa própria formação militar, da nossa idiossincrasia. Isto do ponto de vista das acções desencadeadas para nos opormos ao Documento dos Nove e às acções que vinham sendo desenvolvidas por eles. Poderá dizer-se que não teremos sido muito habilidosos, que não deviam ser expulsos ou suspensos do CR os camaradas que assinaram o documento, mas não só reagimos em termos puramente políticos, como também em termos éticos.
Logo no dia seguinte à saída do Documento dos Nove, ou seja, dia 8 de Agosto de 1975, toma posse o Quinto Governo Provisório. Sabe-se que o Senhor General teve grandes dificuldades para formar o seu novo gabinete. É verdade que Otelo foi convidado para primeiro-ministro?
Não, Costa Gomes nunca convidou Otelo para primeiro-ministro. Surgiu a ideia, quando se estava nas diligências para a constituição do Quinto Governo, de Otelo ser o vice-primeiro-ministro, e eu concordei, por achar que podia dar mais força ao Governo. Isso foi falado com ele antes da sua partida para Cuba e, em princípio, aceitou. Depois (é uma pessoa volúvel no plano das ideias e dos procedimentos políticos), quando regressou já não quis. Penso que houve diligências do Grupo dos Nove com quem ele tinha relações mais estreitas do que comigo. Aquilo que unia mais Otelo ao Grupo dos Nove (sobretudo aos elementos do Exército) era o facto de serem mais ou menos do mesmo tempo da Escola do Exército ou da Academia Militar, assim como, também, a oposição à minha pessoa e os tais preconceitos anticomunistas. Otelo era um homem com uma espécie de anticomunismo que, se não era primário, andava lá muito perto.
Mas o Senhor General aceitava colaborar com Otelo Saraiva de Carvalho como vice-primeiro-ministro? Quais eram, na altura, as vossas relações?
Nunca tive quaisquer confrontos com Otelo; sabia que ele às vezes dizia: «Qualquer dia faço saltar o Vasco» e coisas assim no género. Só quando a situação se agravou é que chegou a afirmar ao general Costa Gomes, numa reunião do Directório: «Se fosse eu que mandasse, demitia o nosso general, não o queria para primeiro-ministro», etc., mas isto já depois do Quinto Governo em funcionamento. Por mim, não tinha dessas discussões com Otelo e pensava que, se ele fosse vice-primeiro-ministro, seria capaz de me entender com ele. Além disso, a situação naquele momento era tal que se nos afigurava que, como vice-primeiro-ministro, daria força ao Governo, que traria uma certa acalmia ao grupo do Copcon e que poderia ser também uma certa caução em relação aos moderados. Quer dizer, era um sinal de abertura, uma prova de que afinal não estavam, como eles diziam, só comunistas no Governo e que aquele sector do MFA, aquela sua esquerda mais consequente, mais identificada com os interesses populares, não se encontrava, na verdade, ao serviço do Partido Comunista.
Afirma que não teve confrontações concretas com Otelo Saraiva de Carvalho, mas, por exemplo, numa reunião a 4 de Agosto de 1975, terá surgido uma. Eu especifico: foi exactamente a propósito da crise que se desencadeou no Regimento de Comandos, causada pela demissão de Jaime Neves. O Senhor General lembra-se de uma reunião onde estiveram ambos presentes?
Não, nessa reunião não foi posta a questão. Noutras ocasiões, Otelo afirmou que ia jogar as estrelas na deposição ou na continuação do Jaime Neves como comandante do regimento, mas esse assunto não o tratou comigo. Embora tivesse naturalmente a minha opinião e não fosse alheio ao que se passava, procurava não me imiscuir directamente nesses assuntos, que eram do Copcon e, portanto, da competência do seu comandante supremo, o general Costa Gomes.
Mas então essa reunião de 4 de Agosto, no Quartel-General da Região Militar de Lisboa, foi para discutir o quê?
Eram questões relacionadas precisamente com a formação do novo Governo. Por esses dias lembro-me, concretamente, de uma reunião a 3 de Agosto, em São Julião da Barra, e essa, a de 4 de Agosto. Em nenhuma delas foi discutida a crise no Regimento de Comandos. Na primeira, além do Presidente da República, primeiro-ministro, Otelo e camaradas do CR esteve também presente o Prof. Teixeira Ribeiro, que eu propusera para vice-primeiro-ministro do futuro Governo, que nesse momento já estava esboçado. Foi então que Otelo me fez uma crítica cerrada. Aparentemente, trazia de Cuba um certo espírito de caudilho ou coisa parecida. De modo que eu, em jeito de provocação e para saber da reacção dos presentes, acabei por dizer mais ou menos isto: «Então, vá o Otelo para primeiro-ministro. Se você diz que é capaz de fazer isto ou aquilo... então vá para primeiro-ministro...»
Foi também uma forma de colocar o Presidente da República perante aquela hipótese, que eu previa não ser, de maneira alguma, do seu agrado. Otelo hesitou e disse: «Eu só posso aceitar se o Copcon estiver de acordo.»
E foi então que se marcou para o dia seguinte, 4 de Agosto, uma reunião no Quartel-General da Região Militar de Lisboa, na qual seria posta aos comandantes das diversas unidades a questão de eu ser substituído por Otelo.
Naturalmente que o general Costa Gomes ficou a ponderar e, muito preocupado, mesmo antes de a reunião começar, disse-me mais ou menos o seguinte: «Estive a pensar, parece-me que não seria bom o Otelo ser o primeiro-ministro», mas não adiantou mais razões, como era próprio do seu estilo muito reservado e cauteloso. Nessa reunião, que começou com uma exposição de Otelo sobre as razões que tinham levado à realização da mesma, foram decisivas as intervenções de Mário Tomé e de Dinis de Almeida, que afirmaram que, no seu entender, eu devia continuar a ser primeiro-ministro. Então, os comandantes das unidades concordaram e o PR e Otelo não puseram objecções de qualquer natureza. Fui mandatado por unanimidade para formar o Quinto Governo Provisório. Terminada a reunião, telefonei ao Prof. Teixeira Ribeiro perguntando-lhe se ele continuava na disposição de ser vice- -primeiro-ministro depois daquilo a que assistira em São Julião da Barra. Respondeu-me sem hesitação que sim. O Governo foi formado imediatamente, uma vez que já estava anteriormente esboçado, desde o regresso de Costa Gomes de Helsínquia, a 2 de Agosto.
O apoio do Otelo e do Copcon ao Quinto Governo foi incondicional?
Não foram postas condições. A assembleia no Governo Militar de Lisboa chegou à conclusão de que eu deveria continuar a ser primeiro-ministro e terminou os seus trabalhos.
Mas entretanto, a nível de assembleias militares, discutia-se uma moção, já apresentada na assembleia da Arma de Infantaria de 23 de Julho, onde o Senhor General era criticado, adiantando «não se verem inconvenientes na sua substituição».
É verdade, mas isso exige um esclarecimento. Os termos da moção aprovada nessa assembleia eram ambíguos. Na própria reunião do Quartel-General, um qualificado comandante que estivera presente na assembleia que refere esclareceu categoricamente que o que fora aprovado era que não se viam inconvenientes em que eu deixasse de ser primeiro-ministro. Não se verem inconvenientes é muito diferente de vetar pura e simplesmente o meu nome. Nesse momento, eles ainda não tinham dito «aquele homem não pode ser primeiro-ministro», porque a relação de forças dentro do MFA ainda era favorável à esquerda militar, não obstante as manobras conspirativas que os Nove e os seus apoiantes levavam a cabo com determinação.
A partir daí, o processo foi rápido, mas para trás ficava quase um mês de complexas diligências para se conseguir um Governo, num período particularmente crítico, tanto interna como externamente...
Estas diligências demoraram muito tempo não só pela ida de Otelo a Cuba e de Costa Gomes à Conferência de Helsínquia, mas ainda pela acção paralisante desenvolvida pelos camaradas do Grupo dos Nove... O Presidente da República foi à conferência e eu fiquei cá a fazer diligências para se formar uma lista de ministros. Quando ele regressou, perguntou-me como iam as coisas. Informei-o de que o Governo estava projectado, mas não podia ser nomeado porque o Otelo, que fazia parte do Directório, estava ausente e devia ser o Directório a responsabilizar-se por ele. Havia, obviamente, urgência em formar Governo, existia aquele vazio que era necessário preencher, e Costa Gomes era partidário de que se avançasse, mas eu respondi: «Temos de esperar pelo Otelo, porque ele é também membro do Directório.» Então ficou resolvido que esperaríamos o seu regresso. Na volta ele vinha, como disse, com a ideia de não aceitar o cargo de vice-primeiro-ministro, ou de eu ser nomeado primeiro-ministro, provavelmente influenciado pelos camaradas do Grupo dos Nove, que com ele mantiveram contactos, sem meu conhecimento, durante a sua estada em Cuba.
Foi então um Governo concluído em tempo recorde. Entre o dia 4 e o dia 8 de Agosto.
Não, porque eu já tinha o Governo todo formado. O problema foi de o Otelo o aprovar ou não, de todas as dúvidas em torno da questão de aceitar ou não ser vice-primeiro-ministro, ou de eu ser primeiro-ministro. De facto, já tinha os nomes de todos os ministros há oito ou dez dias. Depois da criação do Directório, que era, digamos, um aval para um determinado número de ministros que eu pensava serem fundamentais, o problema ficara resolvido.
Gostaria que esclarecesse melhor como chegou à formação desse Quinto Governo, cuja equipa o Senhor General não se cansa de elogiar, classificando-a como a mais coesa e mais revolucionária que se conseguiu em Portugal. Quais foram realmente as diligências fundamentais para a constituição desse Governo?
De facto confirmo e reafirmo que o nosso país nunca teve, ao longo de mais de oito séculos da sua história, um Governo tão próximo dos interesses e das aspirações mais profundas do nosso povo como o Quinto Governo Provisório. Não obstante ter desempenhado as suas funções num período muito curto, elaborou e propôs um programa que compreendia uma política de austeridade, um modelo de sociedade e uma estratégia de desenvolvimento para o nosso país; esse programa foi também elaborado num tempo recorde, porque tínhamos presente a curta duração do governo, dadas as afirmações de Costa Gomes no acto de posse.
Quando se verificou a queda do Quarto Governo, pôs-se no Conselho da Revolução a questão da substituição desse governo e eu próprio pus a questão da confiança em relação a mim. Se queriam ou não apoiar um novo governo sob a minha direcção. Durante a discussão foi, necessariamente, ouvido o parecer das regiões militares, cujos comandantes faziam parte do CR e me apoiaram. Fui, portanto, encarregado por este órgão de formar novo Governo. Nesse momento a relação de forças dentro do MFA ainda era favorável à esquerda dita gonçalvista, tínhamos nítida maioria no CR e o Grupo dos Nove ainda não estava formalmente constituído. A decisão foi aprovada por consenso, portanto, as diligências para a formação do Quinto Governo foram nossas. Resolveu-se, em virtude das desinteligências existentes que o Governo não integrasse elementos dos partidos como seus representantes, mas sim a título individual. Procurei que elementos do PS participassem no governo e fiz uma reunião com eles. Eram muito críticos de Mário Soares e partidários de um entendimento com os militares do MFA. Aguardei que tomassem uma decisão, pois consideravam necessário colocar a questão no seu partido. A resposta demorou a chegar e foi negativa, salvo de dois dos elementos. Convidei também dois sacerdotes para integrarem o elenco governativo. As coisas pareciam bem encaminhadas, cheguei a falar com o Cardeal-Patriarca, que me disse que a autorização (que os sacerdotes consideravam necessária) era da competência da Conferência Episcopal, a qual, uma vez consultada, não aprovou a ideia.
Simultaneamente, eram feitas diligências para a participação de antigos ministros e secretários de Estado e de outros democratas e revolucionários. Nesse período é criado o Directório, após dramáticas discussões no CR e na assembleia do MFA, Otelo visita Cuba e Costa Gomes participa na Conferência de Helsínquia. No regresso de Cuba, Otelo, que tinha aceitado ser vice-primeiro-ministro do Quinto Governo Provisório, modificou a sua posição e contrariou também a minha nomeação. Foi suspensa a nomeação do novo Governo, que já estava constituído. Novas discussões e reuniões em São Julião da Barra e no Quartel-General da RML. Finalmente, a confirmação da minha incumbência de constituir Governo.
Tudo isto demorou a formação e a tomada de posse do novo Governo, que vem a acontecer cerca de três semanas depois da queda do anterior. Simultaneamente, a correlação de forças foi-se modificando em sentido favorável aos Nove.
Mas o certo é que o Quinto Governo não obtém apoios e, mais, não consegue, em si próprio, abarcar as forças que pretendia. É à partida um Governo sem apoio social. Os comentadores dizem, inclusive, que não houve um apoio expresso de alguém, senão do Partido Comunista Português. O Senhor General aceita essa afirmação de que era o Governo do Partido Comunista?
Há aí dois aspectos. Um é saber se era um Governo unicamente apoiado pelo Partido Comunista Português, outro se o Quinto Governo era o Governo do Partido Comunista Português. Ora é absolutamente falso que ele fosse o Governo deste partido. Constantemente são feitas essas afirmações para degradarem a imagem do Quinto Governo, para instigarem ao anticomunismo, à contra-revolução, à oposição, e para criticarem a sua actuação revolucionária. Ora, se se analisar concretamente, objectivamente, essa acusação, verifica-se que ele não estava ao serviço de nenhum partido em particular, nem do Partido Comunista, mas sim ao serviço do nosso país. As medidas que tomou eram as que interessavam às mais vastas camadas da população portuguesa. Se eram apoiadas pelo Partido Comunista, isso quer dizer que este partido também apoiava as aspirações mais legítimas da população portuguesa, e quer dizer, quanto a mim, que o Partido Socialista e o PPD não tomaram posições no sentido de abrir caminho à libertação do nosso povo, mas antes se colocaram em posições de compromisso com os interesses que dominavam o país antes do 25 de Abril, com a grande burguesia. com a gente dos grupos económicos. Aliás, vi uma vez Mário Soares, na televisão, declarar que nunca pretendera liquidar ou destruir os grupos monopolistas, mas, antes, condicioná-los. Esta ideia foi confirmada noutras ocasiões, nomeadamente numa entrevista ao semanário Independente , julgo que em 1990. Esta afirmação é elucidativa, se a compararmos com a que fez no Barreiro, no dia seguinte à nacionalização da banca, em 15 de Março de 1975, e que faço questão de citar: «O dia histórico em que se pode assinalar que o capitalismo se afundou com a nacionalização da banca privada. É possível que nem todos os portugueses se tenham dado conta deste momento histórico, em que a nacionalização da banca, que, por sua vez, detém nas carteiras a maior parte das acções das grandes empresas portuguesas e, ao mesmo tempo, a fuga ou a prisão dos chefes das nove grandes famílias que dominavam Portugal indica, de uma maneira bem clara, que se está a caminho de criar um sociedade nova em Portugal.»
Pergunto: o que tem isto a ver com o objectivo, mais tarde declarado, de apenas querer «condicionar a actividade dos grupos monopolistas»? E pergunto ainda: é alguma forma de «condicionar» a reconstituição do domínio do grande capital monopolista nacional (em estreita ligação e dependência do grande capital estrangeiro) a absoluta sujeição dos nossos governos a esses interesses? Isto a propósito de eu rejeitar categoricamente que o Quinto Governo Privisório era o do Partido Comunista.
Senhor General...
Desculpe, mas insisto ainda noutro ponto. É que, se analisar o que foi o percurso político dos membros do Quinto Governo Provisório tão acusados de serem comunistas, verifica que essa afirmação, essa acusação, serve apenas a baixa política e a das pessoas para as quais a política e a moral não andam de par, mas estão separadas, e para as quais não há meios que não devam ser utilizados para os fins mais obscuros. E atacavam-me a mim e outros elementos do MFA, como Rosa Coutinho, por exemplo, de querermos implantar uma ditadura militar no nosso país, de sermos totalitários.
Senhor General, a propósito gostaria de colocar uma outra questão relativa ao seu Gabinete. Estou a recordar-me, por exemplo, de uma declaração de Costa Gomes que afirma que, de facto, o problema não era tanto o primeiro-ministro, mas sim a equipa que o assessorava, e refere, inclusivamente, o chefe do gabinete dessa altura, que classifica de pessoa muito exaltada e radical. O Senhor General quer comentar?
Comento, com todo o gosto. Ele não se deve ter referido ao chefe de gabinete, mas sim a um adjunto para os assuntos económicos e que teve um papel destacado no processo da reforma agrária e das nacionalizações.
Quem era, Senhor General?
Era um camarada que já morreu. Morreu prematuramente, era o...
Rosário Dias?
Sim, o jovem primeiro-tenente Rosário Dias. Foi proposto pelo hoje almirante Vítor Crespo para fazer parte do meu gabinete, no Segundo Governo Provisório. Era um economista muito competente e conhecedor, um homem profundamente sério, exaltado na sua generosidade, franco, leal, idealista, por vezes até voluntarista. Empenhava-se frontalmente, sem medo. Sobre a influência determinante que terá exercido no meu gabinete trata-se, uma vez mais, de um erro de Costa Gomes, que já se verificava em 1975. Acho muito infeliz que ele tenha insistido nesse erro, pois já desde essa altura que eu lhe criticava essas posições em relação a Rosário Dias e ao meu gabinete. Penso que a causa profunda reside no facto de o meu adjunto ter uma forte personalidade, de ter invariavelmente tomado posições em favor dos mais desfavorecidos e de informações tendenciosas que forneciam a Costa Gomes. É minha convicção de que as opiniões deste foram largamente influenciadas por alguns camaradas do Grupo dos Nove.
Mas, ainda a respeito do gabinete, Rosário Dias era o elemento mais destacado, ou havia outros com igual protagonismo?
Havia outros colaboradores, mas é preciso salientar que a posição deles era de adjuntos do meu gabinete. Era, como hei-de dizer, uma equipa de pessoal que se revelou competente e que não foi escolhida por razões partidárias, mas por motivos de fidelidade à Revolução de Abril e ao MFA. Claro, pessoas de direita não havia lá no meu gabinete, isso não havia de maneira alguma, era tudo gente que queria marchar para o futuro, a caminho do socialismo.
Mas este gabinete não era, obviamente, na sua constituição global, o mesmo que o acompanhou desde o Segundo Governo Provisório. Foi sofrendo alterações, não é verdade?
No essencial foi o mesmo. Sofreu uma alteração ou outra, mas, no essencial, era o mesmo. Foram colaboradores muito dedicados, honrados, empenhados no trabalho que faziam.
Quem era então o seu chefe de gabinete?
Era o, hoje, coronel Sousa Lobo, um homem profundamente sério. Escolhi-o porque o conhecia como oficial dos mais distintos da Engenharia. Tinha sido meu oficial em Angola e portanto, repito, foi preferido por razões da minha própria formação militar, como aconteceu com outros meus colaboradores. Escolhi muitos dos meus adjuntos a partir do que conhecia deles como militares e não como políticos. O Sousa Lobo fez a sua aprendizagem política no meu gabinete; era um homem muito sério, muito inteligente, um homem de carácter e, portanto, desempenhou as suas funções de maneira inteligente e honesta. Posso dizer-lhe que vários dos meus adjuntos foram indicados pelos meus camaradas do Movimento das Forças Armadas, que eu nem sequer os conhecia…
O Senhor General foi avisado pelo Presidente da República de que o Quinto Governo era um Executivo de passagem?
Não. Na véspera da tomada de posse falei com o general Costa Gomes, que não me disse nada. Foi uma surpresa para mim ele ter feito essa declaração. De resto, o Doutor Teixeira Ribeiro ficou muito incomodado e, como ele, todos os outros ministros. Eu tive de pôr água na fervura. É preciso ver que o Quinto Governo Provisório foi o mais revolucionário que até hoje existiu no nosso país. Por isso mesmo, eles aguentaram essa declaração do Presidente da República e não se demitiram. Tinham consciência de que estavam ali numa missão patriótica e de que era preciso opormo-nos à contra-revolução, consolidar as conquistas, ganhar tempo.
Esse Governo é o mais revolucionário porquê? Porque os ministros que conseguiu juntar nesse elenco governamental foram os mais revolucionários que houve em Portugal desde o 25 de Abril, ou porque tomou as medidas mais revolucionárias?
No seu conjunto terão sido, não tenho qualquer dúvida a esse respeito. Era um Governo homogéneo, todo voltado para as conquistas de Abril. Apresentou um programa muito bem elaborado e em tempo recorde, com um esforço enorme de todos os seus membros. Era gente muito competente. Digo que foi o Governo mais revolucionário, porque, quanto a mim, foi o que mais identificado esteve com os interesses populares. Pela primeira vez, na história da República, integrava um operário, Teixeira da Silva, operário gráfico, que era presidente da assembleia geral do seu sindicato e veio a ser mais tarde coordenador da Intersindical. Foi secretário de Estado da Segurança Social. No entanto, quero chamar à atenção do seguinte: todos os ministros eram de origem pequeno-burguesa, o que não impediu de sermos acusados de formarmos um Governo de comunistas. O próprio Pezarat Correia, em 1984, num colóquio em Coimbra, me disse: «Eu, naquele tempo, julgava que todos os ministros do Quinto Governo Provisório eram comunistas, e hoje estou convencido de que nenhum era». De resto, basta olhar o percurso político posterior dessas pessoas para ver se era verdadeira ou falsa essa acusação. Simplesmente, era um Governo com uma homogeneidade que os governos de coligação não tinham. Nós conseguíamos dividir o nosso trabalho de maneira a que, nas reuniões de Conselho de Ministros, uns iam para um local trabalhar nuns assuntos, outros para outro, e depois fazíamos reuniões plenárias. Foi um Governo que produziu imenso. Quando saímos deixámos dezenas de diplomas (cerca de quarenta), promulgados depois pelo Presidente da República. Alguns de grande importância como a nacionalização da CUF, Setenave, Covina, Pirites Alentejanas, Petroquímica, Amoníaco Português, Nitratos de Portugal e dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo. Além da criação do serviço médico à periferia, do crédito agrícola de emergência às unidades colectivas de produção, reforma agrária, evidentemente, etc., etc.
Portanto, Senhor General, não foi avisado nem teve o mínimo indício de que era um Governo de passagem?
Não. Contudo, tinha clara consciência de que a situação era instável. Era um momento de acesa luta política, económica e social. E os ministros aceitaram integrar o Governo, como lhe disse, porque eram revolucionários. Se tivessem outra mentalidade, tinham-se vindo embora.
Vasco Lourenço, por exemplo, diz que Costa Gomes lhe declarou que era para dois meses.
Não sei, a isso só o general Costa Gomes poderia responder.
E o próprio Costa Gomes afirmou que alguns dos ministros que constituíram o Quinto Governo sabiam que ia ser um Executivo com vida curta e, mais, aceitaram integrá-lo na condição precisamente de ser de passagem, transitório, até à formação do Sexto Governo. Nomeadamente, ele refere os nomes de Mário Ruivo, Mário Murteira e Joaquim Fragoso, que só aceitaram nessa condição. O Senhor General confirma essas afirmações?
Bem, acredito que assim foi porque Costa Gomes o afirmou. No entanto, essa situação é do meu total desconhecimento. Eu só tive conhecimento de o Quinto Governo ser de passagem no dia da tomada de posse. É claro que havia, como disse, a incerteza de qual seria o futuro desse Governo, dada a situação que estávamos a viver.
Nem puseram isso como condição para integrar a equipa do governo?
De maneira alguma. Nada disso, nunca me puseram essa questão. Devo dizer-lhe que os ministros que referiu se empenharam francamente no trabalho do Governo.
Leia "Noves Fora Nada" de Francisco Martins Rodrigues
| Inclusão | 04/04/2019 |
| Última alteração | 05/04/2019 |